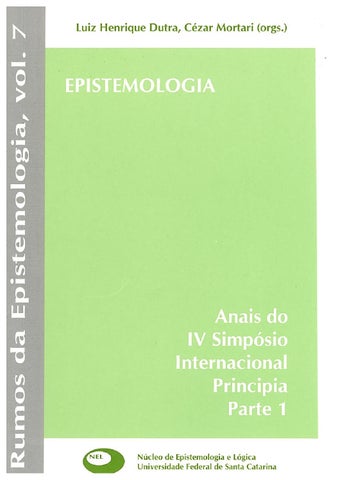Epistetnologia
Anais do IV Simpรณsio Internacional Principia Parte 1
โ ข
Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC Lúcio José Botclho, reitor Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gradua.yao Valdir Soldi, pró-reitor NEL- Núcleo de Epistemología e Lógica Gustavo Caponi, coordenador
RUMOS DA EPISTEMOLOGIA, VOL 7
Luiz Henrique de A. Dutra Cézar A. Mortari (orgs.)
Epistemologia
Anais do IV Simpósio Internacional Principia Parte 1
NEL -Núcleo de Epistemologia e Lógica Univcrsidadc Federal de Santa Catarina Florianópolis, 2005
© 2005, NEL - Núcleo de Epistemología e Lógica, UFSC. ISBN: 85-87253-08-5 UFSC, Centro de Filosofía e Ciencias Humanas, NEL. Cx. Postal476, 88010-970 Florianópolis, SC (48) 3331.8811 , fax: 3331.9751 nel@cfh.ufsc.br http://www.cfh. ufsc. brl- nel
Esta publi ca~ao foi realizada com recursos da FAPESC - F undade Amparo a Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina. ~ao
Ficha Catalográfica (Cata l oga~ao
S612a
na fontc fcita na DECTI da Biblioteca da UFSC)
Simpósio Internacional Pri ncipia (4.: 2005: Florianópolis. SC) Epistemología : anais do IV Simpósio lntcmacional Principia : parte 1 f Luiz Hcnrique de A. Dutra. Cézar A. Monari. orgs. Florianópolis : UFSC. NEL. 2005. 303p. (Rumos da epistemología : v. 7) lnclui bibliogralia. l. Epistemologia. 2. Tcoria do conhccimcnto. l. Dutra. Luiz Hcnriquc de Araújo. 11. Monari. Cézar Augusto. 111. Univcrsidadc Federal de Santa Catnrina . Núcleo de Epistemología e Lógica. IV. Titulo CDU: 165
Reservados todos os dírcitos de reproduyao total ou parcial por NEL - Núcleo de Epistemología e Lógica, UFSC lmpresso no Brasil
Apresenta~ao
Os textos reunidos neste vo lume sao parte dos trabalhos apresentados no IV Simpósio lntemacional Principia, realizado em Florianópolis, de 8 a 11 de agosto de 2005, organizado pelo NEL - Núcleo de Epistemología e Lógica e pelo NECL - Núcleo de Estudos sobre Conhecimento e Linguagem, da Universidade Federal de Santa Catarina. O evento eontou com apoio financeiro das agencias de fomento FINEP, CAPES, CNPq, FAPESC E FAPESP. Contou também com apoio das Pró-reitorias de Cultura e Extensao e de Apoio a Pós-Gradua~ao , da UFSC, do Programa de Pós-gradua~ao em Filosofia e do Depattamento de Filosofia desta mesma universidade. O tema principal do encontro foi a filosofi a de Donald Davidson. Diversos dos trabalhos específicamente a este respeito foram publicados no volumc 9 da revista Principia. Este volume reúne alguns desses trabalhos, além de outros que nao tratam diretamente da filosofia de Davidson, mas cuja temática está relacionada com os assuntos que ele discutiu. O grande número de textos enviados para publicayao nos levou a fazer uma divisao em dais volumes. Neste, estao reunidos os textos de epistemologia e das áreas afins, tais como: filosofia da ciencia, filosofia da linguagem, lógica e filosofia da mente. Os textos de ética e filosofia moral ou política csHio publicados na segunda parte dos anais, no volume 8 desta mesma co le~ao. Além das agencias financiadoras e instituiyoes acima mencionadas, os organizadores deste volume e o editor desta cole¡yao gostariam de agradecer as contribuiyoes dos diversos autores dos textos aquí reunidos e a atuayao da equipe de apoio do evento, cujo trabalho inestimável tomou possível nao só sua rea liza~ao, mas também esta publiea~ao. Por fim , agradecemos a F APESC - Funda~ao de Amparo a Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina, que financiou esta publica~ao.
Florianópolis, novembro de 2005.
cole.;ao
RUMOS DA EPISTEMOLOGIA
Editor: Luiz Henrique de A. Dutra Conselho Editorial: Alberto O. Cupani, Cézar A. Mortari, Décio Krause, Gustavo A. Caponi, José A. Angotti, Luiz Henrique de A. Dutra, Marco A. Frangiotti, Sara Albieri.
N úcleo de Epistemología e Lógica Universidade Federal de Santa Catarina
Criado pela portaría 480/PRPG/96, de 2 de outubro de 1996, o NEL tem por objetivo integrar grupos de pesquisa nos campos da lógica, teoria do conhecimento, filosofía da ciencia, história da ciencia, e outras áreas afins, na própria UFSC ou de outras universidades. Um primeiro resultado expressivo de sua atua~iio é a revista Principia, que iniciou em julho de 1997 e já tem nove volumes publicados, possuindo corpo editorial intemacional. Principia aceita artigos inéditos, além de resenhas e notas, sobre temas de epistemología e filosofia da ciencia, em portugues, espanhol, frances e ingles. A Cole~ao Rumos da Epistemología é publicada desde 1999, e aceita textos inéditos, coletaneas e monografias, nas mesmas línguas acima mencionadas.
Sumário Alberto O. Cupani
9
A ciencia como prática Ale~andre
Meyer Luz
21
E o premio da virtude o conhecimento: Linda Zagzebski e uma teoria aretéica das virtudes intelectuais Araceli R. S. Velloso
47
Dois caminhos que /evam ao holismo "moderado" de Quine Carlos D. C. Tourinho
67
O problema da intencionalidade: da idéia de 'objetividade imanente' na filosofia de Franz Bren/ano ao desafio da parte V das Jnvestiga96es Lógicas de Edmund Husserl Celso R. Braida
79
Para uma crítica da semántica inferencia! Flávio M. de O. Zimmermann
123
O círculo cartesiano Giovanni Queiroz
145
Sobre o conceito de superveniencia em Davidson Jorge Alberto Molina
169
Identidad y prueba geométrica Marco António Sousa Alves
Habermas critico de Davidson: hermenéutica x objetivismo
191
Ma ria Cristina T . Sparano
213
lrracionalidade: enigma da racionalidade Maria Cristina T. Sparano E duardo Viccnzi Sílvia Maria Monteiro Patrícia Pereh·a
227
Naturalismo e construc;ao da verdade Rcgina A. Rebollo
241
A estrutura lógica do diagnóstico hipocrático Renato Nun es Bittcncourt
249
A natureza da linguagem nafilosojia de Nietzsche e suas convergéncias como nominalismo Rodrigo Borgcs
267
O problema do regresso epistémico reconsiderado Samuel Simon
Descoberta ejustijicac;ao
289
A ciencia como prática Alberto O. Cupani Universidade Federal de Santa Catarina
Em seus livros Conhecimento e Poder (Knowledge and Power, 1987) e Engaging Science (1996), o filósofo americano Joseph Rouse faz objeto da sua reflexao o fenómeno, aparentemente óbvio, da aplicac;ao em grande escala da ciencia, da transformac;ao social daí derivada e do entusiasmo com que ela foi aceita. Os filósofos da ciencia - argumenta Rouse - nao tem percebido que aquele fenómeno induz a revisar a concepc;ao tradicional da ciencia como essencialmente teórica, como urna representa<;cio do real, e sugere a conveniencia de concebela antes como urna prática específica. Ao mesmo tempo, a aplicac;ao bem sucedida e crescente da ciencia abriga a reconsiderar a noc;ao de poder vinculada ao conhecimento. Com efeito, o poder tem sido visto semprc como um fator extrínseco ao conhecimento, no sentido de que, embora o conhecimento permita o poder ou pennita que dele nos libertemos, e o poder possa impedir o distorcer o coohecimento, o poder nao pode por si mesmo justificar o conhecimento. Rouse acredita que o poder, enguanto capacidade de domínio, é mais inerente a aquisic;ao do saber científico do que a concepc;ao tradicional supoe. Para mostrá-lo, Rouse apela para certas correntes filosóficas atuais que destacam o caráter prático da ciencia, inclusive das teorías. A própria doutrina de Kuhn é passível - para Rouse - de urna leitl1l·a em que a ciencia é antes um campo de práticas do que uma rede de enunciados. Aceitar um paradigma equivalería a aprender um conjunto de habilidades, principalmente tratar situac;oes novas como as "exemplarcs"; deparar-se com uma "anomalía" significaría detectar que algo Dutra. L. 11. de A. e l'vlortari. C. A. (orgs.). :!005. Epistemología: A11ai.\' do IV Simpósiolmemacio•wf. Pri11cipia - {'(ll't<' l. Florianóp()lis: NELIU FSC. pp. 9- 20.
10
Alberto O. Cupaui
nao "encaixa" bem no modo de agir costumeiro; e as mudans;as de paradigma scriam passagens a novos modos de vida, nao apenas a novas cren¡yas. Autores posteriores a Kuhn teriam contudo evidenciado mais o caráter prático da ciencia. Por um lado, os neopragmatistas (do tipo Rorty e Bernstein), o fariam ao frisar que a prática da pesquisa é a fonte de todo critério e paddio científicos. Por outro, os autores que Rouse denomina "neoempiristas" (como Hacking, Hesse e Cartwright), deslocam o "lugar" do conhecimento, da representa¡yao para a manipular;ao do real. A ciencia tem aspectos técnicos essenciais: a investiga¡yao se a1ticula conforme habilidades e um know how prático que constrói e estabiliza fenómenos , capacitando o cientista para intervir e manipulá-los de urna maneira informativa. O laboratório, e nao o observatório, é o símbolo da ciencia "O poder- comenta Rouse - tornase a marca do conhecimento." E se é questionável que a ciencia represente o real (basta lembrar o famoso livro de Rorty A Filosofia e o Espelho da Natureza), pouca dúvida cabe de que a ciencia aumenta a nossa capacidade de lidar como real. Nao obstante, nao deveria entender-se que esse " lidar com a realidade" seja urna sorte de "tatear" cegamente. Resgatando de urna forma original a doutrina heide&geriana de Ser e Tempo, Rouse nos pede para advertir que toda prática implica um "ver em tomo" (Umsicht) nao contemplativo, porém eficaz, scm o qua! a prátíca nao seria o que ela é: a apreensao de possibilidades e assim, a compreensao do nosso serno-mundo. Com outras palavras: a prátiea, incluida a prática científica, é interpretativa. Além disso, a compreensao inerente a prática é sempre local, vinculada a circunstancias concretas e a uma dada tradi¡yao interpretativa. Como resultado desta abordagem, ternos urna conceps:ao da atividade científica como uma exploras:ao do mundo, influenciada tanto pelo interesse prático e as habilidades como pela teoría, cxercida em situas:oes particulares e rcinterpretada permanentemente pelos seus agentes. Contrastando com a visao tradicional da ciencia, que destaca o papel da teoria como representas:ao geral de um dominio de obj etos, sendo-lhe acidentais "o Local da pesquisa, a constru¡yao experimental,
A Ciénci(l como Prálic(l
11
as facilidades técnicas, a rede particular de rela¡yoes sociais e as dificuldades práticas" (p. 71 ), a nova concep¡yao defendida por Reuse salicnta o caráter local e prático do conhecimento científico. As teorías, antes que esquemas conceituais, constituem modelos ou conjuntos de modelos que podem ser estendidos por analogía. Elas sao usadas mais do que aplicadas ou testa das. Os problemas ou assuntos de pesquisa nem sempre resultam de dificuldades teóricas; também surgem de oportunidades oferccidas pelos recursos existentes. Os critérios para avaliar a adequa¡yao dos resultados dependem dos usos que se queira dar aos mesmos, e o que conta como uma reivindica¡yao científica justificada depende em parte da compreensao prático-local em que as oportunidades se manifestam. Em resumo: ... a pesquisa científica é uma atividade circunspectiva, que tem Jugar contra um pano de fundo de habilidades, práticas e equipamentos (incluindo modelos teóricos), mais do que de um pano de fundo sistemático de teorías ( 1987: 95-6).
Esta nova visao da atividade científica exige, naturalmente, mna reconsideras;ao da relas;ao entre teoría e experimento. Apoiando-se em idéias de Kuhn e de Hacking, Reuse frisa que os experimentos criam "fenómenos" (no sentido de regularidades manifestas), que sao discemíveis e repetíveis em circunsHincias apropriadas, mediante determinadas tecnologías. Os experimentos sao destarte claros ( em contraste com a complexidade e confusao da experiencia comum) e confiáveis. A experimentas;ao {vale dizer; a tecnología que a possibilita) permite-nos introduzir urna ordem manifesta cada vez maior no mundo. Vale notar que os experimentos amiúde tomam um rumo próprio, explorando áreas ainda nao teoricamente articuladas, o que indica que o experimentador tem sua própria maneira de captar as possibilidades das suas técnicas e aparelhos. Junto com a experimentac;:ao, merece reconsiderac;:ao o laboratório, cost11meiramente entendido como lugar de teste de teorías. Reuse propoe ve-lo antes como local de fabrica¡yao de "micro-mundos fenome-
12
Alberto O. Cupani
nicos," sistemas de objetos e eventos construidos sob co ndi~ocs conhccidas e isolados de Olttras influencias, de modo a serem manipulados e a que seja possívcl seguir seu curso. As vezes, introduzimos ncsscs micro-mundos objetos já conhecidos para estudá-los cm condi~ocs controladas; outras, o micro-mundo é um sistema que cstudamos como base de comparas:oes ou para introduzir um efeito em outros sistemas. Cabe destacar que "seguir o curso" de um experimento nao se rcduz a observar os seus resultados: trata-se de um monitorar (com "atcn~ao circunspecta") todo o percurso do experimento, cu idando que as coisas funcionem bem. Implica em identificar e classificar seus componentes, bem como registrá-los. Os micro-mundos, eventos ordenados, constituem a contrapartida instrumental dos modelos teóricos. Quanto a rcprodu~ao dos experimentos, essencial para a corroboras;ao do conhecimento, responde a idiossincrasias locais que fazem com que e la nunca possa ser mecanica. Além do mais - observa Rousc - , os cientistas deliberadamente desenvolvem modifica~oes e abordagens alternativas: existe urna "lógica situacional" da a~ao de laboratório. Cabe ainda advertir que os laboratórios nao consistem no seu lugar físico, mas no contexto de cquipamentos e a redc de relas;oes humanas que torna possívcl a sua atividade específica. Por último, Rouse indica a existencia de "alinhamentos epistemicos," isto é, seqüencias organizadas de elementos (incluindo sujeitos), adaptados, estendidos, destocados, cte., para conseguir determinado efeito infomlativo ( 1996: 185). Esses alinhamentos ou "configuras:oes de práticas" (que já foram mencionados por Fleck 1935) sao análogos aos alinhamentos sociais que permitem a circula<;ao do poder. O saber científico é, de ac01·do com esta perspectiva de análisc, conhecimcnto local, encamado em práticas que nao sao completamente abstraídas cm teorías e rcgras, produzido mediante habi lidades (incluindo as de trabalhar cm equipe) exercidas segundo as oportunidades. A aparente transcendencia do conhecimento científico (a sua "univcrsalidade") explica-se por uma padroniza{:cio dos procedimentos, resultados, ferra mentas e até problemas (análoga a padroni za~ao de qualquer produto humano). Dcssa maneira, a referencia local dos elemen-
A Cié11cia como Prático
13
tos da prática científica torna-se indefinida ( 1987: 118). As teorías, cm pat1icular, dcvem ser vistas como estratégias para liclar com os fenómenos, ou como políticas de a9ao, em vez ele credos ou sistemas de enunciados. Os padroes, por sua vez, nao constituem critérios abstratos, mas nonnas continuamente negociadas, quanto a sua adcquada aplicat;:ao, entre os cientistas. Isso significa que os padroes sao também situados e dinamicos: corrcspondem ao que é ou será aceito como contribuit;:ao a um determinado projeto (compartilhado) de pesquisa, e nao como contribuit;:ao a uma colet;:ao de enunciados impessoalmente conoborados (p. 122). Se as considerat;:oes anteriores sugcrem uma imagcm da racionalidade científica marcada pelas circunstancias, as oportunidades e os acidentes, há de se mencionar também que o trabalho no laboratório disciplina essa racionalidade ao disciplinar a conduta dos c icntistas (p. 237). Junto com a padronizat;:ao, a discipl ina introduz um elemento de regularidade que impede que o raciocinio científico seja puramente circunstancial. De resto, o conhecimento nao existe, para Rouse, como um "conteúdo" ou um "estado cognitivo," mas como urna "situat;:ao no mundo" (1996: 187), que existe enguanto circula, na sua contínua reprodut;:ao, enfrentando resistencias, conflitos e desvíos (e por isso, as práticas científicas incluem sempre re lat;:oes de poder) (ibid., p. 192). Como já foi adiantado, esta concept;:ao eminentemente prática da atividade científica visa salientar a present;:a inerente do poder dentro dela. Esse poder nao eleve ser mais pensado como algo "possuído" por determinados agentes (individuos ou grupos), senao (seguindo Foucault), como algo que "circula," ou que vincula os agentes e as suas atividades. As relat;:oes de poder, no duplo sentido de capacidadc e domínio, sao as relat¡:oes que possibilitam o controle técnico da natureza que é para nosso autor a razao de ser da ciencia modema. E a tecnologí a, cm vez de ser entendida como aplicat;:ao posterior e extrínseca do saber previamente adquirido, dcve ser perccbida como a prolongat;:ao do fazer próprio do experimento, em que precisamos a lterar o mundo para que o experimento "funcione" (conforme a tese de B. La-
14
t flberro O. Cupani
tour). As práticas de laboratório sao de resto para Rouse a base da compreensao do mundo em termos de "recursos" (p. 242). Na concepyao de Rousc, pot1anto, a atividade científica é uma forma de des-velamento prático do mundo. Uma fom1a específica caracterizada pela inten9ao de dominio, e que tem sua contrapartida na visao da natureza como objeto inerte, nao comunicativo, submetido aos nossos fins. E a ciencia é política, no sentido de que a sua prática transforma nosso campo de possível ayao. Senda o " mundo" scmpre um "campo de atividades," a ciencia muda o mundo. Nao apenas o mundo material, considerando que influencia nossos modos de pensar e agir, particulannente definindo o que é " nonnal" (187:23 1 ss). E a sua influencia se faz sentir na configura9ao das práticas dentro das quais acorre a política stricto.sensu
* A análise que Rouse ofercce da ativid ade científica é original, embora possamos situá-la muna linha de interesse pela prática científica a que contribuíram Flcck ( 1935), Polanyi (1958) e Ravetz ( 1971 ), cada um deles a seu modo. A sua originalidade deriva, acredito, mais da maneira como articula diversas fontes de inspirayao que da proposta de teses completamente novas. A cnfase na relevancia da prática, nao como mero complemento o suporte da teoria, mas como modo de ser - por assim dizer - da ciencia, é em princípio promissora de urna melhor compr~ensao dcsta última, especialmente contra uma possívcl supervaloriza9ao da tcoria na filosofia e história da ciencia tradicionais. Particulannente valioso parece-me o resgate do "olhar em torno" prático (a diferenya da "contemp layao") como a fotma cm que o saber relativo ao mundo busca os seus caminhos, instmmentos e sobre tuda, suas oportunidades. Esse "olhar em torno" é aliado (ou faz parte) do "sa~er tácito" salientado por Polanyi como essencial a ciencia .. É também interessante a maneira como Rouse explica a transcendencia do conhecimcnto científico por rela9ao as suas condiyoes sem-
A Ciimcia como Prárica
15
pre particulares e locais de produ.yao, destacando o papel de uma padronizavao que toma as reivindica.yocs de conhecimento aplicáveis fora do contexto originário, implicando novas interpreta.yoes para tomálas accssívei s aos nao especialistas. Essa explica.yao da transcendencia é importante por ajudar a evitar uma concep.yao talvez demasiado objetivista do saber científico como posse comum dos seres humanos (a mane ira do "mundo tres" popperiano). Nao menos importante julgo o fato de que a enfase na prática, e no caráter obviamente social da mesma, nao conduza Rouse a afirmar ou insinuar que os objetos de conhecimento científico sao pura construvao da atividade científica. Essa impressao é provocada freqüentcmente pelas análises sociológicas da ciencia. Para Rouse, pelo contrário, a prática científica é uma específica maneira de permitir que o mundo se nos " revele" ( 1996: 186). Embora crítico do realismo científico (em sua versao representacional), Rouse rejeita também o instrumcntalismo, questionando (desde seus supostos heideggerianos e pragmatistas) a validadc do problema do "accsso ao mundo" no esforvo de conhecimento. " O mundo é aquilo com que estamos [sempre] implicados," argumenta Rouse (1987: 143). A ciencia ocupa-se do que é, mais isso é, para ela, o resultado das suas práticas (nao de uma "confronta9ao" de teorías e observav5es, entendidas como entidades diferentes). Junto com a idéia de representa.yao, cai também a necessidadc de sustentar a novao de verdadc como conespondencia. A validade prática dos resultados da pesquisa é traduzida cm termos de ''verdade" pela confoqnidade com os padroes da comunidade científica. O julgamcpto desta última define o que tem significado para ser verdadeiro ou falso (p. 124), de modo que para Rouse basta uma noc;:ao semantica (a la Tarski), nao epistemológica, da verdade das teorías (p. 147). Particular originalidade alcanva Rouse ao examinar o conceito de comunidade científica, questionando a sua coercncia em termos de um "paradigma." Sem descartar, é claro, a posse de elementos comuns, Rouse destaca o papel da reconstnu;:iío narrativa da prática científica ( 1996:169 ss). Essa reconstruvao nao seria apenas posterior (v. gr. , na forma de História da Ciencia), mas inerentc a prática científica. As
16
A Iberio O. Cuptmi
nanativas scriam o vcrdadciro patrimonio comum aos cientistas de um campo. A intcrprctas:ao que cada um faz do campo, do seu passado e futuro tem que ser compatibilizada com a dos outros, o que equilibraría a tendencia dispersiva da atividade individual Por último- but not leas!- cabe destacar o csfors:o que faz Rouse para compreender a cumplicidadc entre saber e poder, entre ciencia e política, como algo cuja genese podemos remontar ao próprio processo de obtenc;ao do saber, aparentemente isento de intenc;:oes de dominio. A combinas;ao dos pontos d e vista de autores como Hacking, Cartwright e Foucalt !he permite propor a existencia de urna continuidade entre a forma de intcrvenc;:ao na rcalidade própria da ciencia experimental, a transformac;ao do mundo própria da tecnología e o controle próprio da autoridadc política. O "fechamento" [closure] das situac;oes, a padronizas;ao ("normalizac;ao") das atividades, a disciplina dos sujeitos e o "alinhamcnto" [alignment] dos agentes e recursos scriam aspectos comuns ao mundo da ciencia e á socicdade extracicntífica , e explicariam a facilidade com que a ciencia serve a política.
* Se as idéias de Rouse cstimulam urna nova maneira de refletir filosoficamente sobre a ciencia, elas nao estao isentas de dificuldades. Comento na seqüencia as que resultam mais evidentes. Poder-se-ia perguntar, por exemplo, se a imagem da prática científica com que o autqr trabalha nao está demasiado limitada as ciencias que Hacking denomina "de laboratório." a diferenc;:a das ciencias meramente experimentais. As primeiras sao as disciplinas que produzem "fenómenos" que nao ocorrem naturalmente, como a Física ou a Fisiología; as segundas limitam-se á clássica manipulas:ao de variáveis no sentido tradicional de "experimento., (como a Psicología ou a Botanica) (Hacking 1992: 33ss). Se essa distinc;ao faz sentido- e eu acho que o faz - boa parte das conclusoes de Rousc, especialmente as relativas a conexao entre saber e poder, ficam amca<;adas, ou pelo menos
' ' Cic11cia como Prárica
17
necessitadas de uma re intcrprcta~ao para que scjam válidas nos casos de ciencias nao cxpcrimcntais. Também o conccito de poder com que Rousc trabalha é discutivel. Evidentemente, ele se empcnba em "des-reificar" a nos;ao de poder, que nao consiste em "algo" que possa ser "possuído" ou "usado," mas na caracterizas:ao de uma organiza~ao de práticas que permite a eficiencia ou eficácia de uma prática determinada. A no~ao de poder aqui usada oscila entre (ou compreendc) as nos:oes de capacidade e de dominio, como foi já mencio nado. Sobre essa ambigüidade repousa, parece-me, boa parte da man eira como Rouse mostra o poder como algo que se exerce e circula sem ter realidade substancial. Em todo caso, cabe perguntar-se se da constatavao de que o modo de proceder da ciencia experimental (que na análise de Rouse pode sintetizar-se como um "dominar o ambiente para tornar informativo") que se prolonga na tecnología (dominio aberto do mundo), pode concluir-se que "a ciencia é política," sem que isso signifique a introdus:ao de um conceito artificial, ad hoc, de política. De maneira análoga, nao resulta convincente a afirmas:ao de que "natureza" seja um conceito político (1987: 188) . Também o conceito de "conhecimento" com que Rouse opera é questionável. Devido a adotar a perspectiva heideggeriana de análise e a correspondente nos:ao de "ser-no-mundo," Rousc rcjeita a nos:ao do conhecimento como algo que um sujeito "possui ," substituindo-a pela nos:ao ele "mna caracterizas:ao da situa~ao em que os conhccedores se encontram" ( 1996: 133). Desde a perspectiva dos agentes, a cogni~ao nao consistiría cm adquirir, elaborar, rcjeitar, etc., um determinado "conteúdo," mas no estar inserido em urna seqüéncia e recte de práticas informativas, continuamente refeitas. Reciprocamente, o conhecimento como produto social tampouco consistiria em algo objetivo (um sistema de enunciados, v. gr.), nao configuraria um dominio autónomo. Rouse propoe substituir a nos:ao da existencia de " algo" denominado "conhecimcnto" (ou no caso, "conhccimento científico"), que seria o "suporte" das práticas de pesquisa e crítica , pelo reconhecimento de que o que chamamos conbecimento existe apenas eme pelas
1
18
Alberto O. Cuptmi
práticas mencionadas (Rouse denomina esta concepc;ao conceito " deflacionário" do con hec imento) (1996 : J99). As práticas informativas (porque disso se trata) nao tem limites naturais, nem - por conseqüencia - permitcm nem requcrcm um conceito (explicativo) do "conhecimento. " Para Rouse, todas as dificuldades que suscitam o debate entre realistas, historicistas, empiristas e construtivistas sociais, derivam de que nao se abandona, junto com o realismo, a idéia de que o conbecimento deva ser representativo e a pretensao de justificá-lo in tolo. Essa pretensao conseguiría ser abandonada com sua proposta de re-situar o conhecimento nas práticas. Essa concepc;ao do conhecimento tcm sido criticada por M. Luntley (1997), quem assinala urna falta de definic;ao de "prática" que permita fazer jus ao aspecto propriamente epistemológico da prática científica. Rouse trata indiscriminadamente todos os modos de "prática," o que lhe facilita faJar dos "alinhamentos" que tomam "significativa" uma determinada prática (por ex., a proposta de uma teoría), a través da superatyao de obstáculos e desvíos (c<?nstituídos por outras prátieas de variado tipo). Ora, essa descric;ao deixa sem explicar por que sao espeeificamente " infom1ativas" certas práticas (e outras, nao), principalmente, porque nao define o que seja a "signifieatyao" em causa, e sobre tudo, passa por cima da diferenc;a entre a correc;ao ou incorrec;ao epistemicas de uma crenc;a, e a sua aceitac;ao social. Para Luntley, renunciar a uma concepc;ao representacional da verdade e ao realismo metafisico (como o faz Rouse), bem como a tentativa de justificar o conhecimento in loto, nao equivale a abandonar toda e qualquer pretcnsao de justificar as crenc;as, mesmo que as concebamos como práticas e nao como rcpresentac;:oes. Em palavras de Luntley: A tarefa de legitimayao sobrevive na medida em que se tem um modelo da cren9a científica que aceita a idéia de que o requerimento mais básico a uma cren9a é que ela seja verdadeira ( 1997: 366)
O conteúdo da prática cognitiva pode ser verdadeiro ou falso (epistcmicamente coneto ou incorreto), e nao apenas dependcntc de tais ou
A Ciéncia como Pdl/ica
19
quais fatores sociais. Nao precisamos para concebe-lo assim admitir um conceito metafísico da vcrdade. Basta cndossar o conceito scmantico da mesma (no que Luntley denomina um "simples realismo" [plain realism]) . Com outras palavras, é esscncial para ele reconheccr a nos;ao de crens;a errada , "uma crcns;a a resistencia a qual é independentc da vontade" (ib., p. 367), a diferenc;a das resistencias de outra natureza que podemos vencer individual ou coletivamente. Este seria, portanto, o ponto fraco da proposta de Rouse: a rigor, ele nao desenvolve "um conceito cognitivo da prática" (p. 369). No entanto, Luntley considera fecundo o ponto de vista de Rouse, pois sugere a possibilidade de apreciar o aspecto nao teoricamente articulável da atividade científica, a condic;ao ele perccber que crens;as práticas podem ser todavía legitimadas, isto é, indagadas quanto a sua correc;ao epistemica. Coincido com Luntley, e atribuo as teses de Rouse um valor sobre tudo heurístico, no que diz respeito a encontrar um enfoque intermediário - e por isso, mais adequado - em Filosofía da Ciencia entre a concep<;ao tradicional que sublinhava talvez excessivamente o aspecto proposicional-representativo do conhecimento científico, e a tendencia atual a dissolver a especificidade da ciencia em virtude de .sua dependencia do contexto social.
Referencias bibliográficas Flcck, L. 1986. La Génesis y el desarrollo de un hecho científico (orig. 1935: Entstehung und Entwicklung einer Wissenschaftlichen Tatsache). Madri: Alianza Hacking, J. 1992. "The Sclf-Yindication of the Laborat01y Sciences." In A. Pickering, ed. Science as Practice and Culture. ChicagoLondres: The University of Chicago Press, pp. 29-64 Luntley, M. 1997. "A Engaging Practicc?" lnquiJy 40: 357-74 Polanyi, M . 1983 [ 1958]. Personal Knowledge. Londres: Routledge & Kegan Paul.
20
Alberro O. Cupani
Ravctz, J. 1971. Scientific Knowledge and lts Social Problems. Oxford: Clarendon Press. Rouse, J. 1994 [ 1987]. Know/edge and Power. Towards a Política/ Phílosophy of Science. Ithaca e Londres: Comell University Press Rouse, J. 1996. Engagíng Science. lthaca e Londres: Comell University Press Alberto O. Cupani Departamento de Filosofia Universidade Federal de Santa Catarina e-mail: cupani@cfh.ufsc.br
É o premio da virtude o conhecimento? Linda Zagzebski e urna teoria aretéica das virtudes intelectuais Alexandre Meyer Luz Universidade Federal de Sergipe
l. Introdu~ao
Linda Zagzebski, em seu Virtues of The Mind - An /nquily into the Nature of Virtue and the Ethica/ Foundations of Knowledge, 1 propoe um ambicioso redirecionamento do debate epistemológico, sugerindo que alguns dos príncipais problemas da epistemología contemporanea podem ser resolvidos por urna teoría "pura" das virtudes intelectuais, ou seja, urna teoría epistemológica elaborada a partir do modelo da ética aretéica aristotélica. Na ética moderna o objeto de avalias;ao tem sido, tradicionalmente, o ato; na epistemología, as crens;as. Os epistemólogos tcm discutido sobre cren9as "justificadas," "garantidas," "bem-fuQdadas" e assim por diante, e tem divergido sobre o caráter das crens;as que cfetivamente merecem taís títulos. Como é sabido, há duas respostas recorrcntcs na literatura contemporanea para a questiio das propriedades desejadas para crens;as (assim como há duas espécies de rcspostas para a questao sobre o que toma urna as;ao correta): a primeira delas se preocupa com a taxa de produyao de verdades, e é análoga ao conseqüencialismo ético; a segunda se preocupa com o que é permissível, do ponto de vista epistemológico, ou seja, preocupa-se com coisas como violas;ao de regras e cumprimento de deveres e, por isso, ZagDulra. L. H. de A. e Mortari. C. A. (orgs.). 2005. Epistemolugia: Anais do 11' Simpósio /mema· ciumrl. Principia- Parte l. Florianópolis: NEUUFSC. pp. 21-46.
22
tllexcmdre M. Lu:
zcbskí classifica as teorias que se preocupam com tais questoes num grupo correlacionado ao dcontologísmo ético. É inelevante, para nossos objetivos neste ensaio, investigar a correvao desta classificavao2• Mas é relevante percebennos que os dois grupos ("deontologismos" e "consequencialismos") sao compostos por teorías baseadas-emcrcnva, cstruturalmente simi lares as teorías éticas baseadas-cm-ato. Nestc sentido, a proposta zagzebskiana é, segundo a sua própria avaliavao, original: em substítuíc;:ao a qualídades de cren9as (a verdade ou a justíficavao) como primeíro objeto de avaliac;:ao, sua teoría das virtudes se ocupará primeiramente de características [traits] internas das pessoas. Os confiabi listas, por exemplo, tem se ocupado disto, alguém podería lembrar; os confiabilístas tcm se preocupado com características internas dos indivíduos, tendo, inclusive, como vimos, nomeado algumas destas características como "virtudes." Os confiabilístas nao se ocupam, porém, primeiramente de virtudes. Uma vi1tude, segundo a proposta confiabilista, é definida, antes, em te1mos de sua condutividade-a-verdade. Zagzebskí propoe algo bcm distinto disto: "uma teoría que trate a avaliavao como algo derivado do caráter do agentc." 3 Ou seja, assim como no debate ético ternos nas teorías da virtude uma alterna ti va ao consequencialismo e ao deontologismo (que tem como objeto primário de avaliavao os atos), teríamos, no debate epistemológico, uma alternativa aos modelos que tem na crenc;:a seu objeto primário de avaliac;:ao (as teorías internalistas e externalistas da justificavao e as teorías do conhecimento .destas derivadas). Quais, porém, as vantagens desta mudanc;:a de orientavao? Elas nao seriam poucas: prímeiramente, sustenta Zagzebski, conceitos areteicos "tem a vantagem de maior riqueza'"'; por exemplo, a reac;:ao das pessoas comuns a impropriedade epistemica nao consiste apenas em clizer que a crenc;:a de uma pessoa é injustificada, mas em direcionar a avaliac;:ao para a pessoa mesma, denominando-a de [possuir uma] "mente estreita," "descuidado," " intelectualmente covarde," " rasteiro," "desatento," "preconceituoso," "rígido" ou "obtuso" ( ...) . É claro que as crenc;:as formadas como resultado destes defeitos siio
f.: o prémio da vinude o conhecimem o?
23
avaliadas negativament·e, mas quaisquer termos para esta avaliac,:ao negativa, tais como " injustificado" ou " irracional," falham em informar qualquer outra coisa além da avaliac,:ao negativa isolada (...). Conceitos como aqueJes apresentados mais acima tem um conteúdo mais rico. Eles nao sao apenas tennos normativos, avaliando negativamente, mas eles indicam o modo pelo qua! o crente está a agir de modo impróprio. 5
Em segundo lugar, Zagzebski considera que se pretendemos realizar a avaliac;:ao de u m ato (o u crenc;:a) julgando o ato (o u crenc;:a) segundo um conjunto de regras, acabamos por exigir conjuntos de regras mais e mais complexo, chegando, por fim , a conclusao de que nao podemos oferecer um conjunto de regras capaz de permitir a avaliac;:ao de todas as as:oes (crens:as). Ela oferece como exemplo a vittude intelectual da introspecs:ao, lembrando que ela "é uma virtude intelectual que nao é governada por regras, mas difere de modo significativo na forma que toma de uma pessoa para outra, e de urna área do conhecimento para outra."6 Um tratamento baseado na noc;:ao de vittude escaparía de tal problema. Uma terceira vantagem de uma teoría de inspiras:ao aretéicaseria a de que ela é capaz de avaliar mais adequadamente certas qualidades amplamente aceitas como valiosas. A epistemología contemporanea, sustenta Zagzebski, é "impessoal," enquanto "foca sobre valores epistemicos que sao impessoais: o valor que consiste na posse da ver7 dade e o valor da racionalidade e da crent¡:a justificada." Há, porém, ela sustenta, outro "valor epistemico tao importante quanto estes, que é a sabedoria," 8 e este valor nao é impessoal, já que a sabedoria deve ser desenvolvida por cada indivíduo em particular. A sabedoria, entendida como a posse hannonica das diversas vittudes, unifica as proposis:oes conhecidas, unifica suas motivac;:oes e seus valores. Uma virtude integradora, como phronesis (a funs:ao da nos:ao de phronesis na teoría zagzebskiana será discutida posteriormente), nao pode ser analisada em termos de crens:as, já que ela nao é uma qualiclade de crens:as isoladas. Urna pessoa que possui uma virtude integradora "possui atitudes de ordem superior em relac;:ao ao seu próprio
2-1
Ale.umdre M. Luz
caráter e a qualidade das cren~as e o nível de entendimento que seu caráter produz. "9 Por fim, a o permitir uma avaliayao do caráter intelectual (e moral) dos individuos, uma teoria aretéicapermitiria a supcra~ao de uma avaliaryao polarizaclora, colocando a no¡yao ele cren~ajustificada (ou de ato corTeto), de um lado, e a de crenr;a injustificada (ou de ato incorreto ou culpável), do outro. N este sentido, a "ética [e a epistemología) das virtudes permite uma gama mais ampla de níveis de avaliayao e valoriza o fato de que nosso objetivo moral [e epistemico] nao é apenas o de evitar o grau mais baixo da escala de avaliaryiio. " 10 Assim, esta capacidade de fomecer um modelo de avalia¡yao para nossa vida intelectual e moral (e nao apenas para crenryas e atos isolados) pennitirá a superaryao do atomismo que, segundo Zagzebski, caracteriza a epistemolog ía contemporanea, centrado na ava lia¡yao de crenqas. Este atomismo nao nos permitiría perceber, por exemplo, que há problemas subjacentes ao conceito de justificayao que conduziram ao impasse entre internalismo e extemalismo. Ao considerannos a justificac;:iio como uma propriedade de uma crcnya, torna-se muito difícil julgarmos as disputas sobre este conceito se a crenc;:a é tratada como o objeto máximo da avaliac;:ao. Se, ao contrário, nós nos concentramos sobre o conceito mais profundo de virtude intelectual e tratamos a justilicabilidade de uma crenc;:a como algo derivado, podemos descobrir que a justificabilidade é apenas uma dentre outras propriedades nonnativas das crcn9as e que as intuic;:oes competidoras de internalistas e externalistas requere m a análise de mais do que uma propricdade das crenc;as, cada uma das quais está baseada de ·certo 11 modo no conceilo ele virtude.
Pretendemos mostrar que a teoría zagzebskiana, primeiro, nao é bcm sucedida em seu objetivo de superar o impasse entre intcrnalistas e cxtemalistas e, além disso, que a teoría falha em oferecer uma definiryao de conhecimento adequada. Antes, porém, elevemos proceder á reconstru¡yao da teoría.
t
o prémio da virtude o coulrecimeuro?
25
2. A teoría geral da virtude e do vício Atentemos para a definivao de conhecimento sugerida em Virtues of !he Mind: Def: Conhecimento é um estado de cren¡ya verdadeira resultante de atos de virtude intelectual. 12
Como a defini¡yao já indica, a no¡yao de virtude suposta em Virtues of the Mind está ligada, como mostraremos, a novao de sucesso. Nao poderia ser diferente, já que o conceito de conheeimento traz implícita tal novao (manifesta na condi9ao de verdade). Como veremos, urna das vantagens da abordagem Zagzebskiana sobre a confiabilista consiste exatamente na apresenta9ao de urna explicayao da conexao necessária entre virtude e verdade mais sofisticada do que a eonfiabilista, sob um aspecto que será esclarecido posteri01mente. Por outro lado, mostraremos que a conexao entre virtude e verdade nao é levada a cabo de modo apropriado.
2.1. Virtudes Cabe perguntar, agora, como Zagzebski conceberá a no¡yao de virtude. Vamos, seguindo-a, proceder a urna reconstruviio analítica do conceito. Quando falamos de virtudes, utilizando a no¡yao em seu sentido mais popular (que remete a ética nicomaqueica aristotélica) deparamonos com algumas características amplamente aceitas. Em primeiro lugar, por exemplo, parece ser amplamente aceito que uma virtude é uma espécie de excelencia. A excelencia em atingir a vcrdade, diría um confiabilista. A excelencia que nos aproxima da eudaimonia, preferiría um defensor de certa interpreta¡¡:ao da teoría aristotélica. Zagzebski nao segue qualquer das duas propostas. Ela opta, antes, por uma abordagem que interpreta a no¡yao de virtude como baseada-em-
26
Alexandre M. L11:
motivac,:clo [motivation-basedJ. Sua teoría considera que uma virtude é uma excelencia em satisfazcr a motivar;:ao para produzir um detenninado bem, e que este bem nao devc scu valor a qualquer outra coisa mais fundamental. Como Zagzebski reconhece, "a dificuldade para este tipo de teoría [a teoría baseada-cm-motivar;:ao], é claro, é a de tornar plausível a idéia de que cada virtude é boa cm um sentido fundamental, nao14 derivativo,"13 sem depender de qualquer outro bem posterior. Por outro lado, ela se livra da tarefa de sustentar a nos;ao de eudaimonia como um bem fundamental. De qualquer modo, urna teoría baseadaem-motivas;ao terá que mostrar que uma motivar;:ao para uma virtude é um bem. Voltaremos a este ponto na ser;:ao seguinte. Uma segunda característica amplamente aceita quando se fala de virtudes, segundo Zagzebskí, é a de que virtudes sao "estados de espírito" [states of the soul] - expressiio que é "consistente com a prática habitual de excluir da categoría das virtudes as excelencias físicas, apcsar de nao ser completamente despropositado falar de 'virtudes fisicas'" 15 - que sao adquiridos e desenvolvidos por urna pessoa. Este critério - necessário, mas nao suficiente - para a identificar;:ao de algo como virtude tem um adversário bem conhecido: confiabilistas como Ernest Sosa e Alvin Goldman denominam 'virtude' a [acuidades naturais, como boa visiio e boa audir;:ao. O tratamento confiabi lista da nor;:ao de virtude é, pelo menos, incompleto, se considerarmes os pressupostos assumidos por Zagzebski, já que, como vimos, sua teoría tem parte de seu apelo ligado a.idéia de que uma virtude é uma característica profunda de um indivíduo, algo que se identifica com sua personalidade. Zagzebski nao oferece um argumento absolutamente convincente contra o uso confiabilista da nos;ao de virtude, simplesmente apelando para o que considera o uso habitual da nos;ao. Ela oferece, porém, dois critérios para a separar;:ao entre virtudes e faculdades naturais. O primeiro consiste na idéia de que virtude (no sentido que Zagzebski pretende atribuir a nor;:ao) é algo que é adquirido e desenvolvido ao tongo do tempo, enquanto faculdades naturais sao, em grande parte inatas.
27
Este critério é, porém, insuficiente se tomado isoladamente, já que alguém poderia argumentar que faculdades naturais também podem ser desenvolvidas. O segundo critério, entao, baseia-se na idéia de que uma virtude sempre possui um vicio correspondente. 16 Neste sentido, por exemplo, "claustrofobia nao é um vício, e nao apenas porque claustrofobia é involuntária (...). Claustrofobia nao é um vício porque nao há uma virtude conespondente que a pessoa claustrofóbica podería ter desenvolvido em seu lugar." 17 A posse de urna virtude é, devido a possibi lidade do vício, digna de mérito. Faculdades naturais nao conespondem a vício algum e, por isso, nao merecem o mesmo tipo de avaliac;ao.
2.1. 1. Virtudes e
mo tiva~áo
Diferentemente de uma faculdade natural, urna virtude nao deve ser avaliada primariamente por sua efetividade, mas antes por sua capacidade de motivat;cio. Um motivo é uma forya interna e persistente a iniciar e direcionar nossas ac;6es .18 Como Zagzebski bem lembra, motivos podem ser, por exemplo, de caráter fisiológico, como a fome e a sede; mas, parece evidente, também podem ser aplicados a virtudes. Alguém considerado corajoso, por exemplo, é motivado para certas ac;oes que tem por finalidade, por exemplo, proteger algo que, para o individuo virtuoso, está acima de sua própria integridade, dados os riscos implícitos em tais ay6es. Poclemos, entao, ( ... ) definir urna motivac;ao como uma tendencia persistente para ser movido por um motivo de ceno tipo. Eu proponho que mna virtude tem um componente de motivayao que é específico para a virtude em questao. ( ...) Um motivo é uma emoc;ao direcionadora-da-ac;iio. Mesmo que uma emoyao possa ser possuída sem ser sentida, mna pessoa que está inclinada a ter uma emoc;iio a sente de tempos em tempos, e quando ela atua como um motivo, a pessoa deseja atingir certo fim. Este fim pode ser interno ou externo ( ... ) Algumas virtudes podem
28
Afexcmdre M . Lu;:
nao possuir um fim, como a sabedoria, mas tais virtudes nao sao típicas.19
A relevancia destas considcras:oes se revelará plenamente quando avaliarmos a epistemología zagzebskiana. Mas ela já se insinua: é através da idéia de que uma motivat;ao aponta para um fim que Zagzebski tentará uma acomodas;ao daquela intuis;ao implícita a nos;ao de conhecimento, a de que conhecimento está relacionado ao sucesso (a obtcns;ao da verdade). Zagzebski reservará o lugar para o componente de sucesso - fundamental para uma explicas:ao adequada do conceito de conhecimento - através da nos:ao de motivas:ao. Ela considera que urna motivac;:ao virtuosa faz com que o agente procure agir efetivamente ( ... ). A motivayiio para obter conhecimento de urna dada espécie e para agir de certo modo nao conduz confiavelmente para o sucesso, apesar de confiavelmente levar o agente a fazer o máximo ao seu alcance para ser bem-sucedido. 20
A motivas:ao para o sucesso e o sucesso propriamente dito sao, pois, elementos distintos. A motivas;ao para a virtude leva o agente a coordenar sua as;ao, valendo-se, inclusive, de suas habilidades e faculdades naturais. O sucesso da as:ao virtuosamente motivada dependerá, pois, também do grau de confiabilidade das faculdades naturais e das habilidades envolvidas numa dada instancia de as;ao. Investigaremos, mais adiante, como isto se aplica as virtudes intelectuais, nosso objeto d~ investigas:ao. Por ora, podemos encerrar esta primeira ses;ao com uma definis:ao geral de virtude, devidamente esclarecida: Urna virtude pode ser definida como urna excelencia profunda e adquirida de urna pessoa, envolvendo urna motivayao característica para produzir certo fim desejado e sucesso contiável em realizar este fim.Z 1
É o premio da ••irtude o conllecimemo?
29
3. As virtudes intelectuais Como vimos, uma virtude particular pode ser definida, primordialmente, por seu componente motivacional. As virtudes intelectuais podem ser classificadas em um grupo particular enguanto, para todas elas, o componente motivacional está ligado a motivac;:ao geral para o conhecimento ou, de modo mais específico, a "motivac;:ao para obter contato cognitivo coma realidade." 22 A motivac;:ao para o "contato cognitivo com a realidade" aponta para uma conexao com o externalismo em geral e, em particular, com o confiabilismo. Um proeesso confiável é um processo, como vimos, que nos permite, na maiori:a dos casos, contato com a realidade. Esta conexao nao deve, porém, levar a mna aproxima9ao exagerada entre os dois projetos: a noc;:ao zagzebskiana de virtude aponta para algo anterior a posse de processos confiáveis. As motivayoes virtuosas levam o agente a guiar seus processos de forma9ao de cren9a de certas maneiras. Elas o tomam receptivo a processos conhecidos, por sua comunidade epistemica, como sendo condutores a verdade, e o motivam a usá-los, mesmo que isto signifique a supera9ao de uma tendencia contrária. ( .. .)A pesquisa contemporanea em epistemología tem se concentrado extensivamente sobre o conceito um processo de forma~ao de cren~as condutor-a-verdade, assim como em muitos casos específicos destes processos. Eu nao tenho inten9iiO alguma de reproduzir ou substituir este trabalho aquí. Meu propósito é o de mostrar que a motiva9ao para o conhecimento conduz uma pessoa a seguir regras e processos· formadores de cren9as que sao condutores-a-verdade e cuja condutividade-a-verdade ela é capaz de descobrir e usar através da posse de virtude intelectual.23
O excerto acima nos leva a identificayao de um elemento internalista na teoría zagzebskiana: enguanto ela mantém a no9ao de processo confiável, e la subordina tal noyao a uma hierarquicamente superior- a noc;:ao de viitude - que permite acesso, por parte do agente, a confiabilidade do processo formador de crenc;:as (algo que um extemalista dispensaría). Mas voltaremos a este ponto mais adiante.
30
Alextmdre M Lu:
A suposis;ao de que uma virtudc dcvc ser condutora-a-vcrdade traz outras implicacyocs. Yi1tudes como a criatividade e a originalidade, por exemplo, nao sao confiavelmente condutoras-a-verdadc, no sentido habitual, confiabilista, do tenno. A proporcyao de crcncyas falsas produzidas por tais virtudes supera, em muito, a de crens:as verdadeiras. Elas, porém, alega Zagzebski, sao condutoras-a-vcrdade em um outro sentido: elas sao "condicyao necessária para o avancyo do conhecimento cm urna área. " 24 Mas há um ponto ainda mais importante: uma vi1tude intelectual nao precisa ser condutora-a-verdade para uma pessoa em particular, num dado instante particular. Já que virtudes sao adquiridas gradualmente, através do hábito, é possível que um comportamento nao seja condutor-a-vcrdade para alguém, durante certo período de tempo (é possível que, mesmo para alguém já maduro no que d iz respeito ao excrcício de urna virtudc, urna virtudc nao seja condutora-a-verdade por um período). Se aquilo que motiva a acyao, porém, é urna motivacyao virtuosa, o comportamento do agente deverá ser condutor-avcrdade, considerando-se um período de tempo mais amplo. 25 Yirtude é, como vimos, uma nocyiio ligada a nocyao de sucesso. A teoria zagzebskiana, oeste ponto, revela uma vantagem sobre o confiabilismo: o confiabilismo simplesmente nao valora processos que, mesmo confiáveis para outros, nao sao confiáveis para o sujeito da avaliacyao. Isto é um problema se considerarmos que pelo menos parte de nosso aprendizado intelectual consiste na aquisicyao de habilidade.s que, por vezes, só revelam sua confiabilidade após um longo período de tTeinamento. Antes de atingir a maturidadc, mcsmo considerando sua aplicacyao no treinamento, o pupilo nao merece alguma avaliacyiio positiva? Parece-nos que sim. Mas, para o confiabilista, a dcspcito de sua tentativa de imitar seu modelo virtuoso, o aprendiz nao passa de alguém com processos nao-confiáveis de formacyiio de crcncyas. . Esta deficiencia pcrmitiu também que o Novo Problema do Genio Maligno atacasse o confiabilismo. O problema mostrou que é contraintuitivo considerar alguns proccssos como confiáveis para um grupo
É o premio da virtude o co11hecimell/o?
31
de pessoas (as que vivem ern nosso mundo) e- os mesmo processos como nao-confiáveis para Olttras pessoas (as que vivem no mundo manipulado pelo genio maligno). Os dois grupos seriam valorados (considerando que esH\o virtuosamente motivados para a a¡yao) do mesmo modo pela teoría zagzebskiana: os dois grupos agem carretamente (mas o segundo grupo nao realiza atos de virtude - mna no¡yao que será introduzida mais adiante). Um aprendiz nao é virtuoso, mas pode agir, mesmo que esporadicamente, de modo similar ao modo como agem as pessoas virtuosas. Zagzebski reserva tres coneeitos para a avalia¡yao destas a¡yoes: Um ato correto é o que uma pessoa virtuosamente motivada e que tem a compreensao da situas;ao particular que mna pessoa virtuosa teria, poderia fazer em circunstancias scmelhantes. Um ato errado é o que uma pessoa que é virtuosamente motivada e que tem a compreensao da situa¡yao particular que uma pessoa virtuosa teria, nao faria em circunstancias semelhantes. Um dever moral é o que uma pessoa que é virtuosamente motivada e que tem a compreensao da situa¡yao particular que uma pessoa virtuosa teria, faria em circunstancias semelhantes. Estas defini¡yoes serao importantes para nossa exposis:ao porque, como já pode ser imaginado, elas sustentarao a defini¡yao zagzebskiana de justificas:ao, como veremos mais adiante. Antes de tratannos do conceito de justificas:ao, porém, devemos analisar mais ~dequadamen te as definis:oes apresentadas. Há, ali, pelo menos um elemento nao esclarecido; o que significa possuir o "entendimento da situas;ao particular que uma pessoa virtuosa teria"? Zagzebski apresenta uma explicas:ao desta intuis:ao apelando a no¡yao de phronesis.
32
Alexa11dre M. Luz
3.1.1. O papel da phronesis Seguindo Aristóteles, Zagzebski considera que o "bom julgamento nao pode ser sempre reduzido a obediencia a um procedimento de decisao passível de especificas;ao antes da situas;ao em que ocorre a 26 a<¡:ao. " De um modo mais preciso, uma virtude como phronesis se mostra necessária pelas seguintes razoes: Primeiramente, ela é a virtude que pennitiria a determina<¡:ao do meio-tetmo entre os extremos de excesso e deficiencia, meio-termo que caracteriza uma virtude em particular. Em segundo lugar, ela permitiría resolver os conflitos entre vitiudes, naqueles casos cm que mais do que uma virtude legisla sobre uma as;ao. Por exemplo, numa detem1inada sittJa<¡:ao a humildade e a coragem intelectual podem fornecer diferentes instrus;oes para a as:ao. Num caso como este, saber como agir "nao é uma simples questao de possuir a combinas;ao das virtudes em questao"27; é preciso uma virtude que promova o equilibrio entre as virtudes. Ternos, entao, uma virtude de ordem superior/8 que coordena as demais virtudes. Esta vitiude é aprendida pela imita<¡:ao do comportamento das pessoas virtuosas da comunidade29 e, como as demais virtudes, é adquirida gradativamente.
3.2. A No~ao de
Justifica~ao
Phronesis regula tanto as virtudes morais quanto as virtudes intelectuais; podemos, entao, derivar das definis;oes anteriormente apresentadas suas contrapartes no campo epistemológico. Um ato coneto, por exemplo, tem como contrapa1te a cren<¡:a justificada, e assim por diante. Temos, assim: Uma crem;:ajustijicada é o que uma pessoa que é motivada por virtude intelectual, e que tem a compreensao de sua situac;:ao cognitiva que uma pessoa vi1iuosa teria, poderia acreditar em circunstancias semelhantes.
É o pn!mio da l'irtude u conhecilne/1/0~
33
Urna crem;a inj ustificada é o que urna pessoa que é motivada por vi ttudc intelectual, e que tem a compreensao de sua situas;ao cognitiva que urna pessoa virtuosa tcria, nao acreditaría cm circunstáncias semclhantes. Urna crens;a de dever epistémico é o que urna pessoa que é motivada por v irtude intelectual , e que tem a comprccnsao de sua situa~ao cognitiva que uma pcssoa virtuosa teria, acreditaría em circunstáncias semelhantes.30 Devcmos notar que a defini~ao de cren~a justificada (e, paralelamente, a de ato correto) estabe lcce o nível mais básico de avalias;ao. Nao é exigido, ali, que o agente seja virtuoso, mas apenas que ele aja, em rcla~ao aque Ja cren~a , como agiria uma pessoa viltuosa (phronesis inclusa), e que ele esteja motivado por um motivo que é motivo para uma virtude. Ele nao precisa ser virtuoso, mas ele precisa ter aqueJe tipo de compreensao que teria uma pessoa com phronesis. lsto revela o caráter interna/isla da teoría da justifica~ao zagzebskiana; crens;as de segunda ordcm sobre urna crcns;a em questao sao indi spcnsáveis para a justificas;ao desta crens;a. Veremos, agora, como Zagzebski passa da no~ao de justifica9iio para a de conhecimcnto.
4. A
d e fini~ao
de conhecimento
Estamos, a esta altura, prontos para a análisc da defini~ao Zagzcbskiana de conhecimento. Do exposto cm ses;ocs anteriores, podemos esperar que a defini~ao de conhecimento seja capaz de iluminar nossa compreensiio do conceito de conhccimento, e nao apenas de responder a contra-exemplos (neste caso, os contra-excmplos de tipo-Gctticr). " Conhecimento" é definido por Zagzcbski como
,
Def l: Conhecimento é o estado de contato cognitivo com a realidade resultante de atos de virtude intclcctual. 3 1
34
A lexcmdre lvl. L11z
ou, de modo alternativo, Def 2: Conhecimento é um estado de crens:a verdadeira resultante de atos de virtude intelectual. 32 A segunda definis:ao segue o hábito de defmir conhecimento como crens:a verdadeira justificada mais x; a primeira, por outro lado, "pode ser prcferível por nao se comprometer com questoes como o objeto do conhccimento, a natureza da verdade e a existencia de proposis:oes. ( ...) Ela também permite uma interpretas:ao mais ampla do conhecimento, já que o conhecimento pode incluir outro tipo de contato cognitivo com cstruturas da realidade que nao o proposicional." Há pelo menos dois problemas aqui: prirneiro, se a teoría zagzcbskiana é baseada-em-motivas:ao, porque devemos aceitar urna definis:ao que, além da motivas;ao, exige a verdade? Há, evidentemente, urna distins:ao significativa entre estar motivado para buscar a verdade e atingir, efctivamente, a verdade (um problema bem conhecido para os intemalistas). Em segundo lugar, como podemos distinguir um ato virt11oso de um ato de virtude? Um indivíduo num mundo manipulado, como o mundo descrito no Novo Problema do Demonio Maligno, nunca poderá descobrir que seus atos nao sao atos de virtude. A distins;ao entre ato virtuoso e ato de virtude parece ser, pois, ad hoc. Um olhar atento sobre as duas definis:oes, porém, revelará outros elementos; particulam1ente, ele reve la um elemento nao analisado em nossa exposiyao: a noyao .de ato de virtude. Como veremos a seguir, esta noyao é engendrada de forma sui generis por Zagzebski, e revelará algumas caracteristicas importantes da teoría.
4.1. Virtudes e atos de virtudes Como vimos, a definiyao de virtude reserva lugar para um elemento de sucesso. Vimos, também, que a conexao entre virtude e sucesso é explicada cm termos de confíabilidade, a confiabilidade em atingir o
/~ o prémio da 1·inude o co/1/t(•¡·imt•uto?
.35
a
fim ligado motiva9ÜO da virtude. Esta confiabilidade .nos indica. apenas, que o agente virtuoso é bem sucedido muito freqüentemente: ela, certamente: nao nos garante que ele sed bern sucedido em cada ato (ou cren~a) ern particular, mcsmo que sua ac;ao seja carreta (ou que sua cren~a esteja justificada). Nosso interesse pelo conhecimento nos mostra, porém, que estamos interessados no sucesso em relac;ao a um ato (ou cren<;a) específico. Quando analisarnos o conhecimento, nós procuramos separá-lo das cren~as verdadeiras obtidas de modo acidental e das c re n~as meramente justificadas (mas possivelmente fal sas). A primeira parte da tarefa é relativamente simples: a segunda, porém, é desafiadora (como bem o sabemos que defendem teorías internal istas da justificac;ao). A estratégia zagzebskiana para conectar o elemento de mérito a verdade passa pela formu l a~ao de um novo conceito, o conceito de ato de virtude, assim definido: Urn ato de virtude intelectual A é u m ato que se origina do componente motivacional de A. é algo que uma pessoa coma virtudc A (provavelmentc) faria nas mesmas circunstancias. é bcm-sucedido cm atingir o fim da moti va~iio de A. e é tal que o agente adquire uma crcn~a verdadeira (contato cognitivo com a realidade) devido a estes elementos do ato .~~
Esta defi nic;ao. como podemos facilmente perceber. é deri vada da definic;ao de ato correto. El a preserva o elemento de mérito daquela definic;ao e a ele adiciona o elemento de sucesso (o con tato cognitivo com a realidade). A relac;ao entre um ato de virtude e a virtude propriarnente dita é, no mínimo, curiosa: um ato pode ser virtuosamente motivado e o agente pode ser alguém que é virtuoso cm alto grau. Apesar disso, jú que a virtude garante apenas a confiabilidade em atingir seu fim. o agente pode ser mal-sucedido. Seu atoé correto. conforme a derinic;ao anteriormente proposta. O agente é virtuoso. O ato nao é. porém, um ato de virtude Uá que nao foi bern-sucedido). l sto parece se chocar com nossa prálica lingüística cotidiana. Qunndo consideramos alguém
36
A leX(IIIdre M. Luz
como sendo corajoso ( ou seja, que esta pessoa possui a virtude da coragem), consideramos que todos os atos que esta pessoa realiza (desde que superada a akrasia) em circunstancias em que a coragem se faz neccssária sao atos corajosos. Nao apenas os atos bemsucedidos. Esta objes;ao pode ser superada se lembramos que a avalias;ao daque las situas:oes em que a lguém se comporta de modo viti uoso pode ser realizada através das nos:ocs de "as:ao correta" e de "crens;a j ustificada," e se atentamos para o fato de que nossa experiencia lingüística cotidiana também suporta o uso da nos;ao de as;ao vüiuosa, como sugerida por Zagzebski. Por exemplo, podemos imaginar que o resultado de um julgamento nao seja, cm um dado caso, considerado pelas pesseas como sendo " um ato de justis:a." Isto pode ocorrer mcsmo nos casos cm que o júri é motivado pelo desejo de emitir um veredicto justo. O júri pode, por exemplo, ser levado a descartar certas evidencias porque, digamos, foram obtidas de um modo considerado inaceitável pelo procedimento jurídico estabelecido (uma gravas:ao, obtida c landestinamente, cm que o réu confessa o crime, por exemplo). Neste caso, o júri continua virtuoso (e as pcssoas provavehnente nao condenariam o júri), mas a as;ao nao seria considerada urna as;ao virtuosa. A dcfinis;ao de ato de virtude permite que reformulemos a terceira definis;ao de conhecimento, do modo que segue Def 3: Conhecimento é um estado de crens:a resultante de a tos de virtude iqtclectual. Assim como na definis;ao de crens:a justificada, as definis:oes de conhecimento sugeridas nao exigem que o agente seja, efetivamente, virtuoso. Como consideramos anteriormente, basta que ele scja movido pela motivas:ao típica de uma virtude. E, para o conhecimcnto, este ato de ve ser bem sucedido (o que nao é exigido para a justificas:ao). Ao impotiar da nos:ao de justificas:ao a exigencia da motivas:ao para a vcrdade, a dcfinis;ao de conhecimento importa também aquele elemento que classificamos antcrionnente como " internalista." A exi-
É o premio davirwde o col/hccimell!o?
37
gcncia de que o agente sej a virtuosamente motivado permite que incorporemos, como vimos, as virtudes integradoras, como phronesis. A dcfinic¡:ao zagzebskiana está, pois, " íntimamente ligada a posse de um 34 bom caráter intelectual. " Uma pessoa que é "cognitivamente integrada tem atitudes de ordcm superior positivas em rclac¡:ao ao seu próprio caráter intelectual e a qualidade dos seus estados epistemicos. Ela nao apenas sabe, mas ela está em posic¡:ao de saber que sabe. Adicionalmente, sua estrutura de crenc¡:as é coerente, e ela está ciente dcsta coerencia. Mais, ela percebe os valores relativos das diferentes verdades ou aspectos da rcalidade com que ela se relaciona. " 35 Esta é uma característica que satisfaz, em grande medida, aos anseios internalistas. Como sabemos, porém, os internalistas nao esHio sozinhos no cenário do debate. O externalismo tem grande parte do seu apelo v inculado a sua capacidade de oferecer urna cxplicac¡:ao da nossa relac¡:ao cognitiva mais básica com o ambiente (pelo menos em caráter condicional, como vimos). A teoría das virtudes recém-cxposta é capaz de satisfazer as intuic¡:oes extemalistas? Jolm Greco, por excmplo, considera que nao. Ele observa que, "em primeiro lugar, os atos de virtude de tipo-Zagzebski nao sao necessários para o conhecimento, porque uma pessoa com um caráter cognitivo confiável pode ter conhecimcnto sem eles. Em segundo lugar, os atos de virtude de tipo-Zagzebski nao sao suficientes para o conhecimento, porque urna pessoa sem um caráter cognitivo confiávcl nao pode obter conhecimento com eles."36 A segunda parte da crítica nos parece equivocada. Gomo vimos, Zagzebski embute na noc¡:ao de virtude urn elemento de confiabilidade. Logo, uma pessoa que realiza atos de virtude é urna pessoa que é confiável, 37 no que diz rcspeito a obten<;ao do fim da virtude. Atos de virtude sao, pois, suficientes para o conbecimento. Tomemos, porém, a primeira parte da crítica. Vamos supor que um individuo possua ce11a qualidade altamente confiável, e que, a despeito da confiabilidade, e le ou nao possui crenc¡:as de segunda ordem sobre a confiabilidade de tal qualidade ou é desleixado em relac¡:ao ao seu caráter intelectual. Ele nao é, nestes casos, virtuoso, nem
38
Alexandre 1H. Lu:
sequer está justificado (no sentido zagzebskiano) cm suas cren~as , já que ele nao está virtuosamente motivado. Ele nao pode, por isto, realizar atos de virtude e, assim, segundo a de fini~ao zagzebskiana, ele nao pode atingir o conhecimento. Mas, a despeito disto, ele é confiável e, por isso - concedería o confiabilista - pode conhecer. Esta situayao é muito plausívcl se pensarmos em casos que envolvem crenyas formadas diretamente pela perccpyao. Nestes casos, o suje ito epistemico nao precisa ser virtuoso, no sentido zagzcbskiano, mas o processo precisa ser confiável. A resposta zagzebskiana se apóia na idéia de que um ato de virtude nao cnvolve, sempre, uma avaliayao de segunda ordem da confiabilidade do processo produtor de crenyas. O sujeito epistemico "por vezes é cético sobre seus sentidos, por vezes duvida da sua memória, como nos casos cm que ela é fraca e e le possui boa evidencia contrária ( ...). Mas nós podemos assumir que, na maior parte do tempo, e la nao duvida ou mesmo reflexivamente considera suas crcnyas perceptuais e da memória. Ela nao o faz porque ela mantém uma pressuposiyiio da verdadc em tais casos, pelo menos até ela ter razocs para pensar o contrário. " 38 Tal considerayao, porém, é insuficiente. A parte final do exccrto revela que Zagzebski está a consid erar que algum julgamento de segunda-ordcm sobre a confiabilidade está implicito. Mas um confiabilista nao exige sequcr isto. Podemos possuir conhecimento sem, em momento algum, qualqucr julgamento de segunda-ordem. Nao duvidar dos sentidos pode ser urna ar;:ao carreta, em !l1llitas situar;:oes. Mas parece dificil conciliar a motivayao para a verdade e a ausencia total de atividade crítica em rclar;:ao á confiabilidade dos próprios sentidos . Zagzebski considera, porém, que há um problema em relar;:ao ao objeto de avaliar;:ao do confiabilista. O problema consiste na confusao entre o valor que podemos atribuir a urna faculdade confiável e a justificar;:iio da crenr;:a obtida. Segundo ela, " há urna tendencia para transferir o valor evidente do mecanismo confiável ao produto destc mecanismo, a crenr;:a. Esta tendencia pode ser natural e é compreensível, mas eu nao a vejo como justificad a" 39; adicionalmente, sustenta ela
É o premiu da l'irtude u conlrecimemo?
39
que ''o valor da verdade obtida por um processo confiável, na ausencia de qualqucr percepc¡:ao consciente da concxao entre o comportamento do agente e a verdade que ele adquire nao é melhor do que o valor de um palpite feliz." 40 Esta é uma afirrnas;ao demasiadamente forte, a nosso ver. Ela revela, porém, a íntima rela¡yao entre as suposi¡yocs subjacentes a teoría zagzebskiana e o internalismo, algo que vtmos destacando já anteriormente. Zagzebski imagina, porém, que sua definic¡:ao de coohecimento em termos de atos de virtude intelectual pode ser interpretada de um modo mais externalista do que pretendí ( ... ). lsto pode ser feíto modificando-se o elemento de motivayiio no meu tratamento da virtude, tornando-o mais fraco e afastado da percepc¡:ao consciente e do controle, apesar de eu nao imaginar que o elemento internalista possa ser inteiramente eliminado. ( ... ) Em outro sentido, minha teoría pode também ser adaptada para urna visiio puramente internalista, ao se mover o conceito de virtude intelectual na direc;:ao oposta. 41
Esta flexibilidadc é uma vantagem, a nosso ver, apenas em um sentido: a lgurnas virtudes talvez possam ser menos exigentes em relas;ao a ayao de virtudes de ordem superior para que o sujeito atinja o fnn da virtude (numa versao atenuada da tese aristotélica da separas;ao das virtudes ern dois grupos, podemos imaginar que as virtudes intelectuais exijam um maior controle do intelecto do que as morais). Neste sentido, a teoría pennitiria que crenyas de segunda ordcm fossem dispensadas, em rela9ao a certas viitudes. A existencia de vittudes que podcriam, para seu exercício, dispensar sempre a existencia de crenc¡:as de segunda ordem é algo que parece se chocar com a suposis;ao sobre o caráter profundo das virtudes, assumidas por Zagzebski e aqui analisadas no comes;o dcsta segunda ses;ao. A idéia de que o conceito de virtude pode ser interpretado de dois modos, um "intcmalista" e outro "externalista," todavía, nao é de valía alguma para a superas;ao do debate entre internalistas e externalistas; isto devido a simples razao de que as duas intcrpretay6es, assim como
40
Alcxmuln: fl.f. Lu;
as teses gerais internalistas e extemalistas, sao conflitantes. Uma das interpretayoes nao pode ser harmonizada com a outra. A teoría nao contribuí, neste sentido, para a superayao do impasse entre intemalistas e externalistas.
5. Arete e epistemología:
considcra~oes
finais
Ao fim de nossa cxposi9ao, chegamos a urna definiyao de conhecimento derivada da noyao de virtude, através do conceito de ato de virtude. Do conceito de virtude derivamos, igualmente, outros conceitos que nos permitem urna avalia9ao detalhada da vida moral e - o que nos interessa aqui em particular - intelectual dos agentes epistemicos. Este aumento de amplitude, esperava Zagzebski, permitiría uma supcrayao do debate entre intemalistas e externalistas, isto porque sua teoría seria capaz de absorver elementos tanto interna listas quanto externalistas. Todavía, mostramos que a teoría desenvolvida é internalista, a despeito de incorporar noyocs típicamente extemalistas, como a de confiabilidade. Isto nao é o suficiente, porém, para permitir a supera9ao da guerra de intuiyoes que caracteriza o debate intemalismo/extcrnalismo, já que as intui9oes externalistas nao foram incorporadas pela teoría, como vimos. 42 Nao temos, assim, uma contribui9ao efetiva para a resoluyao do debate internalismo/extemalismo. lsso, a nosso ver, porque uma teoría que abandona a cren9a como .unidadc básica da epistemología terá dificuldades para explicar uma qualidade que se refere exatamente a crenyas (nossas questoes se referem ao conhecimento de p, de z, etc.). A mera possc de um caráter virtuoso nao garante conhecimento, como vimos (como vimos, Zagzebski leve que recorrer a um artificio ad hoc para conectar virtude e conhecimento). A teoría sofre, pois, do velho problema da falta de urna conexao apropriada entre justificayao e verdade. Por fim, a despeito do desinteresse de Zagzebski por teorías que explicitem detalhadamente condiyoes para a justificayao (como boa
É o premio da virlude o conhecimenlo?
41
parte das teorías internalistas), cabe avaliar se sua teoría é capaz de oferecer urna explicac;:ao mais substancial para a justificac;:ao epistemica: oferecer urna explica9ao para o papel das falsidades nos processos de justificayao, oferecer uma explicac;:ao sobre os modos aceitáveis de conexao entre crenr;:as, etc. Este é um desafio ainda sem resposta.
Referencias bibliográficas Alston. W. P. 2000. "Vi1iue and Knowledge." Phi/osophy and Phenomenological Research LX (1 ). Anscombe, G. E. M. 1958. "Modern Moral Philosopby." Philosophy 33: l-19. Aristóteles. 2001. Ética a Nicómacos. Brasília: Editora UnB, trad. Mário da Gama Kury. Audi, R. 1988. Belief, Justification, and Knowledge. Califomia: Wadsworth Publishing Company. - . (org.). 1996. The Cambridge Dictionmy ofPhilosophy. Cambridge: Cambridge University Press. -. 1998. Epistemology. Nova York: Routledge. Axtell, G. ( org.) 2000. Knowledge, Beliefand Character- Readings in Virtue Epistemology. Lanham: Rowman & Littlefield. Code, L. 1987. Epistemic Responsability. Hanover: University Press ofNew England. Dancy, J. e Sosa, E. (orgs.) 1996. A Campan ion to Epistemology. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. Fairweather, A. e Zagzebski, L. ( orgs.) 200 l. Virtue EpistemologyEssays on Epistemic Virtue and Responsability. Oxford: Oxford Univcrsity Press. Fairweather, A. "Epistemic Motivations." In Fairweathcr e Zagzebski 200 1: 63-80. Firth, R. "Are epistemic Concepts Reducible to Ethical Concepts?" In Goldman e Kim 1978:2 15-29.
42
Alexandre M. Lu:
Frcnch , Uchling e Wcrttstcin. (orgs.) 1980. Midwest Srudies in Philosophy, Voi. 5: Studies in Episremology. Minncapo lis: University of Minncsota Prcss. Goldman, A. c Kim, J. (orgs.) 1978. Values and Morais. Dordrecbt: Rei dei. Goldman, A. 199 1. Liaisons: Philosophy Meets the Cognitive and Social Sciences. Cambridge: Thc MIT Prcss, Greco, J. 2000. "Two Kind oflntcllectual Virtue ." Philosophy and Plrenomenological Researclr, XV ( I ): 179- 84. Hookway, C. 200 I. "Epistcmic Akrasia and Epistcmic Virtuc. " In Fairweathcr e Zagzebski 200 I : 178-98 Kvanvig, J. 1992. The Intelectual Virtues and rhe Life ofthe Mind. Lanham: Rowman & Littlefie ld. Kvanvig, J. (org.) 1996 . Warrant in Contemporwy Episremology Essays in Honor of Plantinga 's Theo1y of Knowledge. Maryland: Rowman & Littleficld Publishers. Luccy, K. G. (org.) 1996. On Knowing and the Known - fntroducto1y Readings is Epistemology. Nova York: Promethcus Books. Montmarquet, J. 1993. Epistemic Virtue and Doxastic Responsability. Lanham: Rowman & Littleficld. Sosa, E. 1980. "Thc Raft and Thc Pyramid: Coherencc versus Foundations in tbc Theory of Know ledgc." In. French, Ueh1ing e Wettstein 1980: 3-25. 1985. "Knowledgc and Intellectual Vi rtue. " The Monist 68: 22445 - . 1991 . Knowledge in Perspective: Selected Essays in Episremology. Cambridge: Cambridge University Press. - . 1992. Conocimiento y Virtud Intelectual. M茅xico: Fondo de Cult1tra Econ么mica. - . 1994. " Virtuc Perspcctivism: A Rcsponse to Foley and Fumcrton. " In Villanucva, E.(org.). Philosophicai issues 5- Truth and Rationality. Atascadcro: Ridgevicw. - . 2000. "Thrce Forms of Virtuc Epistcmology." In Axtcll 2000: 38.
É o prêmio dn •·irrudc: o conltecimento 1
43
Stcup, M. 200 I . Knowledge. Tmth and Dury - Essays on Epislemic Justiflcation. Responsability, and Virtue. Oxford: Oxford Uni versity Prcss. Zagzcbski, L. T. 1994. "Thc lnescapability o f Getticr Problcms." The Philosophical Quanely 44 ( 174): 65-73. 1996. Virtues of the Mind - Anlnquhy in to lhe Nature of Virtue and The Ethical Foundations of Knowledge. Cambridge: Cambridgc University Press. 1998. " Virtuc Epistemologogy. " In Routlcdge Encyclopedia of Philosophy, Vcrsion 1.0, London: Routlcdge, -. 2000. " From Reliabilism to Virtue Epistemology." In Axtell 2000: 113- 2 1.
Alexandre Meycr Luz Universidade Federal de Serg ipe meycrluz@ terra.com.br
Notas 1
Zagzebski 1996 (Virlues ofrhe Mind, doravante). Zagzebski não identifica, por exemplo, o grupo do intemalismo com o deontologismo ético; ela admite que teorias da justificação podem ser internalistas sem assumir um formato deontologista. 3 Virlues of lhe Mind, p. 16. 4 Virlues of lhe Mind, p. 17. 5 Virtues of 1he Alind, p. 20. 6 Virtues of the Mind, p. 2 1. A impossibi lidade de se oferecer um conjunto de regras capaz de oferecer uma avaliação epistêmica adequada para todas as situações c todas as crenças leva, segundo Zagzebski, à insolubilidade do Problema de Gcttier, se o tentamos resolver numa perspectiva baseada-emcrença. Esta tese foi desenvolvida por ela em seu " The lnescapability o f Gettier Problems." Philosophical Quarlerfy 44 ( 174): 65- 73. 7 Virlues of the /1/ind, p. 22. 8 lbid. 2
44
Alexmulre M. Lu:
Virllles of lhe Mind, p. 24. A noção de "perspectiva adequada." como sugerida por Ernest Sosa em sua teoria do perspectivismo das virtudes, pode ser considerada como uma virtude integradora. De qualquer maneira, ela é muito mais restrita do que a noção de phonesis; para que alguém esteja em "perspecti va adequada'' em relação a uma crença, não é necessário que esta pessoa, por exemplo. preocupe-se com o desenvolvimento de um caráter epistemicamcntc saudável. 10 Virllles of lhe lv/ind, p. 28. Uma virtude, certamente, não é algo que alguém simplesmente tem ou não tem. 11 Zagzebski. L.. "Virtuc Epistemologogy." In Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London: Routledge, 1998. 12 Virlues of the Mind, p. 271 . 13 Virw es of lhe Mind, p. 82. 14 Todavia, quando apresentarmos a noção central de ato de virlude, veremos que esta noção é definida, em parte, em termos de sucesso na obtenção de verdades. Isso parece ser incompatível com a idéia de que a teoria zagzebskiana é baseada-em-motivação. 15 Vinues oflhe Mind, p. 102. 16 Ou dois, se seguirmos - como Zagzebski o faz- Aristóteles: o vicio causado pela falta da vi rtude e o causado por seu excesso. 17 Virtues of the Mind, p. I 02. 18 Urna investigação mais detal hada sobre as re lações entre vi rtudes c motivos. acompanhada de uma defesa da tese de que motivações são indispensáveis para a virtude, pode ser encontrada em Fairweather, A. ·'Epistemic Motivations." In. Fairweather c Zagzcbski 2001:63- 80. 19 Virllles of the Alind, pp. 132- 3. Virtudes como a sabedoria são, como veremos, virtudes integradoras, ou seja, virtudes de ordem superior. Há uma pequena correção a ser feita na teoria: considerando que uma vi rtude, como sugerido anteriormente, exige urna motimçào para atingir 11111 fim (e isto aparecerá explicitamente na definição de virtude que será aprésentada a se~u ir) . não se pode dizer que "algumas vi rtudes podem não possuir um fim." _o fel.. p. 133. 21 Virtues of lhe Mind, p. 137. n Virtues of lhe Alind, p. 167. Zagzebski considera, porém, que '·apesar de todas as vi rtudes intelectuais possuírem uma componente rnotivacional que a direciona para o contato cogniti vo com a realidade. algumas delas podem se direcionar mais para o entendimcnlo [understanding), ou talvez para outros estados epistêmicos que aumentam a qualidade do estado de conhecimento, tal como a certeza. do que para a posse da verdade per se. Poucas vi rtudes eminentes tais corno a originalidade intelectual ou a inventividade estão reJa9
É o prémiu da •·irrude o conlt('CIIIIe/1/(J?
45
cionadas não apenas à motivação para que o agente obtenha conhecimemo. mas à motivação para aumentar o conhecimemo para a espécie humana" (ib id.) . De qualquer maneira, todas estas virtudes podem ser relacionadas à motivação geral da obtenção de conhecimento. ~ 3 Virwes of lhe lvfind, p. 176. 1 ~ Virw es of lhe Mind, p. 182. 15 Zagzebski considera aqui que uma virtude deve ser condutora-à-verdade para seu possuidor (c f. Virtues of the Mind, p. 186), mesmo que tenhamos que avaliar o exercício da virtude num prazo mais longo. Que prazo deve ser este, porém? A teoria é vítima, neste ponto, de um ataque semelhame ao Problema da General idade que vi tima o contiabilismo. 26 Virtues of lhe Mind, p. 220. 27 Virtues of thc Mind. p. 223. 28 Vale lembrar que. como vimos, Sosa também considera a existência de algo semelhante, aquela qualidade que garante a coerência do indivíduo que tem uma perspectiva adequada sobre suas crenças. 19 O que permite que se explicite a base social da noção de ato correto (e. dai, como veremos, da noção de justificação). Se a correção de um ato depende, pelo em parte, da phroncsis, e se esta depende da existência, na comunidade, de indivíduos que possuam a virtude c sirvam, por isso, corno modelo para os demais. então a saúde moral (e, como veremos, a saúde inte lectual) dos indivíduos depende da saúde da comunidade como um todo. 30 Virtues of lhe Mind, p. 24 1. 31 Virtues ofthe Mind, p. 270. 32 Virtues ofthe Mind, p. 27 1. 33 Virflles of lhe J'vlind. p. 248. 3 ~ Virllles of lhe J'vlind, p. 275. 35 Ibid. 36 Greco, J. 2000. "Two Kind of lntellectual Virtue." Philosoplry cmd Phenomenological Research X V ( I): 179-84. · 37 Uma pessoa que realiza atos de virtude não precisa, como vimos, ser virtuosa; ela precisa, porém, estar virtuosamente motivada c precisa agir como uma pessoa vi rtuosa agiria. Uma pessoa virtuosa agiria de modo confiúvcl. Uma pessoa virtuosamente motivada. daí, agiria de fonna equivalente. 38 Virwes ofthe Mind, pp. 279- 80. 39 Virrucs of the lvlind, p. 304. Zagzebski retoma este ponto em From Re/iabilism to Virtue Epistemology (in Axterll 2000: 113- 2 1). ~o Ibid. ~ 1 Virtues of til c Mind. p. 330.
46
A /ex amire M. Lu:
~ 2 Vejamos, por exemplo, a crítica William Alston a teoría: "um problema premente diz respeito a quesUio de como esta abordagem trata das crencas que nao sao "de modo algmn voluntárias." (...) crencas da memória e da percepcao sao exemplos evidentes. Oevemos pensar nas pessoas que estilo a receber percepcoes como estando motivadas para formar as crencas que formam? Poderia parecer que motivacao, ligada a virtude ou seja lá a que for, nao tem nada a ver com a questao. Como, entao, nesta abordagem, estas crencas podem estar justificadas?" (Alston, W. 2000. "Yirtue and K.nowledge." Philosophy and Phenomenological Research LX ( 1).
Dois caminhos que levam ao holismo "moderado" de Quine Araceli R. S. Velloso Universidade Federal de Goiás
l. A primeira via: da tese reducionista ao holismo semantico
1.1. O critério de transcendencia Em 1950, com a publicaryao do seu famoso artigo: "Os dois dogmas do empirismo," Quine apresenta ao mundo, ainda em esboryo, as suas críticas ao empirismo dos positivistas do Círculo de Viena. Nessa ocasiao, o filósofo poe em debate duas teses que ele considera como dogmas do empirismo Vienense: a distinrrao analítico-sintético (de agora em diante; "a/s") e o reducionismo. A conclusao retumbante do artigo é a de que o empirismo filosófico dos antigos positivistas lógicos dcveria ser expurgado de duas de suas principais teses, sob pena de sucumbir as críticas de seus opositores. A opiniao do filósofo americano, nessa época, era & de que, apenas se revigorado através da extirparyao desses dois verdadeiros "dogmas" essa importante posiryao poderia se sustentar e dar seus frutos. Com efeito, tal manobra radical faria com que a filosofia se aproximasse, como era de se esperar, do método usado pelas ciencias naturais, tornando-se enfun urna espécie de pragmatismo. Quarcnta anos depois, ao rever seu polemico artigo, Quine reelabora suas antigas opinioes, suavizando principalmente as conclusoes holistas. Ncssa mesma época, e le aceita a interpretarrao de Emst Lepare sobre a sua crítica aos dois famosos dogmas. 1 Segundo a in terDutra. L. H. de A. e Mortari. C. A. (orgs.). 2005. f..jJistemologia: Anais do 11' Simpásio flllem acional. Pri11cipia - Parle l . Flori;mópo lis: NEUUFSC. pp. 47- 65.
48
Araceli R. S. Velloso
prcta~ao do filósofo mais novo, a principal obje~ao de Quine a no~ao de "analiticidade" era a de que qualqucr no~ao de "significado" que se apoiasse em um critério verificacionista, como a confirma<;ao ou infirma~ao de senten¡¡:as, seria urna no¡¡:ao "imanente" a urna linguagem específica (ou paroquial) e, portanto, já impregnada de teoria. Assim, uma no~ao de "significado" que se apoiasse em critérios verificacionistas (ou mcsmo confinnacionistas) nao seria capaz de resolver o problema que os positivistas lógicos esperavam que ela resolvesse: explicar a significa¡yao das senten¡yas ncccssárias, apesar da sua falta de conteúdo empírico. As razocs que apóiam a interpreta¡yao de Lepore sao bastante convincentes: nao é provável que Quine estivesse apenas exigido urna defini¡yao nao circular, ou necessária e suficiente, para a no¡yao de "analiticidade".2 O ponto, muito bcm levantado por Quine em seu antigo artigo e frisado por Lepore, é o de que a raíz de todas as difieuldades com essa not;:ao está no próprio critério empirista de significado proposte pelos positivistas lógicos. Em detalhcs, se identificamos de alguma maneira "significado" e "condit;:oes de confirma¡yao," subordinamos a nossa semiintica as nossas teorías sobre o mundo, o significado de cada sentens:a passará a depender dessas mesmas teorías. Urna conseqüencia desagradável da imanencia intrínseca do significado de qualquer sentent;:a em rela~ao a alguma teoría é a de que ficaríamos com problemas para expl icar a significiincia de sentens:as que fossem necessariamente vcrdadeiras, e nao verdadeiras apenas segundo aquela teoría. A dificuldade com essa classe de sentent;:as é simples: o seu significado e a sua verdade teriam de depender da linguagem na qual elas estivessem imersas e nao podcriam ser os mesmas para qualquer linguagem e qualquer falante. Por sua vez, a nos:ao de "analiticidade," que deveria realizar a tarefa de garantir o significado dessas sentent¡:as em qualquer linguagem, seria imanente e nao transcendente, ou universal, nao logrando explicar assím a necessidade das mesmas.
Dais cmuiullos para o llolismo semámico
49
1.2. Urna altern ativa que provcria um critério de significado empirista e tr anscendente: a tese r educionista. Uma tese que, se bem sucedida, tcria resolvido o problema da atribuiyiio de um significado individualizado a cada scnten):a em bases puramente empíricas é a tese rcducionista defendida pelos positivistas do círculo ele Viena. A tese rcducionista rczava que cada sentenya teórica, considerada ind ividualmente, podcria ser reduzida a um conjunto de sentenc;as atómicas que contivcsse apenas termos da lógica e termos observacionais. Assim, o significado dessa sentenc;a teórica deveria ser dado por essc conjunto de sentenc;as atómicas, que, por sua vez, seriam um relato direto das suas situac;oes confirmadoras ou infirma doras. Assim, essa reduc;ao, caso bcm sucedida, nos forneccria um critério para atribuir a cada sentcn¡ya individualmente um sig nificado que fossc independente da teorí a adotada, um cri tério transcendente de significac;ao. A tese reducionista teria também a vantagem de estar em conformidade com o princípio empirista de significado mencionado por Quine no "Dois dogmas" segundo o qua!: "o significado de urna sentcnc;a é o scu método empírico de confirmac;ao ou infinnac;ao" (Quine 195la, p. 37). 3 A tese rcducionista apresentada no parágrafo precedente recebe de Quine o cognome de "segundo dogma do empirismo." lsso porque, de acorclo com o filósofo, nao foram encontradas razoes que justificassem tal tese. Com efeito, Carnap, em seu livro Der Logische aujbau de1: Welt, se dedica ao projeto de colocar em prática a mencionada reduc;ao, construindo uma linguagcm de dados sensórios (a linguagem da c iencia) para a qua! a nossa linguagem ordinária pudésse ser traduz ida. Caso fosse bem sucedido, esse projeto seria capaz de fundamentar scmanticamen te a ciencia, ainda que nao fosse possívcl uma fu ndamentac;ao epistemica (uma base empírica para a verdade de nossas scntenc;as teóricas). No artigo "Os dois dogmas do empirismo," Quine csboya o seu primeiro ataque a csse último bastiao do positivismo lógico. A iovestiga¡yao inicial sobre as dificuldades com a tese reducionista, feíta por
50
Araceli R. S. Velloso
Quine nessa ocasiao, envolve duas etapas. Uma primeira, na qual a traduyao seria feíta termo-a-termo, ou seja, a unidade mínima significante seria a palavra. E uma segunda etapa, na qua! considerar-se-ia uma sentenya inteira como a unidade mínima significante. Após Iongas considerayoes, Quine concluí que, mesmo considerando a senten!Ya como a unidadc mínima indecomponível, o projeto de traduyao seria impossível, nao apenas por dificuldades inerentes a sua execu9ao, mas em princípio, i.e., ele seria logicamente impossível. As razoes para o fracasso da tese reducionista nessa primeira versao mais radical nao sao muito surpreendentes. Com efeito, como era de se esperar a partir da crítica de Hume a induyao empírica, o mesmo conjunto de sentenyas atómicas poderia ser candidato a traduzir diferentes hipóteses sobre o mundo . Sendo assim, seria possível que um conjunto de sentenyas atómicas tivesse como correlato mais de urna senten9a teórica, o que tornaría a redu9ao ambígua e incompleta. Além do reducionismo na sua forma mais radical, Quine especula se haveria lugar para a tese reducionista numa versao moderada. Essa nova tese rezaría que uma senten9a isolada poderia se relacionar de modo provisório com um conjunto de sentenyas atómicas que falariam a favor da sua confinna¡yiio e com um outro que falaria contra ela. Nesse caso, ainda poderíamos fa lar de reducionismo, só que de urna fonna atenuada. Quine chama essa última alternativa de "reducionismo menos radical." Esse último resquicio reducionista também é descartado pelo filósofo, que se apóia, para tanto, nas considerayoes epistemológicas holistas de Duhem. Duhem, a quem preocupam mais questoes epistemológicas do que semanticas, quería esclarecer, na verdade, o contraste existente entre duas práticas científicas diferentes: a de um físico, em seu Jaboratório, tendo que lidar com um conjunto de hipóteses a serem testadas por um experimento; e a de um fisiologista procurando distinguir um nervo motor de um nervo sensitivo por meio de estimulayao direta. Sua observavao é a de que a fom1ulavao de qualquer hipó tese ( ou afirmaviio geral) da física, por exemplo, envolve sempre a fonnulavao de outras hipóteses auxiliares que sao pressupostas necessariamente por ela. As-
Dois cami11flo.~ para o Ilotismo semálll ico
51
sim, embora possamos aparentemente estar infinnando ou confirmando a hipótese principal atra vés de observa96es e testes, nao teríamos como determinar, diante de uma experiencia recalcitrante, se a hipótese falsa é a principal, ou uma das hipóteses auxiliares. No caso de consideramos a nossa hipótese principal muito confiável poderíamos optar por refom1ular uma ou mais das auxiliares (vendo algum erro em uma delas, por exemplo). Ou mesmo, num caso extremo, acrescentar hipótcses ad hoc com a única e exclusiva intenc;:ao de salvaguardar a nossa hipótese principal. Lembremos do famoso exemplo do flogístieo dado por Kuhn. Para salvar a hipótese de que o fogo era um fluído que saía dos eorpos (hipótese essa ameac;:ada pelos experimentos de Lavoisier), os cientistas adeptos dessa coneepc;:ao insistiam em dizer que o flogístieo existia sim, mas tinha peso negativo. Segundo essa sugestao desesperada, ao sair dos corpos o tlogístico aereseentaria peso aos corpos carbonizados. As considerac;:oes de Duhem sao aproveitadas por Quine. O filósofo, no entanto, tira delas conclusocs que pareccm ir além das pretensoes do cpistemólogo ft·ances. Para compreendermos melhor essas conclusoes vamos retomar o princípio de significatividade empirista (PS), segundo o qua! o signifi cado de uma sentenc;:a é determinado pelo seu método de verificayao. De aeordo com Quine, o método de verificayao seria um relato do conjunto de observayocs diretamentc conectadas a experiencia que confirmassem urna detenninada sentenc;:a, ou do conjunto das observac;:oes que a infirmassem. Mas, como o filósofo havia concluído ser impossível decidir de modo inequívoco se ce1tas situac;:oes confirmadoras ou infirmadoras dizcm respeito aqueta sentenc;:a isolada ou se elas incidem apenas nas hipóteses auxiliares (essa é a contribuic;:ao de Duhem), entao é apenas cm bloca que as sentenc;:as teóricas poderiam ter s ignificac;:ao empírica.
Amceli R. S. Velloso
52
1.3. A primcira conclusao holista
A conclusao de Quinc parece bastante razoável: só poderíamos traduzir urna senten~a (em termos de situar;oes confirmadoras ou inflrmadoras) se a considerássemos em conjunto com outras sentenr;as, as hipóteses auxiliares. Uma rcssalva, porém, é muito importante a respeito dessa conclusao de Quine; o adcndo "em termos de situar;oes confirmadoras ou infirmadoras." Como veremos mais adiante, poderiamos realizar essa traduyao perfeitamente cm outros tennos, mas nesse caso estaríamos recorrendo a algo mais além das situas:oes no mundo que a confirmariam ou infirmariam. Segundo essa nossa interpretayao, Quine estaría apenas objetando a que, dada urna ce1ta conjuns:ao entre, por um lado, a tese de Duhem e, por Otttro, a versao do principio verificacionista representada por PS, pudéssemos ainda falar em analiticidade no sentido mais forte, ou seja, transcendente. Essa é, com efeito, uma das maneiras como o próprio Quine descreve a sua inferencia: Se reconhecessemos, juntamente com Peirce, que o significado de urn enunciado consistiría unicamente naquilo que contaría como justificativa empírica para a sua verdade, e se reconhecessemos, juntamente com Ouhem, que os enunciados teóricos nao possuem dados empíricos quando considerados isoladamente, mas apenas quando formam blocos teóricos maiores, entiio a indetennina¡¡:ao da tradu~ao dos enunciados teóricos seria urna conclusiio natural. (Quine 1969a, p. 798 1, grifo meu.)
Com efcito, podemos observar que há uma diferenya entre a maneira como Lepore descreve a posis:ao de Quine e o modo como o próprio filósofo tira as suas conclusoes holistas no trecho anterior. No caso de Leporc, o objetivo parece ser o de salvar a possibilidade de se falar em critérios de analiticidade transcendentes, mostrando que as críticas de Quine incidiam apenas sobre o positivismo lógico dos participantes do Círculo de Viena, bcm como sobre aqueles que quiscssem manter urna semantica bascada em algum principio parecido com
Dois cami11hos para o ho/ismo semá11tico
53
o princípio empirista de significado adotado por esses filósofos. Já Quine parece estar, na verdade, disposto a ir bem mais longe, ou seja, a se comprometer com alguma forma de holismo semantico, ainda que moderado, que inclua apenas uma noyao de "analiticidade" imanente de senten9as permanentes (ou paroquial). Em outras palavras ainda, uma no9ao que possa ser detenninada com base apenas em critério comportamentais observáveis. Descrevemos, em linhas breves, o primeiro tipo de argumento através do qua l Quine teria c hegado a tese que fico u conhecida na literatura filosófica como o " holismo semantico." Em resumo, o argumento geral teria a seguinte forma: o verificaeionismo dos positivistas (ou Peirce se quisermos) + o holismo da confirma9ao (resultante das dificuldades encontradas por Quine em subscrever a tese reducionista) = Holismo Semantico. Em seguida, investigaremos a segunda via através da qua! Quine teria reafirmado o seu holismo semantico.
2. A segunda vía: a tese da incscrutabilidade da referencia 2.1. O experimento de
·.
tradu~ao
radical
Em 1960, com a publica9ao do W & O, Quine deixa ainda mais clara a sua posi9ao, com auxílio da famosa tese da inescrutabilj,dade da referencia. Essa tese, por um lado, viria para se juntar aos aigúÍD.entos anti-reducionistas ql!e acabamos de expor, refor9a ndo a tese (Id holismo semantico. Mas, por outro lado, é também ela que nos deixa entrever urna saída para as dificuldades enfrentadas por Quine em decorrencia de seu famoso ataque aos mencionados dogmas. As razoes oferecidas por Quine nessa ocasiao para sustentar a tese de que nao poderíamos atribuir um significado determinado as nossas senten9as quando essas fossem consideradas isoladamente é ilustrada em um experimento imaginário: a tradu9ao radical. Como sabemos, o experimento imaginário de Quinc consistía em uma situa9ao na qua! duas pessoas de culturas e linguas totalmente diferentes se encontras-
54
Araceli R. S. Velloso
sem e tentassem se comunicar. Essas duas pessoas poderiam ser, por exemplo, um lingüista de campo e um nativo de urna cultura estrangeira e desconhecida. O radicalismo do experimento é crucial para o desenrolar dos argumentos de Quine: nem o nativo nem o lingüista de campo teriam um interprete, dicionário ou gramática disponíveis previamente a esse seu primeiro contato para ajudar na tradus;ao das sentenc;as um do outro. Assim, após essc seu primeiro contato, o lingüista possuiria apenas as reac;oes comportamentais do nativo diante dos seus proferimentos e as fors;as que ele ve afetarem a "superficie do nativo" (as estimu lac;oes) para aj udá-lo na tarcfa de traduc;ao. A proposta de Quine - considerar a situas;ao extremada de urna traduc;ao radical - foi, na verdade, inspirada pela diseussao que vinha sendo travada entre ele e Carnap. Como é sabido, histoi;camente, o ponto de uniao entre os dois filósofos havia sido a defesa da tese extensionalista: a tese que reza que através da referencia dos termos singulares e do principio do contexto poderíamos também fixar a extensao dos tennos gerais, e que isso seria tudo o que deveríamos fazer em semantica. Com efeito, até mais ou menos 1936, ambos os filósofos acreditavam que poderiam encontrar uma base empírica a partir da qual apoiar a construc;ao de uma linguagem puramente extensional. Ou seja, encontrar uma Iinguagem na qua) nao tivéssemos predicados aplicáveis a outros predicados e, portanto, só se pudcsse faJar sobre objetos (Russell, PM, pp. 659ss). Numa linguagem como essa, qualquer substituic;ao d~ termos coextensionais ou co-referenciais preservaría o va l o~ de verdade do todo. Assim, num sistema lingüístico construido desse modo, a verdade dos enunciados teóricos dependería exclusivamente do conteúdo empírico dos enunciados atómicos, sendo finalmente o melhor candidato a linguagem universal da ciencia. Embora o objetivo de ambos os filó sofos , na época em que defendiam a tese extensionalista, fosse o de fixar um "significado" que pudesse ser testado empí ricamente, a mbos chegam a conclusao de que apenas a extensao nao é suficiente para determinar o predicado ao qua! nosso interlocutor estiver se referindo. Para Carnap, no entanto, essa
Dais caminhos para o holismo semcill/ico
55
conclusao é bastante séria, ela significa que nao podemos construir uma línguagem que sirva como a linguagem universal da ciencia. Assim, em Meaning and Necessity in Natural Languages, Camap modifica a sua posi~ao, introduzindo, como necessária para a semantica, uma no~ao "intensional" de significado. E, mais tarde, num artigo publicado como apéndice a esse livro, chamado "Meaning and synonymy in natural languages," ele sugere, antes do próprio Quine, o experimento ímagínárío em quesHio. Em resumo, o problema vislumbrado por Camap díz respeito ao fato de que dois falantes podem concordar quanto á aplíca~ao de uma expressao a todos os casos compartilhados sem, no entanto, usarem para designar essa extensao o mesmo predicado. Assim, segundo Camap, seria necessário também que recorressemos a estimula~oes contra-factuais para fixar unívocamente o predicado (ou propriedade) em quesfiio. 4 A essa no~ao mais "forte" de significado verificável empíricamente, Camap chama "significado intensional pragmático." (Camap 1956, p. 233).
2.2. A no~ao de "significado estimulativo" como urna herdeira da no~ao de "intensao pragmática" de Carnap Seguíndo o exemplo de Camap e visando mostrar que a no~ao de intensao pragmática do outro fi lósofo nao era suficiente para estabelecer um significado intensional unívoco para qualquer expressao da linguagem, Quine sugere a sua própria no~ao de significado pragmático, a qual ele chama "Significado estimulativo. " Assim, em W&0, encontramos a seguinte defini~ao dessa no~ao dada por Quine: "a classe de todas as estimula~oes [... ] que poderiam incitar o seu assentimento [ . .. ] o u dissentímento [ ... ) para um falante a." Maís adíante, ele concluí que "o significado estimulativo de uma senten~a para um indivíduo sintetiza suas disposi~oes para assentimento a, ou dissentimento de, uma senten~a em resposta a estimula~ao presente" (Quíne, p. 33).
56
At·aceli R. S. Velloso
Dois elementos presentes nessas dcfiniyoes sao fundamentais para a comprccnsao dos objetivos de Quine com o seu experimento radical: o emprcgo da expressao modal, "poderiam," no trecho citado, e o recurso a noc;:ao de "dísposivocs." Como era a íntenc;:ao de Carnap como scu próprio experimento, esses dois elementos da definic;:ao de Quine também foram propostos com o intuito de investigar se seria possível capturar, com urna noc;:ao mais forte de significado do que a noc;:ao de "significado extensional," a noc;:ao investigada por Carnap de "intensao pragmática. " Oc fato, cssa última envolvería nao só os casos atuais (que se prestam a uma comparac;:ao cxtcnsional), mas também todos os casos possíveis. O grande mérito dessa noyao seria, portanto, oferccer urna solu9ao para problemas semiinticos como, por exemplo, a dctcm1inayao completa do significado de predicados do tipo "Criaturas com rins" e "Criaturas com corayao," em func;:ao de critérios empíricos.
2.3. A coextensionalidade nao é nccessária para a "sinonimia estimulativa." Após definir a sua noc;:ao de "significado estimulativo," Quine prossegue cm sua argumentac;:ao introduzj ndo o conhecido exemplo do termo nativo ficticio "Gavagai" (considerado propositadamente com letra maiúscula). Ao sugerir esse exemplo, o filósofo insiste em assinalar que essa expressao representa um todq frasal e nao está determinado ainda se ela eleve ou nao ser compreendida como um termo, singular ou geral. A primeira considera9ao importante de Quine com relac;:ao expressao nativa "Gavagai" é a de que, como estrutura lingüística, ela seria opaca para nós numa situac;:ao de traduc;:ao radical: a mesma estimulac;:ao seria compatível com diferentes hipóteses de traduc;:ao cogitáveis e, scndo assim, nao teríamos como detenninar, apenas pela observac;:ao do comportamento verbal do nativo (ou seja, empiricamentc), se aqueJe proferimento deveria ser interpretado de uma ou de outra
a
Dois cominhos paro o hulismo semáw ico
57
maneira. Essa tese, que foi apresentada por Quine pela primeira vez no W&O (1960, p. 52, e 1969c, p. 35), ficou conhecida por todos como a tese da inescrutabilidade da referéncia. Segundo a tese inescrutabilidade da referencia, "Gavagai" poderia ser urna estmtura bastante complexa ou, ao contrário, bcm simples; ser traduzívcl por uma scntcnrya inteira em nossa língua, ou apenas por urna palavra. Poderia ainda ser, tanto um termo gcral, quanto um termo singular. Dentre as várias opryoes disponíveis para "Gavagai," caso escolhessemos traduzi-lo por u m termo, teríamos: ( 1) u m termo geral que denota um animal, "um coelho"; (2) um tem1o singular, "a coelbitude presente"; (3) um tetmo singular, "o segmento temporal de coelho presente"; (4) um tenno geral, "as partes nao destacadas de um coe lho" (Quine 1960, p. 51 - 2); (5) um termo geral, " um complemento universal de coelho" (Quine 1995, p.71). 5 Poderíamos também traduzi-lo por urna senten~a, como, por exemplo, "Aii vai um coelho!." A importante conclusao tirada por Quine desse exemplo é a de que "Gavagai" poderia ser traduzida por expressoes que, ao serem substituidas urna pela outra numa senten~a, nao manteriam o valor de verdade da mesma, ou scja, nao seriam inter-substituíveis salva veritate, e que, portanto, (1)-(5) nao seriam coextensionais, quando considerados como tradus:ao de "Gavagai-sentens:a." Contudo, embora nao fosscm coextensionais, todas cssas tradus:oes da língua nativa para língua do lingüista seriam sinónimas estimulativas da exprcssao "Gavagai" (e possivelmente sinónimas intensionais pragmáticas de aeordo com Carnap). Segundo Quine, portante, em ( 1}-(5), tanto a ex ten sao (o u referencia), quanto a própria disti n~ao entre termos gerais e tern1os singulares, seria inescrutável ncssa situas;ao (ou indeterminada como Quine prefere chamar mais tarde). Em outras palavras, a natureza e a referencia de tennos nao seria acessívcl de modo " transcendente." Ou ainda, nao poderia ser traduzida de um modo único de uma linguagem para outra. O que a tese da inescrutabilidade da referencia nos diz, com efeito, é que há uma limitac;ao inerente, ou em princípio, no processo de
58
Araceli R. S. Velloso
aprendizagem (ou tradus:ao) de uma língua radicalmente diferente. O resultado dessa limitas:ao é que, se temos apenas para nos guiar durante todo o processo de tradus:ao (e/ou de aprendizado de uma língua nativa) o comportamcnto verbal do nativo e as for9as que vemos afetarem a sua superficie, entao nao podemos estabelecer de modo determinado, nem a intensao, nem a extensao da expressao lingüística do nativo. Ou seja, a única tradus;ao que podemos oferecer, do ponto de vista transcendente, ou interlingüístico, sao estimulas;oes consideradas em sua totalidade como sendo o significado de sentcns;as completas, nao podemos oferecer uma traduyao específica para termos subsentenciais. Esse tipo de relas:ao entre uma sentens:a inteira e urna estimulas;ao completa será chamada por Quine mais tarde (Quine 1970, p. 182) de inte1pretar;éio holofrástica. Em decorrencia da constatas;ao dessas limitas;oes, e da tese da inescrutabilidade da referéncia, Quine decide ir mais além do que Carnap e concluir que, além da extensionalidade nao ser suficiente para garantir sinonímia-estimulativa, ela também nao seria necessária. Ou seja, poderia haver sinonimia estimulativa entre dois predicados e, ainda assim, nao haver coextensionalidade. Conseqüentemente, a nos:ao de "significado estimulativo" nao seria suficiente, nem mesmo para detenninar as próprias extensoes dessas expressoes. Nas palavras do próprio Quine: ( ... ) a coextensionalidade de tennos, ou mesmo a crenr;a nessa coextensionalidade, nao é suficiente para garantir a sua sinonímia estimulativa quando usados como sentenr;as de ocasiao. Agora vemos também que e la nao é necessária. (Quine 1960, p. 54.)
Após seu experimento, e em decorrcncia dos argumentos apresentactos cm favor da tese da inescrutabilidade da referéncia, Quine assume urna posis:ao cada vez mais distante de seu antigo mestre e mentor. Enquanto Carnap se aproxima da lógica modal e de nos;oes intensionais, considerando-as um mal necessário:
59
Dais caminlws para o holismo scmál1fico
Embora normalmente niio gostemos de empregar linguagens intensionais, ainda assim penso que nao podemos nos furtar a analisá-las. O que voce pensaría de um etimologista que se recusasse a investigar moscas e trayas, porque e las lhe desagrada va m? (Quine 199 1, p. 267 .)
Quine repudia tais noc;:oes, acusando Camap de ter sucumbido a uma espécic de vício: Bem, as moscas e trayas se mostraram viciantes. Por volta de 1946 ele estava liderando a lógica m odal. (Quine 1991 , p. 267)
Mas, se o caminho da lógica modal está fechado para Quine, será que rcstariam opc;:oes ao filósofo para estabelecer a referencia dos termos (ou a sua extensao) de urna língua em func;:ao de critérios empíricos comportamentais? A resposta de Quinc a essa pergunta é, mais uma vez, a tese que ele chama de holismo semántico. só que numa versao "moderada," como veremos a seguir.
2.4. A conclusao Holista pela segunda vía e sua gunda
rel a~ao
com a se-
A tese da inescrutabilidade da referencia constituí, por assim dizer, a segunda vía através da qual Quine acaba chegando novamente ao scu holismo semantico, na nova versao "moderada." Em poucas palavras, se as sentenc;:as proferidas pelo nativo numa situac;:ao de tradus;ao radical nao pudcrem ser determinados de modo unívoco, clas só poderao adquirir algum significado quando imersas cm um conjunto maior de sentenc;:as. Apenas no contexto mais amplo de urna língua, poderíamos ter a nossa disposic;:ao vários conjuntos de hipóteses6 de como interpretar um proferimento, e cada um deles determinaría arbitrariamente a escolha de urna tradus;ao possível para as sentenc;:as nativas, ou mesmo para o "idioleto" de um outro falante da mcsma língua.
60
Araceli R. S. Velloso
Essa segunda via, no entanto, apresenta uma diferen9a importante em rela9ao a primcira: ela vai de "baixo para cima," como rcssalta o próprio Quine: Existem dois caminhos para se pressionar a doutrina da indeterminac;:ao da tradw;iio a maximizar o seu escopo. Podemos pressionar de cima o u pressionar de baixo, jogando os dois extremos para o meio. [ ... ] por pressionar de baixo eu quero dizer quaisquer argumentos em favor da indeterminac;:ao da traduc;:ao7 que possam se basear na inescrutabilidade da referencia. (Quine 1970, p. 183.)
Em contraste, a primeira via envolvería, alternativamente, quaisquer argumentos que se baseassem na subdetenninac;:ao das teorías por todos os dados empíricos possíveis, ou seja: o holismo da confirmayao. No extremo superior, há o argumento, [... ], que visa persuadir qualquer um a reconhecer a indetermina<;iio da traduc;:iio das porc;:oes da ciencia natural que ele aceite como tais, como subdeterminadas por todas as observac;:oes possíveis. Se eu puder levar as pessoas a verem que essa lassidiio empírica afeta, nao apenas a fisica altamente teórica, mas o discurso sobre corpos que seja absolutamente senso-comum, poderei convence-las a admitir a indeterminac;:iio da traduc;:iio do discurso de senso-comum sobre corpos. (Quine 1970, p. 183.)
Foi cssa primeira vía que apresentamos no inicio do artigo, na seyao III. Assim, tanto "por cima" como "por baíxo," Quine ebega a mesma conclusao: nossas sentenyas teóricas sao índetem1inadas numa situac;:ao de traduyao radical no que concerne a sua estrutura predicativa (quais seriamos termos gerais e os tem1os singulares).
3. O holismo semantico "moderado"e suas conseqüencias A diferenc;:a importante que pudemos observar entre a primcira e a segunda via concerne a rejeic;:ao da tese extensionalista, movimento esse
Do is caminhos para u hulismu semiiw ico
61
que fica bem mais claro a partir de 1960, em Word and Object. Esse passo nao representa só uma reafinna9ao por parte de Quine do seu comprometimento com uma posi9ao anti-mentalista e antiintensionalista, como também lan9a o filósofo numa série nova, embora nao completamente inédita, de dificuldades teóricas. A mais importante dessas dificuldades é a que foi apontada pelo próprio Lepare em seu artigo "Quine, Analyticity and Transcendence" e reafirmado em conjun9ao com Fodor no segundo capítulo do livro, escrito a quatro maos, intitulado Holism: a shopper guide. Segundo os filósofos, o holismo semiintico de Quine apresentaria dificuldades insuperáveis como teoria semiintica e levaria a uma posi9ao relativista, com todas as suas conseqüéocias desagradáveis. Com efeito, urna conseqüencia imediata do processo arbitrário de fixa9ao do significado adotado por uma teoria semantica holista seria a de que, caso as hipóteses analíticas utilizadas fossem modificadas, o próprio significado dos tem1os (o u mesmo a própria classifica«yao em termo singular e tenno geral) também sofreria modificavoes, alterando, conseqüentemente, até mesmo o significado das sentenvas que nao dependessem de estimula«¡:oes presentes para serem aceitas como verdadeiras, as chamadas sentenvas permanentes. Ou seja, qualquer mudan«¡:a no modo de compreender uma única scntenva alteraría o significado de todas as outras sentenvas de uma língua para cada falante individual. É razoável concluir que, ao nao aceitar, ncm o caminho oferecido pela lógica modal, nem a alternativa mentalisJa, na constru«¡:ao de sua posivao filosófica, torna-se imperioso para Quine resolver esse problema seriíssimo: o relativismo, tanto o semantico, quanto o epistemológico. As conseqüencias do relativismo para a semantica, a fílosofia da mente e a epistemología sao bem conhecidas: se nao dispomos de critérios interlingüísticos que nos permitam comparar duas teorías diferentes e/ou duas línguas diferentes, nao podemos atribuir linguagem a outro falante, nem tao pouco decidir qual seria a melhor teoria científica dentre as várias teorias fommláveis adequadas aquetas experiencias.
62
Araceli R. S. Velloso
A solu~ao apontada pelos próprios Fodor e Lepore como o caminho alternativo que poderia ter sido escolhido por Quine para essas dificuldades consiste em postular um elemento transcendente que fizesse a ponte entre as diferentes teorias/línguas (Fodor e Leporc 1992, p. 42). Mas, para que essa ponte fosse construida, seria preciso dispor ao menos de uma parte da linguagem que nao fosse indetenninada quanto a tradw;:ao. Essa exigencia, no entanto, nos remete obviamente aos antigos argumentos do próprio Quine contra a possibilidade de tal determina<;ao. Com o objetivo de suavizar as suas conclusoes holistas, Quine oferece, já no próprio segundo capítulo do W&0, urna versao moderada do holismo semantico (Quine 1969a, pp. 79-81 ). Segundo essa versao, apenas o significado das sentenyas teóricas (ou permanentes) seria indeterminado, o que resguardaría as sentent¡:as de observa<;ao (aquelas que dependem de urna estimulat;:ao presente) um significado estimulativo determinado que pudesse ser considerado o seu "verdadeiro" significado. Esse seria, com efeito, o único caminho que podería ser ainda trilhado por Quine sem que fosse preciso abandonar a intui<;ao fundamental de que a experiencia deveria ser o tribunal último de nossas contendas semanticas e teóricas. Assim, resta a Quine a possibilidade de ressuscitar as velhas senten<;as de observas;ao (enunciados básicos ou sentens:as protocolares) e encontrar para elas um papel em seu novo verificacionismo, agora destituído de seus dois antigos dogmas . . Como podemos observar no fipa[ da obra de Quine em Pursuit of Truth e Stimulus to Science, os candidatos a portarem esse conteúdo empírico teoricamente neutro, responsáveis pela superar;ao da incomensurabilidade semantica e epistemológica de nossas linguagens/teorias seriam, na verdade, nao as senten<;as observacionais elas próprias, mas as sentens:as que Quine chama de "categóricos de observat¡:ao." Essas sentens:as especiais, compostas por duas sentens:as de observa¡¡:ao (consideradas bolofrasticamente) e um conectivo lógico (a implicas:ao) seriam, enfim, as viabilizadoras do holismo "moderado,"
Dois caminhos para o holismo seuu:imico
63
uma cspécie de novo " verificacionismo" sem dogmas, proposto por Quinc. Os categóricos assinalam, a mcu ver, a tentativa do filósofo americano de manter intacto um derradeiro bastiao da posis:ao verificacionista: considerar a experiencia como o tribunal último de nossas contendas teóricas e conflitos radicais. O novo vcrificacionismo proposto por Quine, contudo, nao poderia ser descrito fielmente como uma modalidade aprimorada de empirismo sem os scus antigos dois "dogmas." Seria mais corrcto dizer que ele seria uma versao falsificacionista (ou "popperiana") do veri:ficacionismo, sem contudo envolver, nesse processo de falsificar;:ao, uma nor;:ao mais forte de significar;:ao. Esse, no entanto, é tema para um outro debate.
Referencias bibliográficas Carnap, R. 1966. Dcr Logische Aujbau der Welt. Hamburg: Felix Mciner Verlag. (Primeira edir;:ao: 1928.) - . 1937. The Logical Syntax ofLanguage. Londres: Routledge. (Última edic;:ao: 1971.) - . 1956. "Meaning and Synonymy in Natural Languages." Meaning and Necessity A Study in Semantics and Modal Logic. Chicago e Londres: The University of Chicago Press. (Primeira edir;:ao: 1947.) - . 1991. Quine on an!llyticity. In Creath, R. (org.), Dear Carnap, Dear van: The Quine Carnap Correspondence and Re/ated Work. Berkeley: University of California Press: p. 427-32. (Escrito em 1952.) Dummett, M. 198 1. Frege Philosophy of Language. Cambridge, Massachusetts: Havard University Press. (Primeira edic;:ao: 1973). Fodor, J. e Lepore, E. 1992. Holism A Shopper 's Guide. Oxford: Basil Blackwell.
J
•
64
Araceli R. S. Velloso
Grice, H. P. e Strawsoo, P. F. l97l. " In defense ofa dogma." In · Roscnberg e Charles (orgs.), R eadings in the Philosophy of Language. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Halllnc.: 81-94. Hempcl, C. G. 1935. "On the logical positivists' theory oftmth." Analysis 2 (4). - . 1959. "The empiricist critcrioo ofmeaning." In Ayer, A. J. (org.), Logical positivism. New York: The Free Press: 108-29. Lepare, E. 1995. "Quine, analyticity and transcendencc." Publicado sobo título: "Two dogmas of empiricism and thc generality rcquircment." Nous 24: 468- 80. Putman, H. 1975. "The analytic and the synthetic. " Mind, Language and Reality. Cambridge: Philosophical Papers, v. 2: 33-69. Quine, W. V. O. 1980. "Two dogmas ofempiricism." From a logical point ofview, Cambridge: Harvard University Press: 20-46. (Primeira edicrao: 1951.) - . 1960. "Translation and Meaning." Word and Object, Cambridge, Mass.: The MlT Press:26-79. - . 1969. " Epistemology naturalized." Ontological relativity and other essays. Ncw York: Columbia University. - . 1970. "On the reasons for the indeterminacy of translation." The Journal of Philosophy 67: 178-83. - . 1986. Philosophy of Log ic. Cambridge: Harvard University Press. (Primeira edic;ao: 1970.) - . 1991. "Two dogmas in retrospect. " Canadian Journal ofPhilosophy 21:_265- 74. - . 1992. Pursuit ofTruth. Cambridge, Mass.: Harvard University Press . - . 1995. From Stimu/us to Science. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Stein, S. 1.1 996. O holismo semántico de Willard Quine: uma tentativa sistemática de compreender o significado. Porto Alegre. Disscrtacrao (Mcstrado em Filoso:fia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul).
1
Dois caminlws para o holismo semcinttco
65
- . 2002. A Construyc'io da Linguagem e do Mundo: aproximar;oes entre as obras de Carnap e Quine. Sao Pauto. Tese (Doutorado cm Filosofía, Universidadc de Sao Pauto). Velloso, A. 2004. O Ho/ismo "Moderado" de W. V O. Quine: um novo veriflcacionismo "Sem Dogmas". Rio de Janeiro. Tese (Doutorado cm Filosofía, Universidadc Federal doRio de Janeiro).
Notas 1
Muitas foram as defesas e comentários a respeito desse artigo logo após a sua publicac,:ao. A interpretac,:ao de Lepore, no entanto, propoe uma nova maneira de se encarar as críticas de Quine aos positivistas naquela ocasiao e nos interessa particularmente por suas conseqüencias. Essa interpretac,:iio pode ser encontrada em um artigo intitulado " Quine, Analyticity and Transcendcnce," apresentado ao próprio Quine em uma conferencia em 1992 . 2 Essas sao as duas principais reclamac,:oes de Quine no entender de Grice e Strawson. (Grice e Strawson, 1971, p. 9 1.) 3 Embora Quine se retira a noc,:ao de " método de confirmác,:ao," ele a abandona logo em seguida, preferindo fa Jar em relatos puros e simples da experiencia. 4 Um detalhe deve ser lembrado: no experimento de Carnap os dois individuos falam o mesmo idioma, o a lemiio. 5 Com esse exemplo, Quine enfatiza a ausencia de coextensionalidade, mostrando que a hipótese de traduc,:iio pode envolver até mesmo urna localizac,:iio espacial diferente (na verdade, necessariamente oposta). 6 .Quine chama essas hipóteses de " hipóteses analíticas." . 7 Estamos considerando como holismo semantico qualquer tese que implique na indetenninac,:iio semi\ntica de sentenc,:as isoladas .
•
O problema da intencionalidade: da idéia de 'objetividade imanente' na füosofia de Franz Brentano ao desafio da parte V das Investiga~oes Lógicas de Edmund Husserl Carlos D. C. Tourinho Uni,·cnidadc Federal do Río de .Janeiro
É na obra de Sao Tomás de Aquirf6':que o filósofo alcnü'io Franz Brentano ( 1838-1917) - p rofessor na Universidade de Viena - busca fundamentos para reeditar a questao da intencionalidade no último quarto do século XIX. Para Tomás de Aquino, existir na natureza (esse natura/e) é distinto de existir no pensamento (esse intentionale). As coisas criadas existiriam, portanto, de dois modos distintos: na natureza ou "fora da alma" (extra animam) e no intelecto (in inte//ectu). É ncsse segundo modo que encontramos a idéia de urna "inexistencia" da coisa no intelecto, a coisa segundo o modo de existencia de coisa pensada (secundum esse quod habet in intellectu). Tratase aí de urna " in-existencia" nao no sentido de " nao existir," mas no sentido de "existir em," conforme o modo ou tem1q característico da própria inteligencia. Apoiando-se ncsse segundo modo de existencia, no qua! as coisas existem 110 intelecto (in intellectu) enguanto "coisas pensadas," Brentano propoe urna teoria imanentista da intencionalidade, segundo a qua! o ato de ser intencional eleve ser definido como "ser objetivo cm sentido imancnte," o que eqüivale a dizer que todo ato mental contém em si algo como seu obj eto. Em sua obra de 1874, i ntitulada Psychologie vom empirischen Standpunkt (Psicología do Ponto de Vista Empírico), Brentano busca, basicamcnte, um critério de demarcac;:ao que pcm1ita o estabelecimcnDutra. L. li. de A. e f\•tortari, C. A. (orgs .). 2005. Epislemulugia: Anais clu 11' Simpúsiu llllemaciunal. Principia- Parle l. Florianópolis: NEUU FSC. pp. 67-77.
68
Carlos D. C. Tottrinho
to de uma distins:ao entre os fenómenos jisicos e os fenómenos mentais. No primeiro capítulo do Livro JI, Brentano comes;a essa discussiio com a seguinte afim1as:ao: "Todos os dados da consciencia sao divididos em duas grandes c lasses - a classe do fenómeno físico e a classe do fenómeno mental."' No quinto parágrafo, ainda no Capítulo 1 do Livro 11 da Psicología do Ponto de Vista Empírico, Brentano introduz o que considera a característica que melhor permite-nos distinguir os fenómenos mentais dos fenóm enos físicos: trata-se da relas:ao intencional entre atas mentais e seus objetos. A idéia central de Brentano é a de que os fenómenos mentais sao atas mentais dirigidos (ou voltados) para os seus objetos. Em principio tais objetos sao fenómenos fisicos, porém, os fenómenos mentais (o u "atos mentais") podem também tomar-se objetos de outros atos mentais. A relayiio entre fenómenos mentais e fenómenos físicos é, portanto, uma relar;clo entre atos mentais e seus objetos. Brentano irá caracterizar esta relas;ao a partir de uma reediyao da concepyao aristotélico-tomista de "inexistencia intencional" de um objeto, in-existencia essa entendida nao no sentido de "nao-existencia," mas de "existencia em."2 Após eair em desuso no Renascimento e na Modernidade, essa tenninologia foi, entao, revivida por Brentano, por meio da expressao medieval " inexistencia intencional" do objeto,3 usada para veieul ar a idéia de que o objeto do pensamento in-existe como tal no pensamento, no qual se toma um objeto do próprio ato mental. Eis a definis:ao do termo "intencionalidade" na filosofia de Brentano: "ser objetivo em sentido imanente," o que eqUivale a dizer que tod.o fenómeno mental contém em si algo como seu objeto (ou seu conteúdo). O campo fenomenal se abre revelando, em sua imancncia, a referencia intencional aos objetos. Em Brentano, a inteneionalidacle (ou " in-existencia intencional") aparece, entao, como um critério de demarcayao, como aquilo que diferencia o fenómeno físico do fenómeno mental. Somente o fenómeno mental possui inteneionalidade. No pensamento de Brentano, a noyao de " inteneionalidade" assume, pelo menos, duas fom1as distintas: a primeira delas é conhecida como " intencionalidade primária," ao passo que a segunda será co-
O problema da intenciona/idade
69
nhecida como " intencionalidade secundária." Em linhas gerais, entende-se por " intencionalidadc primária" a relayao entre um ato mental e o seu conteúdo que, por dcfiniyao, dcvc distinguir-se desse ato. Temse, entao, nesta primeira forma de intencionalidade, um ato naoreflexivo, ou seja, um ato mental cuja direfí:i'iO é voltada para um conteúdo (ou objeto) que, por sua vez, nao se confunde com esse ato. Na maioria das vezes, a "intencionalidade primária" revela urna relayao intencional entre um fenómeno mental (entendido como um " ato mental'') e um fenómeno fisico (entendido como um "objeto" ou "conteúdo" deste ato). No entanto, o fenómeno mental (enquanto um "ato mental") nao está confinado a ter um fenómeno fisico como seu objeto (ou contcúdo), pois, atos mentais podem também ser objetos (ou conteúdos) primários de outros atos mentais. Suponhamos, por exemplo, a lembran9a da visao de um certa cor. Ncste caso, a cor é um fenómeno físico e a visao dessa cor é um ato mental. Mas, quando me lembro da visao dessa cor, aquele ato mental deixa de ser um ato para se toma agora um objeto (ou um contcúdo) de um outro ato mental, mais precisamente, do meu ato de memória. A relayao de intencionalidade primária nao apresenta, portante, urna forma reflexiva, pois, nesta relafYaO, o ato mental nunca poderia tomar a si próprio como um objeto primário. Qualquer fenómeno - seja ele mental ou fisico - pode ser um objeto primário de um ato intencional, com a exce9ao do próprio ato. A consciencia primária envolve, entao, urna rela9ao intencional que pode, a título de ilustrayi'io, ser representada da seguinte forma: a é um ato mental, e é o se u _conteúdo e a nao é identico a c. Se na intencionalidadc primária, o ato mental nao se confunde com o seu conteúdo, na relayao de " intencionalidadc secundária," Brentano faJa-nos de uma consciencia que se volta sobre o próprio ato mental dirigido, originariamente, a um conteúdo, assumindo, portanto, uma fonna reflexiva. No sétimo parágrafo do capítulo 2 do Livro II de sua Psicologia do Ponto de Vista Empírico, o autor afirma-nos que podedamos, em principio, supor, na relavao entre o ato mental e o seu obj eto, duas "apariy5cs" (ou " p!·escn9as"): a do objeto (ou conteúdo) do ato mental e a do próprio ato mental. Nos tem1os do autor: ." .. nenhum
70
Corlus D. C. Tourínllo
fenómeno mental é possívcl sem uma consciencia con-elativa. Com o aparccimento de um som, nós ternos, ao mesmo tcmpo, o aparecimcnto do aparecimento deste som. Nós temas, por conseguinte, duas apariyocs (ou prcsen9as), e apari96es de tipos muito diferentes. Se nós chamamos o aparecimcnto de um som de "audi9ao," nós temos, cm acréscimo ao aparecimento deste som, o aparecimento da audiyao, que 4 é tao diferente da audi9iio quanto a audi9ao é do som." Portanto, para Brentano, ncste sentido sincrónico, a consciencia reflexiva parece possível. Trata-se, na intencionalidadc secundária, de urna estmtura mais complexa de ato intencional do que aquela formulada na intencionalidade primária, cuja rela<;:ao era, conforme vimos, a de um ato mental com o scu conteúdo imancnte, podendo csse contcúdo ser um fenómeno físico, isto é, uma qualidade sensorial (um som, uma cor, etc.) ou um fenómeno mental (um ato mental que foi, por exemplo, lembrado, imaginado, pensado, etc.). EntTc a intencionalidadc secundária e a intencionalidade primária, há uma relavao de dependencia, pois, a primeira supcrvem da segunda, ou scja, é preciso que se tenha consciencia de um conteúdo (ou de um objeto) para que se possa, entao, ter consciencia de que se está, em um dado momento, tendo consciencia de algo. Em acréscimo ao "objeto primário," o ato mental ganha, nesta fom1a reflexiva da intencionalidade, um "objeto secundário": no caso cm questao, o próprio ato mental. Daí Brcntano dizer que: "todo ato, por mais simples que seja, possui um duplo objeto.'.s Nota-se, portanto, cm Brentano, tres classes de consciencia intencional: (1) existem a.tos mentais cujo contcúdo primário é um fenómeno físico (ou urna qualidade sensorial). Estes sao conhecidos como atos de percep.¡:ao externa, cmbora tais atos nao scjam percep9oes de um mundo "externo," pois, conforme vimos, o fenómeno fisico (luz, som , calor, etc.) encontra-se, enquanto um dado da consciencia, presente no ato mental de forma imanente; (2) existcm atos mcntais cujo conteúdo primário é um outro ato mental. Brentano chama-os de "introspecvao" ou ''observa9ao interna" (Beobachtung). Um exemplo desta classe de consciencia intencional pode ser dado com o ato de lembranva cujo conteúdo é algum ato mental prévio (." .. quando nós
O problema da imencionalidode
71
relembramos um ato de ouvir prévio, nós nos voltamos para ele como um objeto primário, e assim nós algumas vezes nos voltamos para ele como observadores .. ."); (3) e por fim, a consciencia sincrónica, reflexiva de um ato mental como um objeto secundário, quer dizer, a consciencia que um fenómeno mental tem de si mesmo. É a consciencia desse último tipo que Brentano denominará de "percept;:ao iotema" (Wahrnehmung ), conferindo-lhe os atributos da "infalibilidade," "auto-evidencia" e assim por di ante. Do ponto de vista terminológico, nós poderíamos distinguir, enHio, em Brentano, tres classes ou tipos de consciencia intencional: "pcrcept¡:ao externa," " introspect;:ao" (ou "observat;:ao interna") e "percept;:ao interna." 6 A teoría de Brentano influcnciaria toda urna gerat¡:ao de filósofos do final do século XIX, tais como, Kazimierz Twardowski ( 18661938), A lexius Meinong (1853- 1920), Edmund Husserl (1859- 1938), dentre outros, inspirando, principalmente, o movimento da fenomenología que se desenvolvería no decorrer do século XX. Estes mesmos filósofos se encarregariam de retomar e ampliar algumas das not;:oes mais importantes presentes na filosofia de Brentano. Mas, é com Husserl que o tema da intencionalidade ganba, na passagem do século XIX para o século XX, um novo encaminbamento. Como herant¡:a do pensamento de Brentano, Husserl retém a idéia básica de que a intencionalidade é a peculiaridade da experiencia de ser consciente de alguma coisa. 7 A partir deste ponto, notam-se diferent;:as importantes entre as respectivas concept;:oes teóricas desses dois autor~s. Enguanto Brentano restringe-se em dizer simplesmente que para todo ato mental há 11m objeto sobre o qua! o ato estará dirigido ou voltado intencionalmente, Husserl concentra o foco de suas atent;:oes sobre a " diretividade" deste ato, que faz com que o mesmo relacione-se intencionalmente com um objeto. Existem, em principio, dois motivos aparentes para esta nova preocupat;:ao: Husserl quer superar as dificu ldades concernentes a atos que carccem de objetos, uma questao cujas solut;:oes foram consideradas insatisfatórias por parte dos alunos de Brentano; além disso, para Husserl, toma-se de fundamental importancia esclarecer o que significa para um ato ser "de"
Carlos D. C. Tourinlw
72
alguma coisa, ou estar dirigido ou voltado ''sobre" alguma coisa.8 A solw;:ao proposta pór Husserl foi enfatizar o "de" da rela~ao intencional entre a consciencia e o seu objeto. Consciencia é sempre consciencia de alguma coisa, ou melhor, consciencia é sernpre como se fosse de um objeto. Descrever a diretividadc da consciencia intencional dizendo apenas que a consciencia é dirigida para um objeto deixa-nos "no escuro" quanto ao que vem a ser cssa tal "diretividade" da consciencia. Afina! de contas, cm que ela consiste? Husserl parece ter feíto deste tema o tema central da fenomenología. Pode-se dizcr que, até 1900, Husserl se mantém um defensor da teoría da intencionalidadc fomecida por Brentano, assumindo, tal como o "mestre de Viena," que a propriedade característica de um fenómeno mental é a de ser "diiigido para um objeto." Na explica~ao dcssa propricdade, Husserl recorre, tal como Brentano, in-existencia imanentc de um conteúdo mental. Aqui , a no~ao de "conteúdo" é para ser tomada literalmente: o objeto intencional está contido no fenómeno mental como uma de suas próprias partes. Estabelece-se, como vimos, urna equivalencia entre o "objeto" e o "conteúdo" de um ato mental. Inspirado cm Brentano, o primeiro Husserl admite, entao, o chamado "principio de adequa9ao mcrcológica," segundo o qual o objeto ou conteúdo de um ato mental in-existe como tal no próprio ato, enguanto uma de s uas próprias partes. E m suas lnvestigar;oes Lógicas ( 1900/1901 ), obra que anuncia o nascimento de urna nova disciplina, a "fenomenología," inicialmente d.e tinida como "ontología pura das vivencias," Husserl foq1ece-nos uma nova conceps:ao de intcncional idade, rompendo, sob certos aspectos, com o pcnsamento brentaniano. O ponto de rompimento com rela9ao teoría da intencionalidadc formulada por Brcntano concentra-se na rejeis:ao do princípio de adcqua9ao mereológica. Estabelecese, a partir desse momento, a distins:ao entre "conteúdo" e "objeto" de um ato mental. A nova teoría de Husserl partirá da idéia de que, no que se refere a qualquer ato ITlental particular, "conteúdo" e "objeto" nunca coincidem. Enguanto o conteúdo de um ato (ou de uma vivéncia intencional) encontra-se presente no próprio ato, como uma de
a
a
O probfe1110 do intc'IICiollafidatfe
73
suas partes, o objeto intencional de um ato, cm qualquer circunstancia, nao será uma parte daqucle ato, nao estando, portanto, contido nelc de fom1a imanente. 9 O e ixo das aten¡;6es concentra-se, enUio, neste momento da obra de Husserl, cm torno da ncccssidade de elucidar a "refen!ncia intencional" da consciencia sobre os objetos, ou seja, o modo por meio do qua! a consciencia se refere a um objeto. Afina\, como nos lembra o próprio Husserl, existem essencialmentc diferentes cspécies e subcspécies de intenc;:oes, diferentes modos de referencia intencional ("Somente um ponto tem importancia para nós: o de que existam diferen<;:as cssenciais, específicas entre rela¡;oes intencionais ou inten¡;oes"). 10 Passa a ser de fundamental importancia a investiga<;:ao do momento interno de um ato (ou de uma vivencia intencional) que, no próprio ato, é responsável pela detennina¡;ao de sua referencia objetiva. Estamos aí frente a questao central da fenomenología. Nela, ve Husserl "um grande descobrimento mediante o qua!, e só mediante o qua!, foi possível a fenomenología." Para Husserl, a rcla<;:ao intencional entre a consciencia e scus objetos nao pode ser interpretada, tal como propusera Brentano, como urna rcla<;:ao na qua! o objeto inexistiría ou estaría presente de fonna imanente no fenómeno mental. De imediato, tal afirma<;:ao cria um desafio, para o qual a Investigas:ao Quinta tentará nos fornecer uma resposta : como os e lementos atualmcnte presentes em um ato mental podem capacitar essc ato a objetivar, referir ou significar alguma coisa que, por sua própria naturcza, nao faz parte dele, ao contrário do que se pensava na posi<;:ao anterior? Todo o esfor<;:o será, entao, o de busc.ar uma solu<;:ao para o problema de como algwna coisa (um ato mental), cm virtudc somente de sua constitui<;:ao interna (suas várias partes e momentos), pode exitosamente cstabelecer uma referencia a alguma outra coisa (um objeto nao-imancnte ao ato mental), que nao scja, neste caso, ncm identico ao ato mental, nem a qualqucr de suas partes ou momentos. Como faz questao de ressaltar o próprio Husserl: ." .. é de um intcrcsse epistemológico fundamental conseguir a máxima clareza possível acerca da cssencia desta rcferencia." 11 Eis, portanto, o desafio maior da Investiga<;:ao Quinta.
74
Carlos D. C. Tourinho
No parágrafo 16 da Quinta Investigacrao, Husserl chama-nos a aten9ao para a idéia de "conteúdo fenomenológico de um ato," entendendo tal idéia como a soma total das partes abstratas e concretas que constituem um ato. Em outras palavras, "trata-se da soma total das vivencias parciais que realmente constituem o ato." 12 Segundo Husserl, deve haver, no próprio conteúdo fenomenológico de um ato, um elemento que determine o objeto para o qua! o ato mental estaria voltado intencionalmente, mas também um elemento rcsponsável por fazer com que o objeto possa ser intentado por um ato como um objeto julgado, desejado, representado, etc. Como o próprio Husserl faz questao de ressaltar: dcvcmos estabclccer urna distin¡yao entre o objeto tout court que é intencionado em urna dada ocasiao e o modo como ele é entao intencionado. 13 Afina!, se identificamos urna vivencia intencional (ou um ato) como um "julgamento," deve haver alguma determina¡yao interna ao próprio ato que sirva para distinguí-lo de outros tipos de atos, dos atas de desejar, de acreditar, de ter esperantya, etc. Um objeto nada seria para urna consciencia se ela nao apreendesse algo como um objeto, e se ela nao permitisse a esse algo tornar-se objeto de um sentimento, de um julgamento, de um desejo, etc. A investiga¡yao desses elementos (dessas partes ou momentos constituintes de u m ato) faz reaparecer o que consideramos ser a questao fundamental da intencionalidade em Husserl: como pode um ato, em virtude somente de sua constituityao interna, dirigir-se intencionalmente para algo que nao está contido nele como uma de suas partes ou momentos constituintes? Qu~is os elementos que, no próprio ato, tomariam possível um direcionamento como esse? Concentrando-se sobre o conteúdo fenomenológico de um ato (particulannente, sobre o que posterionnente seria definido como a "essencia intencional de um ato"), como fotma de responder a esses questionamentos, Husserl promove, a partir do parágrafo 20, urna investigacrao do que denomina de "partes abstratas" de um ato mental, acenando com urna resposta para a questao fundamental da intencionalidade. Destacam-se os conccitos de "matéria" e de "qualidadc" de um ato mental , definidos, em termos gerais, como dois momentos abstra-
O problema da intencimmlidade
75
tos, dois constituintcs intemos, comuns a todos os atos. A matéria é, segundo Husserl, aquela parte peculiar do conteúdo fenomenológico de um ato que aponta o objeto para o qua! o ato estaría dirigido ou voltado intencionalmente, determinando, portanto, o direcionamento do ato para este objeto e nao para outro ("É a matéria de um ato que faz com que o objeto do ato conte como este objeto e nao como outro"). 14 A matéria intencional deve ser, portan lo, aquele elemento em um ato mental que detcm1ina, primciramente, a sua referencia a um objeto (ou a sua " referencia objctiva"). 15 Tal referencia nao apenas fixa o objeto significado, mas também o modo preciso no qua! ele é significado. Ou seja, a matéria de um ato mental é aquela parte peculiar do conteúdo fenomenológico de um ato que nao apenas determina o que é apreendido como um "objeto," mas também, como que o objeto é aprecndido: propriedades, relayoes, formas categoriais, etc. Já a "qualidade" de um ato mental é, tal como a matéria, um aspecto abstrato do próprio ato (que juntamente com a matéria constituí a ''essencia intencional do ato"), porém, enquanto a matéria determina o objeto para o qua! o ato estaría dirigido intencionalmente, a "qualidade somente determina se o que é já apresentado de uma maneira definida encontra-se intencionalmente apresentado como algo desejado, questionado, localizado em um julgamento, ctc." 16 Enquanto um aspecto abstrato do ato, a qualidade se tomaría impensável, caso fosse dissociada da matéria, pois, a qualidade de um ato somente poderia determinar algo que se apresentasse para um ato como algo desejado, imaginado, julgado, etc., caso esse algo para o qual o ato mental cstivessc voltado já se encontrassc determinado pela matéria do próprio ato. Do mesmo modo, caso fosse dissociada da qualidade, a matéria seria impcnsável, pois, coisa alguma poderia ser determinada como o objeto de um ato mental sem que dcixasse de se apresentar como algo desejado, questionado, julgado, etc. Neste sentido, como nos diz Husserl, nós devemos conceber a matéria e a qualidade de um ato como dois aspectos mutuamente dependentes. Seria adequado chamar a unHío de ambos os aspectos como a "esscncia intencional de um ato" (ou mais específicamente, ''essencia scmantica de um ato").17
76
Carlos D. C. Tourinho
A presenya destes dois aspectos em um ato mental se toma necessária quando nos referimos a possibilidade de urna vivencia intencional. E is, portanto, os elementos que, no próprio ato, tornariam possível o direeionamento intencional. Husserl concentra, enUio, sobre a "matéría" e a "qualidade" de um ato (ou de urna vivencia intencional) um ponto de apoio para a superayao do desafio que o problema da intenciona lidade impoe a parte V das lnvestiga¡;oes Lógicas.
Referencias bibliográficas Bell, D. 1995. Husserl. The Arguments of the Philosophers. Edited by Ted Honderich. Routlcdge. Londres e Nova York. Brentano, F. 1973 [ 1874). Psychology from an Empírica/ Standpoint. Ed. by L. L. McAiister, translated by A. C. Raneurello, D. B. Terrell and L. L. McAlistcr. Londres: Routledge & Kegan Paul. F01lcsdal, D. 1998. " Edmund Husserl (1859-193 8)." In Craig, E. (org.), Routledge Encyclopedia ofPhilosophy. Londres: Routledge. Husserl, E. 2001 [ 1900/19001]. Logical lnvestigations (Volume II). Londres e Nova York: Routledge: Thomae de Aquino 1970. Quaestiones Disputatae de Veritate (Quaestio Prima). OPERA OMNIA. TOMUS XXII. Volumen I, Fase. 2. lussu Leonis XII P. M. Edita. Romae ad Sanctae Sabinae.
Carlos Diógenes C. Tourinho Doutor em Filosofia (PUC-RIO) Professor e pesquisador ligado ao Programa de Pós-Graduayao em Filosofia da UFRJ e-mai l: cdctourinho@yahoo.com.br
O problema da intencionalidade
77
Notas 1
C/ Brentano, F. Psy chology ji-om an Empirical Standpoint; pp. 77/78. A propósito dos primeiros empregos da concepc;ao de "in-existencia intencional" de um objeto, Brentano afirma-nos que: primeiramente, coube a Aristóteles citar, em seu livro sobre a alma, a idéia de que o objeto apreendido pelos sentidos encontra-se, como tal, naquele que sente; a idéia de que o objeto pensado encontra-se no intelecto pensante. Do mesmo modo, Sao Tomás de Aquino ensina-nos que o objeto que é pensado encontra-se intencionalmente no intelecto pensante, de modo que o objeto que é amado encontra-se na pessoa que ama, o objeto que é desejado na pessoa que deseja, e assim por diante. C/ Id.; p. 88. 3 Segundo Brentano, os medievais também usam a expressao " existir como um objeto (objetivamente) em alguma coisa." Cf !bid.; p. 88. 4 Cf lbid. ; p. 121. 5 Cf /bid; pp. 128/ 153. 6 Cf Bell, D. Husserl; p. 24. 7 Cf Fellesdal, D. "Edmund Husserl (1859- 1938)." In: CR.AlG, E. (ed.) Routledge Ency clopedia of Philosophy. Routledge; p. 576. S Cf Id. 9 Cf Husserl, E. Logical lnvestigations (Volume II). lnvestigac;ao Quinta/ parágrafo 11; p. 99. 1 Cf Jbid. , parágrafo lO; p. 96. A respeito dos diferentes modos de referencia intencional, Husserl ainda nos diz: ." .. é evidente que hajam modos de consciencia ou de referencia intencional a um objeto essencialmente distintos. O caráter da intenfiio é específicamente distinto nos casos da percepc;ao, da rememorac;ao simplesmente 'reprodutiva' , da representac;ao imaginativa no sentido habitual da apercepc;ao de estátuas, quadros, etc., e do mesmo modo nos casos da representay:ao simbólica e da representac;ao no sentido da lógica pura. A cada momento logicamente distinto de representar intelectualmente um objeto, corresponde uma variedade de inten~ao . " Cf lbid. , parágrafo 14; pp. 1051106. 11 Cf !bid.. parágrafo 22; p. 129. 12 Cf !bid., parágrafo 16; p. 112. 13 Cf !bid., apendice ao parágrafo 11 e ao parágrafo 20; p. 127. 14 C/ !bid., parágrafo 20; p. 122. 15 Cf !bid, parágrafo 22; pp. 128/ 129. 16 Cf !bid. parágrafo 20; p. 121. 17 C/ !bid. parágrafo 21 ; pp. 122/ 123. 2
°
Para a crítica da semantica inferencia! Celso R. Braida Universidade Federal de San la Cararina
O objetivo desse texto é fazer urna análise das teorías que procuram fornecer urna explica<;ao da significatividade e, sobretodo, do conteúdo semantico das expressoes sentenciais, sem recorrer aos nexos referenciais, os quais, embora n ao inteiramente elimi-nados, sao enHio concebidos ou como exteriores a semantica ou como secundários e derivados das relac;:oes infercnciais. O ponto de partida dessas teorías é a priorizac;:ao da noc;:ao de conteúdo semantico sentencial, ou como aquilo que é expresso pelo proferimento de urna sentenc;:a, ou como um elo numa cadeia comunicacional-inferencial. A hipótese é que tal conteúdo asserívcl, isolável como algo determinado e codificado em urna sentenc;:a, se deixa especificar inteirarnente a partir das premissas ou condi9oes de sua asserc;:ao e das conseqüencias de sua asser<;ao. A explana<;ao dessas condic;:oes e conseqücncias esgotaria o conteúdo asserível em questao. Pode-se considerar a questao para a qual as teses semantieas sao urna resposta como conccmindo ao modo como alcanc;:arnos a determinac;:ao do eonteúdo semantico de urna expressao lingüística. Tratase de saber quaís fatores envolvidos no uso de urna linguagem sao constitutivos e quais sao derivados. A esta questao os infereneialistas respondem dizendo que é por meio da espceifieac;:ao da contribuic;:ao ou do papel qoe uma dete1minada expressao exeree no interior de uma cadeia comunicacional-infcrencial. Esta resposta articula-se por meio de um plexo de alcgac;:oes acerca da ordem de explanac;:ao semantica, no interior do qual destacam-se: (l.) prioridade lógico-semantica da Dutra. L. H. de A. e Monari. C. A. (Or!;S.). 2005. Episremulugia: Anais c/u IV Simpúsiu lnteruaciunal. Principia - Par!<' l . Florianópolis : NELIUFSC. pp. 79- 122.
80
Ce/su R. Braida
proposi9ao sobre os tem1os, e das scntenr,:as em rela9ao as partes subsentenciais; (2) prioridade da no9ao de verdade sobre as demais noc;:oes semanticas; (3) prioridade das conexoes anafórico-substitucionais cm relacrao as referenciais; (4) interpreta9ao substitucional dos quantificadores; e, por conseguinte, (5) dispensabilidade dos modelos ou domínios de referencia para a clefinir,:ao das nor,:oes lógico-semanticas. Filosoficamente, a proposta inferencialista cumpriria de modo exemplar as exigencias metodológicas propostas por E. Tugendhat para uma teoría da linguagem nao orientada para objetos. E, além clisso, constituiría uma forte alternativa justificadora da neutralidacle ontológica advogada por A. Tarski para a Seman6ca. Pois, nela, a func;:ao semantica das expressoes referenciais é explanada em te1mos intralingüísticos sem a pressuposi9ao de algum tipo de remissao a objetos, liberando assim a Semantica de comprometimentos ontológicos. Todavía, para realizar isso a explana¡¡:ao inferencialista tcm que ser capaz de resolver as propriedades referenciais inteiramente em tennos de relac;:oes intralingüísticas. Por meio da exposic;:ao das suposic;:oes e teses básicas do inferencialismo semantico, eu pretendo tornar evidente a sua parcialidade, no sentido de ele nao ser capaz, por um lado, de explicitar o inteiro conteúdo semantico de todas as expressoes significativas e, por outro, de nao conseguir evitar o colapso de distinr,:oes semantieas óbvias sem recorrer a nexos referenciais.
l. Inferencialismo semant.ico 1
A justificar,:ao e a exposicrao da teoría inferencial do conteúdo semantico comecra pela explanar,:ao da relar,:ao entre um juízo e os conceitos nos quais ele pode ser decomposto, ou entre uma sentenc;:a e as palavras nela articuladas, ou entre a proposi¡¡:ao expressa e os tennos proposicionais. A idéia básica é conceituar a proposir,:ao, por um lado, como a unidade pela qual se pode realizar um ato semantico, como o que é asserido (que é afirmado, negado, questionado, solicitado, etc.), e por outro, como algo inferencialmente articulado, isto é, como algo
Para a critica da semálllica infe rencia/
81
que estabelece uma recte de implicayoes em termos de condiyoes e conseqücncias. 2 Ter conteúdo semantico, o u conteúdo conccitual, nao é ser representayao de algo ou referir a algo, mas ter um papel ou valor inferencia! no interior de mna cadcia de asser9oes: to have conceptual content is just ... to play a role in the inferential game of making claims and giving and asking for reasons. To grasp or understand such a concept is to have practica! mastery over the inferences it is involved in- to know, in the practica! sense ofbeing able to distinguish (a kind of know-how), what follows from the applicability ofa concept, and what it follows from. 3
Os conceitos semanticos pelos quais sao explanadas as propriedades das expressoes, enquanto significativas, sao definidos a partir das propriedades inferenciais. O conteúdo semantico é determinado primeiramente para aquetas expressoes que podem ser veículos de uma asser9ao ou juízo e, ainda assim, apenas na medida em que elas sao postas em correla9ao com outras senten9as, isto é, apenas na medida cm que sao postas numa rela9ao de equivalencia ou nao-equivalencia inferencia! com outras senten9as, segundo o modelo inaugurado por Frege:
1
Há dois modos pelos quais o conteúdo de dois juízos pode diferir; pode ou pode nao ser o caso que todas as inferencias que podem ser retiradas do primeiro, quando combinado com outros juízos, podem sempre também ser retiradas do segundo quando combinado com os mesmos outros juízos. As duas proposiyoes 'os gregos derrotaram os persas em Platea' e 'os persas foram derrotados pelos gregos em Platea' diferem ao primeiro modo; mesmo se uma pequena diferenc;:a de sentido é discernível, a concordancia de sentido é preponderante. Agora, eu denomino aqueta parte do conteúdo que é a mesma em ambas conteúdo conceitual. Apenas este tem importancia para nossa linguagem conceitual. 4
Disto segue-se que a cspccificayao do conteúdo semantico de uma senten9a apenas é completado pelo mapeamento de seu potencial infe-
82
Ce/so R. Braida
rencial, isto é, daquilo que permite e daquilo que se segue de sua asservao, junto com outras asserv5es. Além disso, o principio da prioridarle lógica da proposivao determina que as expressoes subsentenciais apenas tenham uma significavao determinada no contexto de urna sentenva, o que é em geral enunciado recorrendo-se ao principio do contexto fregeano: apenas no contexto de uma proposü;iio (Satz) uma pafavra tem um significado (Bedeutung). 5 O que significa dizer que o significado ou valor semantico de urna expressao subsentencial é definido pela deterrninavao da sua contribuivao semantica para os contextos em que ela ocorre. Desse modo, qualificar uma semantica como inferencia/ significa dizer que nela a relas;ao entre as expressoes significativas e, sobretudo, a relas;ao entre os valores de verdade das expressoes sentenciais, é tomada como decisiva no momento de determinar o que urna dada expressao significa ou expressa. A significatividade das expressoes e, mais precisamente, o seu conteúdo semantico, tem que ser compreendido e explanado em termos de papéis inferenciais, 6 ao invés de o ser em termos referenciais. O uso de urna expressao, com um detenninado conteúdo, implica o endosso dos comprometimentos inferenciais materiais das condi96es autorizadoras (premissas) e das conseqüencias do seu uso. A determinas;ao do conteúdo semantico nao é senao a especificas;ao dessas condis;oes e dessas conseqüencias. Urna vez que a proposis;ao tem precedencia sobre as suas pmtes, a determinas;ao das suas propriedades semanticas precede logicamente a deterrninavao da funvli() semantica das partes. O ponto central da tese inferencialista está na definis;ao da significatividade, a qua! é definida e explanada com a novao de relavao entre as expressoes que compoern urna linguagem: To define the sense of a word, it is sufficient to define the sense relations that it bears to other expressions in the language, i.e., identifying its homonyms, hyponyms, superordinates and opposites as well as any other selectional properties il may have. 7
?ara a crítica da semtimica inferencia!
83
Esta tese é urna dccom~ncia natural daquilo que pode ser considerado o cerne diferencial dcsse tipo de semantica, a saber, a definic¡:ao da significatividade a partir de noc¡:oes scmanticas primitivas m1orcferenciais, especi0camcnte conccrnentes as rclac¡:oes anafórico e inferenciais existentes entre as exprcssoes componentes de uma linguagem. Este cerne está constituido por urna suposic;:ao, cm geral apresenlada como principio, que é a exata negac¡:ao da tese refercncialista. Coro efeito, a tese referencialista diz que a signifícac;:ao das sentenc¡:as é inteiramente determinada pe~a propricdades refereneiais neJas atiiculadas. Por sua vez, as propriedades refercnciais das expressocs constituintes sao dccorrentes das suas relac;:ocs com coisas no mundo naolingüistico.8 A tese infercncialista parte da suposic¡:iio inversa, a saber, que as propriedades inferenciais de urna expressao constituem o seu significado, isto é, a partir da negac¡:ao do primado da relac¡:ao de refen!ncia na constituic;:ao do conteúdo semantico, sem, note-se logo, negar a referencialidade da linguagem. A significatividade de uma expressao seria constituida e determinada apenas pelo papel inferencia! que ela exerce, ou seja, pelo modo como a sua ocorrencia afeta as rclac;:oes de implicac¡:ao e conseqüencia no interior de uma seqücncia discursiva. ., Desse modo, a tarefa de urna teoría semantica estaría limitada a explorac;:ao das potencialidades inferenciais de uma determinada linguagem. Dito de outro modo, a proposta inferencialista constituí-se como a tentativa de "definir a dimenséio extensional do discurso em termos de comprometimenlos substitucionais-infe,renciais, " 9 e que cstes comprometimentos podcm ser explanados unicamcnte em termos de relac;:ocs intralingüísticas: an analysis in terms of anaphoric mechanisms can providc the resources for a purely intralinguistic account of the use of the English sentences by means of which philosophers make asscrtions about extralinguistic rcferential relations. More specitically, although we can and must distinguish between our words and what the words refer to or have as their referents, the truth of claims about what we are referring to by various utterances is not to be understood in terms of a re/a-
84
Ce/so R. Braükr
tion of reference between expressions and the objects we use them to talk about. Following Sellars, it will be argued that ' refers' not be semantically interpreted by or as a rclation and, a fortiori, not a wordworld relation. 10
lsto implica que as nos;ocs semanticas sao relacionais, mas que as relas;oes explicitadas pelo discurso scmantico expoem a trama de rela<yoes internas entre a significa<yao das exprcssoes componentes de urna linguagcm. Por conseguinte, a definis;ao do conteúdo semantico sentencia!, em uma semantica inferencialista, constrói-sc a partir de no<yoes que envo lvem a detennina<yao das re las:oes entre as expressoes significativas. Isto aplica-se a todos os tipos de cxpressoes: senten<yas, tcnnos, partículas, etc .. Sobrctudo, a significas:ao do proferimento de urna sentcns;a é explanado através do encadeamento discursivo que ela implica em termos de eondi<yoes e conseqüencias; estas relas:ocs, porém, sao explanadas em termos de rela<yoes entre os valores de verdade atribuidos as sentens;as, e nao mais em termos de referencia cm um dominio. O que se realiza oeste tipo de semantica é o dogma segundo o qua! a "referéncia a verdade (ao Verdadeiro) precede a referencia a Oillros objetos. " 11 A semantica passa a ser urna exposi<yao das regras de combinas;ao de elementos significativos, onde as no<yoes de referencia, objeto e propriedade, sao secundárias e derivadas. Estas nos:ocs sao vistas como que de dentro ou a partir da linguagcm , isto é, tais no<yoes fazcm sentido apenas através da linguagem, nao sendo exteriores a ela nem independentcs dela: uma re!Gl;Cío com objetos jora do contexto de uma sentenr¡a nao se dá. 12 · Este modo de conceber a significatividade determina urna rcdefinis;ao das nos:oes e das fun<yoes semanticas associadas aos termos de urna linguagem. Sentcn<ya, tenno singular e geral, predicadores, quantificadores, dciticos e demonstrativos tcm agora que ser redefinidos recorrendo-se apenas ao modo como eles afetam ou contribuem para os contextos infercnciais-sentcnciais em que ocorrem, pois, a teoría semantica csgota-se na tarefa de explicitas:ao das relas;oes de implica<yao e conscqüencia entre as expressoes de uma linguagem.
Para a critica da semáutica iufereuciaf
2. A
caracteriza~ao
85
dos termos proposicionais
A descrir¡:ao das funr¡:oes semanticas veiculáveis pelas diferentes expressoes de urna linguagem realiza-se com base na deterrninar¡:ao dos nexos intra-lingüísticos e nao mais cm termos da determ ina¡yao· de urna relar¡:ao de referencia a a lgo nao-lingüístico. O argumento para tal procedirnento é urna interpretar¡:ao forte do princípio do contexto fregeano pela qual a determina<;:ao do significado de urna expressao subsentencial dá-se apenas pela detenninar¡:ao de seu papel no contexto sentencia!. E isto nao é senao estabelecer urna correla<;:ao entre a expressao a ser explanada corn outras expressoes já em uso através de uma cadeia de asserr¡:oes na f01ma de condir¡:oes e conseqücncias. A unidade semantica inicial é um conteúdo asserível ou judicávcl. O ponto de partida, por conseguinte, é a defi nir¡:ao daquelas expressoes que podem funcionar como asserr¡:oes, isto é, como veículos de um ato semantico completo, as sentenr¡:as. A funr¡:ao semantica sentencia[ define-se diretamente em termos de cadeia discursiva ou cadeia inferencia[, de tal modo que também nesse nivel é pela remissao a outras expressoes que se pode determinar o conteúdo de urna senten<;:a particular: "The conceptual content expressed by a sentence depends on its place in a network of inferences relating it to other sentences. " 13 A descrir¡:ao semantica de uma seqüencia de sinais como tendo conteúdo semantico explicita-se na fonna de urna atribuir¡:ao de um potenyial inferencia[ enguanto expressao de um ato de asser<;:ao: At the top, sentences can be understood as propositionally contentful in virtue of their use in ex.pressing claims - that is, assertional commitments. The key concept at this leve! is inference, for what makes the contents expressed propositional is the role of sentences in giving and asking for reasons. lnferential connections among claims are understood in tum pragmatically, in tenns of consequential relations among the altitudes by means of which score is kept on commitments
86
Ce/so R. Braida
and cntitlcmcnts to commitments - how auributing others, precludes 14 entitlement to others, and so on.
O valor semantico de uma sen ten~a ainda pode ser identificado com o seu valor de verdade, tal como nas semanticas referenciais. Todavía, suas eondi~oes de verdade, o que por ela é expresso, constituise pelos nexos inferenciais com outras de que ela é uma conseqücncia e ou que sao conseqüencia de sua asserr,:ao, o que significa dizcr que o seu eonteúdo, a proposir,:ao por ela expressa, apenas pode ser explicitado pela determinas;ao de uma classe de senten~as equivalentes. 15 O passo seguinte é a explanar,:ao da contribuis;ao semantiea dos termos subsentcnciais. A funr,:ao semantica das partes subsentenciais é descrita como essenc ialmente distinta daquela atribuída as sentens;as, uma vez que somente sentenr,:as podcm servir como lances lingüísticos, isto é, como atos semanticos ou, ainda, como premissas e conclusoes de infcrcncias. 16 Por isso, adota-se um procedimento distinto. Uma vez que é unicamente como parte de urna assers;ao que uma cxpressao tem significar,:ao, entende-se que as partes das sentenr,:as tcm seu significado determinado pela funxao semantica que elas exercem no interior de sentens:as asseridas de que elas sao partes componentes. O ponto de pattida é a fixa~ao de uma classe de sentenr,:as equivalentes e a partir disso a detenninas:ao de uma classe de partes subsentenciais intersubstituíveis preservadoras daquela classe de equivalencia. O proccdimento é feito , portanto, em dois estágios. Primeiro, estabelecem-se classes de sentenr,:as equivalentes e, depois, estabelecemse classes de partes subsentenciais equivalentes intersubstituíveis. Estas classes determinam funr:oes estruturais que sao exercidas por expressoes ou conjuntos de expressoes. Thc key concept at this levcl is substitution, for taking subsentential cxprcssion to be contentful consists in distinguishing some inferences as substitution inferences, some inferential commitments as substitutional commitments. T he substitutional structure of the inferences sentcnccs are involved in is what the contentfulness of their subsentential components consists in. 17
Para a crítica da semántica inferencia/
87
Desse modo sao isoladas as diferentes fun<;oes semanticas atribuídas as expressoes que podem substituir umas as outras no interior de urna sententya preservando suas características semanticas, ou melhor, preservando o conteúdo semantico da inteira sentenya. Urna vez que o conteúdo semantico das sentenyas é definido em tetmos de seu potencial inferencia}, as diferentes classes de substituit;ao serao definidas pelo modo como elas afetam este potencial e pelo modo como elas agenciam urna cadeia anafórica em que termos ocupam o lugar de outros termos preservando o conteúdo semantico original. Este procedimento conduz a postulayao de termos de parada da cadeia anafórica: At the lowest leve!, unrepeatable tokenings (paradigmatically deictic uses of singular terms) can be understood as involved in substituition inferences, and so as indirectly inferentially contentful, in virtue of their links to other tokenings in a recurrence structure. The key concept at this leve! is anaphora. For taking an unrepeatable tokening to be contentful requires associating it with a repeatable structure of the 18 ..·. sort .. that can be the subject of substitutional commitments. ,
.
Cadeia inferencia/, substituir;iio de termos e relar;oes anafóricas constituem as noryoes que conformarao a definiryao dos termos proposicionais. Defini9ao esta cuja característica principal é a ausencia da rela9ao de referencia a entidades. Ao invés de definir os papéis semanticos das expressoes subsentenciais em termos de tipos de entidades utiliza-~e para isso urna caracterizas;ao do modo como as diferen~es partes componentes contribuem para a fotma<;ao da sentens;a. Esta distins;ao é entao utilizada para caracterizar e distinguir as noryoes de termo singular e termo geral. Para isso, adota-se na semantica inferencialista a estratégia de definit¡:ao sugerida inicialmente por Frege para a funryao semantica dos termos proposicionais. O que definía um termo singular, na perspectiva abetia por Frege, era o conceito de ''flxm;:iío do sentido de um enunciado de recognir;iío" e nao a relas;ao com algo no mundo. Um juízo ou enunciado de recognit¡:ao tem a forma de uma identidade. O
88
Ce/so R. Braida
que significa que para um termo funcionar como termo singular, isto o é, como um termo designador, faz-se necessário cstabclecer a verdade de um enunciado de identidade que fixe o seu significado através de outras cxprcssocs significativas. Definir uma expressao como te1mo significativo em urna linguagem, para Frege, era "um problema de jixac;éio do conteúdo de um juízo-de-reconhecimento (Wiedererkennungsurthei/s). " 19 Esta maneira de definir a funs:ao semantica dos tem1os singulares implica a existencia de outros termos significativos e designadores prévios, de tal modo que a fixas;ao da signifieas;ao de um termo apenas pode ser alcans;ada pela remissao a um outro termo já significativo: for an expression in the language to be propru:ly understood as playing the role of a genuine singular tenn, and so as picking out a patticular object, it must be understood as intersubstitutable with some other tenn. 20
Disso resulta que urna expressao apenas se deixa determinar como tcnuo singular quando há pelo menos já um outro modo de introduzir o mesmo objeto no discurso. O uso de um tenno para referencia a um objeto somente se deixa determinar em uma linguagem se houver outro meio de referir ao mesmo objeto.21 Isto porque é o tipo de rela<¡:ao anafórica e as propriedades substitucionais da expressao, que detenuinam a fun<¡:ao como a de tenno singular: The category of singular terms should be understood as comprising expressions whose proper use is governed by simple material substitution-inferencial commitments linking them to other such expressions.22 ( ... ) Thus the concept expressed explicitly by locutions such as 'what one is pointing to', like •vhat is expressed by locutions such as 'what one is referring to' , must be understood anaphorically. 23
Em outras palavras, o uso de expressoes como termos singulares envolve o comprometimento com a verdade de pelos menos um enun-
Para a critica da scmámica mfcrcnci(l/
89
ciado de identidade, na forma de um enunciado de reconhecimento que introduza um objeto como sendo capaz de ser reconhecido por um ou mais modos de accsso, isto é, como caindo sob um ou mais conceitos ou descri~oes. Como foi dito anteriormente, é a determinayao de uma sentens:a como verdadeira que permite a detem1inas:ao da refcrencialidade de uma expressao subsentencial. O que é claro nestas considerayoes é a dependencia do uso prévio de expressoes significativas para a introduyao dos termos singulares, pois sem antigos termos significativos e bem entrincheirados na prática lingüística nao se poderia introduzir novos termos singulares. O inteiro procedimento é claramente retrospectivo e parece supor um comes:o em mna expressao que nao tcm a sua funyao semantica detenninada desse modo, e que introduz um conteúdo diretamcnte. Para dar conta dcsse problema a descriyao inferencia lista emprcga as nos:oes de iniciador anafórico e de designador canónico. os quais constituem dois tipos especiais de termos singulares, e que equivalem aos tennos primitivos em urna linguagem estipulada. Um iniciador anafórico é urna expressao que tem a funyaO semantica de introduzir um conteúdo capaz de ser retomado por outras expressocs, por anáfora, sem que ela mesma esteja ligada a expressoes anteriorcs. 24 Isto poderia ser interpretado como o ponto cm que as cadeias inferenciais dependem dos nexos exteriores ou refcrenciais. Porém, aquí justamente se apresenta o diferencial da tese, pois, o argumento infercncialista é que scm os nexos anafórico-infereneiais e sem as relayoes de substituis:ao as ocorrcncias dessas expressoes nao seriam utilizáveis como partes de assers:oes: Unless one could pick deictic uses up anaphorically to generate recurrence classes, one would not be able to involve such deictic tokenings in (undertaken or attributed) identificatory substitutional commitments, and so could not treat them as involving occurrences of singular terms. Without the poss.ibility of anaphoric extension and connection through rccurrence to other tokenings, deictic tokenings can play no significan! semantic role, not even a deictic one. Oeixis presupposes anaphora. Anaphora is the fundamental phenomenon by means
90
Ce/so R. Braida
of which a connection is forged between unrepeatable events and repeatable contents. 25
Em suma, o valor scmantico de tetmos singulares está, cm última instancia, dcte1minado pelas retomadas anafóricas no interior de um discurso e pelas expressoes intersubstituintes. Se a ocorrencia nao pode ser ligada a ocom~ncias anteriores, por ser um uso nao-dependente de outras asse r~ocs, enUio, a contribuic;:ao semantica de tal ocorrencia apenas se determina pelas retomadas anafóricas que cla engendra ou permite. Esta interpretac;:ao é bastante problemática, pois implica em dizer que as oco1Tencias nao-anafóricas de pronomes, p.ex., apenas tcriam conteúdo na medida em que fossem retomados anaforicamente, isto é, como tendo a sua contribuic;:ao semantica determinada pelas rela~oes com outras ocorrencias que dependem dela para ter um valor semantico determinado. A no9ao de designadores canónicos é explicada em termos convencionais. Um dcsignador canónico é urna expressao cuja "correta .forma<;cio gramatical garante que ela apanha um objeto corresponden/e. " 26 O que significa dizer que a contribuic;:ao scmantica de um designador canónico é a de designar, e o seu uso implica a introduc;:ao de um objeto no discurso. A relac;:ao de referencia, porém, é exterior a semantica, o que significa dizer que a relac;:ao entre um sinal e o objeto que ele designa, no que se refere aos termos primitivos, sejam os designadores canónicos sejam os iniciadores anafóricos, é arbitrária e dependente de fatores exteriores a scmantica. O conteúdo semantico de um termo designador, porém, nao é o objeto designado, mas sim o plexo de remissoes, de conseqüencias e condic;:oes, nelc codificado, e este plexo é interno a linguagcm. Uma vez estabclecido os designadores canónicos e os iniciadores anafóricos todos os demais termos designadores tem seu significado garantido pela sua remissao a eles: Ensuring that novel singular terms are suitably substitutionally linked to canonical designators establishes both the existence and the uniqueness of the objects they pick out, and so secures the success of
Para a crítica da semálllica il¡(ere11cial
91
the singular referential purport that distinguishes them as singular tenns. 27
Nesse. ponto mostra-se os limites da semantica inferencialista. Em última instancia, esta fmma de explicitac;:ao do papel sernantico desempenhado pelos termos singulares, por ser interna a urna linguagem significativa, apenas pode repor o conteúdo semantico de urna expressao por meio de urna outra expressao dessa mesma linguagem. A explanac;:ao da noc;:ao de termo geral confinna este diagnóstico. Em contraste com os termos singulares, os termos gerais apresentam um comportamento inferencial-substitucional diferente, pois entre eles se estabelecem relac;:oes hierarquizadas de inclusao e exclusao. O que implica que as inferencias substitucionais detenninam direc;:oes ou hierarquias que preservam a correc;:ao apenas em urna direc;:ao. 28 Enguanto os termos singulares intersubstituíveis estabelecem relac;:oes horizontais e simétricas, os tem1os gerais estabelecem entre si relac;:oes verticais de inclusao e exclusao. Por conseguintc, do ponto de vista que descreve as propriedades inferenciais-substitucionais os termos da proposic;:ao tem a seguinte caracterizac;:ao: Singular terms are substitutionally descriminated, essentially subsentencial expressions that play a dual role. Syntactically they play the substitution-structural role of being substitutedfor. Semantically their primary occurrences have a symmetric substitution-inferencial significance. Predicates, by contrast, are syntactically substitution-structural frames, and semantically their primary occurrences have an asymmetric substitution-inferential significance. 29
A explanac;:ao inferencialista dos termos proposicionais, portanto, apenas nos diz como os tennos sao utilizados e apenas na medida em que já tenhamos outros termos do mesmo tipo: To say that subsentential expressions are used by a community as substituted-fors and substitution-structural frames is to say that the contents conferred by the practices of the community on the sentences in which those expressions have primary occurrence are related systematically to one anothe•· in such a way that they can be exhibited
92
Celso R. Braida
a1ically lo one another in such a way that they can be exhibited as the produc1s of contents associa1ed with the subsentential expressions, according 10 a standard substilutional structure. 30
Como já foi apontado para o caso dos termos singulares, novamente a descriryao inferencialista termina a sua explanayao ao mostrar as relaryoes sistemáticas de uma expressao com as demais expressoes da linguagem em questao. Isto, porém, nao infonna nada acerca do conteúdo mesmo dessas expressoes, nem da d iferenrya de conteúdo dos tetmos singulares e predicadores. Desse modo nao se esclarece o uso dos termos, mas tao somente como é possível introduzir novos termos cm urna linguagem que j á contém ou outros termos ou outros meios de indicar e identificar objetos. Oito de modo mais brando, o recurso a descriryao das propriedades anafórico-substitucionais apenas permite a definis;ao das propriedades inferenciais de tennos de uma linguagem já significativa, isto é, que j á dispoc de dispositivos de descrivao e identificaryao de objetos. A tese principal que rege a interpretaryao inferencia! dos termos proposicionais supoe que as ocotTeneias semanticarnente relevantes sejam dcpcndentes da verdade de urna asserryao prévia. Ern outras palavras, a dcterminayao da eontribuiryao sernantica dos termos singulares passa sempre pela determinaryao da verdade de urna sentenrya. A qua!, em geral, é um condicional material do tipo " se isto é ta l e tal, enHio, nao é assim e assim"; "se isto é o caso, enUío, aquilo tambérn é o caso", cuja funryao é cstabelecer uma correlayao entre usos de expressoes: Isto implica em assurnir-sc uma base de sentenryas primitivas a partir da qual as propriedades se estenderiarn para toda a linguagcm.31 A verdade de uma sentenrya primitiva por sua vez é pensada em termos de satisfaryao de urna descriryao ou conceito. O que significa dizer que cm última instancia, se se quer falar nesses tetmos, a introduryao de um objeto no discurso, ou o contato da linguagcm com o mundo, semprc dar-se-ia através de uma descris;ao ou aplica¡yao de um conceito. 32 Este ponto é tanto esclarecido como pressuposto pela in-
Para a cririca da senuinrica inferencia/
93
terprctas:ao das frases quantificadas, como será mostrado na próxima scc;:ao.
3. Interpretat;ao substitucional da quantificat¡:ao As expressoes quantificadoras recebem urna interpretac;:ao substitucional em que nao se assume que os termos refiram a objetos em um domínio nao-vazio, tomando-se a verdade como conceito fundamental e nao a nos:ao de satisfac;:ao em um domínio, invertendo-se assim a ordem de explanac;:ao característica da semaotiea tarskiana. lsto se mostra na suposis:ao inicial de que a verdade já tenha sido definida para as sentenc;:as da linguagem para a qua) se vai definir os quantifieadores. Além disso, assume-se também uma classe de substituic;:ao constituída pelos termos da linguagem. A definic;:ao substitucional dos quantificadores é bem conheeida, nao sendo neeessário urna exposic;:ao pomlenorizada.33 O quantificador existencial é interpretado como indicador do comprometimento com a verdadc de pelo menos uma sentens:a resultante da substituis:ao da variável por um nome: "(Existe xJP' é verdadeira" é !ida assim: existe um termo t, tal que a sentenc;:a F' é verdadeira, onde F' resulte da substituic;:ao de todas as ocorrencias livres de X; por t. O quantificador universal, por sua vez, é interpretado como significando que para qualquer nome da classe de substituic;:ao pela qua! a variável está, a sentenc;:a será verdadeira: "(Todo xJP' é verdadeira" é !ida assim: para qualquer termo t, a substituic;:ao de x 1 por r produz uma sentenc;:a verdadeira. Estas caracterizac;:oes indicam que as condic;:oes de verdade das frases quantifieadas podem ser dadas cm termos de disjuns:ao e conjunc;:ao. A quantificac;:ao existencial pode ser vista como a disjunc;:ao (possivelmente infinita) das fórmulas resultantes da substituis:ao de todas as ocoiTencias livres da variável x 1 por um termo t, e a quantificas:ao universal como a sua conjuns:ao, sendo verdadeira se e somente se 34 todas as instancias sao verdadeiras. Em outras palavras, a descric;:ao semantiea dos quantificadores mostraría que tais expressoes veiculam
94
Ce/so R. Braid(l
comprometimentos substitucionais de conjunvao ou de disjunyao, e nao comprometimentos com a existencia de objetos. Como fica claro, a suposis:ao fundamental continua sendo a prioridade da verdade em relas:ao a interpretas:ao da contribuis:ao semantica das partes subsentenciais. De fato, a interpretayao substitucional dos quantificadores depende da aceitas:ao de sentenc;:as como verdadeiras para determinar o valor semanticó das frases quantificadas. Todavía, a verdade também é desconectada da referencialidade e, sobretudo, da existencia, de tal modo que isto implica urna separac;:ao entre quantificac;:ao, portanto, uso de variáveis, e comprometimentos ontológicoexistenciais. Este modo de conceber a semantica das frases quantificadas implica fornecer um tratamento das inferencias envolvendo tais frases sem recorrer a nos:ao de objeto e de dominio de referencia. Em urna semantica que utilize tal interpretas:ao, com efeito: No domains are assigned to worlds at all; the variables do not range over objects, they are place markers for syntactical/y proper names. Atomic sentences on such an account do not represent structures with constituents. They represen! unstructured "contents". Truth or falsity may be assigned to such sentences, but there is no presumption about objective reference of nonlogical terms. For such a substitutional account one starts not with reference but with truth. 35
Desse ponto de vista, pode-se visualizar com clareza o ponto de contraste com as semanticas referencialistas. Admitido o procedimento substitucional-infercncial, a introdus:ao de COIJlprometimentos existenciais é um acréscimo indevido na explanac;:ao das frases quantificadas. A quantificac;:ao é conceituada de modo a nao envolver existencia: The standard semantics inflates the meanings of sentences it paraphrases, those, for example, that did not originally have the existencial import they acquire on such paraphrases. 36
Em última instancia, o uso de sentcnc;:as quantificadas dissocia-se de pressuposit;ocs de existencia. Nao é o uso de quantificadores que de-
Para a crítica da semántica infercnci(l/
95
sencadeia comprometimcntos ontológicos, pois tais exprcssoes tem uma funs;ao apenas cstrutural. Para que isso scja inteligível, distinguese a nos;ao de quantificas;ao fonnal particular da quantificas;ao existencial substancial, pennitindo que se use tennos sem comprometímento com a existencia. Nas palavras de R. B. Marcus, a fundas;ao da semantica dos quantificadores na nos;iio de verdade significa também desconectá-la dos comprometimentos ontológicos.37 A raziio dessa distins;ao é que os comprometimentos cxistenciais siio resolvidos na fonna de comprometimcntos substitucionais semelhantes, mas nao identicos, aos envolvidos no uso dos quantificadores. Por conseguinte, a tese que o uso correto de uma expressiio dcsignadora envolve a existencia de um objeto é abandonada: To take the expression to pick out an object that exists in a particular sense (...) is to take it that it is intersubstitutable with sorne term that is privileged as canonical with respect to that sort of existence. 38
Por conseguinte, a afirmas;ao de existencia nao acorre no uso de variávcis e de expressoes de quantidade. Em uma frase quantificada tao somente se prcssupoe a substituibilidade entre expressoes significativas. Portanto, a interpretas;ao substitucional nao tem que ser vista como urna decisiio acerca de se os termos denotam ou nao, pois, nas palavras de Kripke: The utility of the substitutional quantifier lies in the fact that while the referential quantifiers over tenns take names of tenns as substitutes, the substitutional quantifiers take the tenns themselves, which can be denotationless or can denote other things. 39
Entretanto, para Kripke, tanto a interprctas;iio substitucional quanto a referencial sao inteligíveis e consistentes. Em termos formais, isto é, para uma teoría da quantificas;iio para um cálculo de prime ira ordem, para uma linguagem nao-interpretada, "both the substitutional and the standard inte1pretations make al! theorems va/id. " 40 Todavía, ele defende que sob mna perspectiva mai s ampla, a exposis;iio da semantica
96
Ce/so R. Braida
das frases quantifícadas de urna linguagem requer o uso de urna semantica referencial, pois, "the ontofogy used to give the semantics ofa substitutional object language is not the nu/1 ontology, but, at/east, an ontology of expressions.'-.4 1 posicionando-se assim contra a interpreta~ao substitucional pura. A semantica inferencialista, contudo, enfrenta esta crítica de Kripke fomccendo urna teoría anafórica da referencialidade que será agora objeto de cons idera~ao.
4.
Expl an a~á o
da refercncialidade em termos de substitutividade
O conteúdo semantico, na conceitua~ao inferencialista, resolve-se nas conexoes entre expressoes significativas de uma linguagem até mesmo para as frases quantificadas. O que é esta significatividade fora das conexoes inferenciais, substitucionais e anafóricas nao é explanável, pois para isto deveria ser possível dizer sem significar: a semantica é inefável, o que se pode esclarecer é apenas o modo de relayao das diferentes expressoes pertencentes a urna linguagemjá significativa. As explicita~oes dos termos proposicionais, portanto, dizem respcito apenas ao estabclecimcnto das condic;:oes que devem ser preenchidas para urna expressao contar como tendo introduzido um objeto, ser compreendida como um termo singular 011 como um dcitico com uma referencia definida: the conditions that ought. to be met to count as having introduced (or understood) a singular term (even a tokening of a demonstrative) as having a definite reference. 42
Isto constituí uma explicac;:ao deflacionista e anafórica da referencialidade, pois nela nao se recone a noc;:oes 1:elativas a itens naolingüísticos. A cxplana~ao do conteúdo semantico de um termo referencial, em vez de recorrer a rela96es com o extralingüístico, recon·e as relac;:oes de substituic;:ao e de a náfora entre as expressoes. O que significa dizer que o uso de urna expressao referencial é explanado por
Para acrílica da semcimica inferencia/
97
meio da postula<;ao de um enunciado de identidade: o referente da cxpressao "Leibniz" é (idéntico a) o referente da expressao "O autor da Monadología". A primeira ocorrcncia da exprcssao "Leibniz" em uma sentens:a requer apenas que ela seja substituível por outra expressao já significativa (usada para compor uma enuncia<;ao). Nem todos os casos sao assim explanados. Se este procedimento nao está disponível e o termo foi introduzido, entiio, trata-se ou de um iniciador anafórico ou de um designador canónico. Digamos que estamos na situacrao de batismo e a scguinte frase é pronunciada: " Esta crians;a chamar-se-á 'Leibniz' ." A expressao " Leibniz" torna-se significativa, designad ora, em funs;ao do vínculo com o deitieo "Esta," o qua! propriamentc nao tcm um valor semautico determinado senao na situas;ao-contexto cm que foi utilizada. Esta explicas;ao apenas dá conta da "intens;ao de referir," nao explicando a referencia bcm sucedida. A referencia bem sucedida implicaría a existencia de um referente. Mas a existencia é algo que está para além dos dominios da explanas;ao semantica. Por isso, o aparato semantico infercncialista apenas fornece uma explicas;ao dos comprometimentos referenciais e existenciais, decorrentes do proferimento de urna expressao designadora, em tennos de um tipo de comprometimento substitucional:
1
The existential commitments is ... equivalent to the disjunctive claim that so me identity (of this fonn) is true. The significance of ... existentia! commitments is ... to be understood, and their propriety assessed, in terms of the class of vindicating substituends supplied by identi. 43 ttes ...
Os comprometimentos cxistenciais, porém, nao sao completamente expurgados. Nao obstante serem a fonte da significatividade das expressoes designativas, eles pertenccm ao dominio pragmático, estando para além da semantica. O que se pode dizer cm tem1os semanticos é que a noc;ao de referencia ou designacrao é explanada em termos de uma remissao anafórica. Em te1111os setm1nticos, a funs;ao de referir
98
Ca/so R. Braida
explana-se como um operador anafórico complexo formador de pronomcs: Although anaphora is an intralinguistic (or word-word) relation, adopting an anaphoric account of 'refers ' as a proform-forming operator does not entail conflating linguistic items with extralinguistic 44 items.
Por conseguinte, o uso de frases quantificadas e de expressoes referenciais é explicado cm termos de comprometimentos inferenciais e substitucionais. A racional de tal procedimento está na tese da primariedade das relayoes anafóricas, as quais estao na base da definiyao da fun9ao semantica dos tennos designadores. Como vimos anteriormente, as cadeias anafóricas 45 sao explanadas com a no9ao de recom!ncia de uma ocorrencia primitiva seja de um iniciador anafórico seja de um designador canónico. Estes sao os conceitos que propriamente podem explanar o que é ser urna exprcssao referencial. Com efcito, os nexos anafóricos e, por conseguinte, os nexos inferenciais, tem seu ponto de parada em dais tipos de expressao com urna fun9ao semantica primitiva e doadora de significatividade para toda a cadeia: os designadores canónicos e os iniciadores anafóricos. Os designadores canónicos foram definidos como cxpressoes cuja boa fonnayiio é suficiente para garantir que eles designam um objeto. Já os iniciadores anafóricos foram definidos como aquetas ocorrencias de exprcssoes nas quais a ocmrencia de outras expressoes pode ser ancorada e que nao dcpendem da ocorrencia de outras expressoes, ·sendo basicamente constituidos pelos nomes próprios, descri96es definidas, deiticos e demonstrativos. Todavía, como já ficou claro nas consideray6es da seyao 3 acima, os designadores canónicos e os iniciadores anafóricos tem seu contcúdo semantico determinado apenas pelo seu papel nas cadeias anafóricas: What makes it [a demonstrative] a term referring to an object - rather than a mere conditioned response like "Ouch" - is its role as an anaphoric initiator of chains that can be the subjects of substititional
Poro o crílica do semón!ico inferencia/
99
commitments. [t is in virtue of those anaphoric connections that a demonstrative tokening can play a conceptual role. 46
Esta cxplana~ao dos tennos primitivos implica que a fun~ao semantica de indicar um objeto é derivada em rela~ao a fun~ao semantica de remeter a outra expressao, ou anáfora. A suposi~ao é que a dcscri~iio semantica da deL-cis pressupoe a no~ao de anáfora: Deixis presupposes anaphora. No tokens can have the significance of demonstratives unless others have the significance of anaphoric dependents; to use an expression as a demonstrative is to use itas a special kind of anaphoric initiator. 47
Como já foi estabelecido, o conteúdo inferencia!, por conseguinte, o inteiro conteúdo semantico de uma expressao está constituido e determinado pelas "relac;oes materiais com as demais expressi5es da lin48 guagem, " e e m nenhum momento a rclar;:ao com o que nao scja lingüístico exerce alguma fun~ao na explanayao semántica. Desse modo, entretanto, recai-se outra vez na suposi~ao da verdade dos contextos sentenciais em que tais expressoes ocorrem. A alegayao de q ue o procedimento substitucional está ancorado em última instancia em identidades remete-nos para a questao do papel atribuído a nor;:ao de verdade, pois a substituiyao é autorizada na medida em que a asseryao de identidade entre os tennos é tida como verdadeira. Esta alegar¡:ao nos remete de volta ao ponto de partida: como é que a nor;:ao de verdade é explanada?
5. A
explana~ao
prossentencial da verdadc e da falsidade
Uma vez que a no~ao de verdade joga o papel de definidor dos papéis semánticos, e estes sao definidos em termos inferenciais, e la nao pode ser simplesmente definida em termos inferenciais sob pena de toda a explicayao tornar-se circular e nao esclarecedora.49 Pois, em uma cadeia inferencia! a verdade ou a falsidade de uma determinada asser~ao
100
Ce/so R. Braida
está fundada na rela~ao desta com as dcmais. Este processo, para ser eficaz como explica~ao, devc parar em alguma senten~a que nao tenha o seu valor de verdadc determinado pelas rela~o es inferenciais. Mas, admitir isto significaría admitir que ccrtas senten~ as nao tem todas as suas propriedades semanticas constituidas pelas suas rela~oes intralingüísticas e, sobretudo, que algumas senten~as nao dcpenderiam quanto ao seu valor de verdade do valor de verdade de outras senten~as.
A solu~ao adotada pelo inferencialista retoma a tese frcgeana segundo a qual nada é acrcscentado ao pensamento pela atribui~ao a ele da propriedade da verdade. Ao invés de explicar a verdade e a fa lsidade em tennos rcfcrenciais e cxistenciais, estas no~oes sao explicadas em termos deflacionistas, anafóricos 50 e nonnativos: 51 On the anaphoric account, although ' ...is true' has the surface syntactic fonn of a predica te, and ' ... refers to ... ' the surface syntactic form of a relational locution, the grammatical and semantic roles these expressions play are not those of predicative and relational locutions. Their grammar is quite different; they are operators fonning anaphoric dependents - namely prosentences and anaphorically indirect descriptions ( .. l 2 Ordinary remarks about what is true and what is fal se and about what some expression refers to are perfectly in order as they stand; the anaphoric account explains how they should be understood. But truth and reference are philosopher's fictions, generated by grammatical misunderstandings. ( ...) Taking a c laim to be true must be understood in the first instance as adopting a normative attitude - that is, endorsing the claim and so acknowledging a commitment. 53
A rel a~ao entre estas caraeteriza96es está em que ao interpretar o uso da cxpressao "verdadc" e suas derivadas como seudo anafórico implica que a prcdica~ao da verdadc de uma senten~a é tao somente uma reposiyao dessa senten9a, em reafirmá-la, pois essencialmente a retomada anafórica nao acresccnta nada ao seu antecedente:
Para a crítica da semontica infenmciol
101
in using a proform one makes it explicit that nothing new is going on, that (in the case of pronouns) one is not talking about anything new, and that (in the case of prosentences) one is not articulating anytlling new; anaphoric proscntcnces mus! have antecedents, so using a prosentence of laziness inevitably involves acknowledging an antencedent - the core pragmatic feature of granting points, expressing 54 agreement, and so on.
As noc;oes de verdade e falsidade, por conseguinte, nao apanham urna propriedade de sentcnc;as ou proposic;oes, 55 assim como a noc;ao de referencia nao apanha urna rela<;:ao entre palavras e coisas. Verdade e falsidade nao sao propriedades de proposic;oes (o u de enunciados, sentenc;as, etc.). A atribuic;ao de verdade a urna sentenc;a nao introduz nenhuma informas;ao nova que já nao estivesse contida na simples asserc;ao da sentens;a mesma. Para compreender urna sentenc;a do tipo "'Sé P' é verdadeira", nós já deveríamos compreender o que é para S ser P. Ou seja, a predicac;ao da verdade é redundante e naoinformativa, mas, mesmo assim é suficiente para definir as relac;oes e propriedades semanticas. A conexao semantica entre urna senten9a e as expressoes "é verdadeira" ou "é falsa" é de urna anáfora prossentencia! e nao de referencia ou satisfac;ao. 56 O que significa dizer que o conteúdo das expressoes "é verdadeira" e "é falsa" depende da sentenc;a antecedente da qua! clas sao urna retomada. 57 Este aspecto mosn·a a difercnc;a para com as interpretac;oes deflacionistas ou redundantes. O ponto de divergencia está em que urna vez adotado a explanac;ao anafórica, prossentencial, as generalizac;oes possibilitadas pela noc;ao de verdade nao envolvem quantificac;ao sobre sentenc;as ou proposic;oes.58 Portanto, esta estratégia é compatível com a proposta de Frege da indefinibilidade e primaricdade da verdade, da qual se depreende que o uso predicativo é redundante, bem como com as intcrprctas;oes "disquolational" de W. Quine e "dcflacionista" de H. Field e P. Horwich.59 Todavia, estas podem ser vistas como momentos que conduzem e prcparam para a definic;ao da verdade como um operador prossentencial. Pois, a definis:ao de verdade inferencialista é deflacionista no
Ce/so R. Braida
102
sentido de que ela implica que: (l) "verdade" aplica-se apenas as sentenr;as significativas, que já se compreende; (2) para qualquer sentenr;a S significativa, a assen;:ao que S é verdadeira é equivalente a asser~ao ele S; as quais constitucm a base da tese deflacionista. 60 Mas, o infercncialista ainda acrescenta o motivo pelo qual estes dois quesitos esgotam o conceito de verdade, que é a interpretar;ao anafórica da verdarle como um operador prossentencial. Embora os infcrencialistas tentem oferecer uma defini~ao de verdade que preserve o composicionalismo, uma conseqüencia natural de suas teses semanticas é a defini~ao coerencial da verdade. Porém, o coerentismo na defini~ao da verdade apenas é consistente na medida em que nao empregue a no¡¡:ao de verdade assim definida para definir os demais conccitos semanticos. Do contrário, chega-se a versao holista da verdade que, em última insH\ncia é equivalente a tese da indefinibilidade da verdade. A explanar;ao inferencia! da verdade e da fa1sidade, ao contrário, dissolve tais no~oes nas rela~oes anafóricas. O conceito primitivo, por conseguinte, é o de julgamento ou asser¡¡:ao, isto é, o conceito de julgar um conteúdo asserível como verdadeiro. Entenda-se bem, o conceito primitivo nao é a noc;ao de verdade, ou de satisfac;ao em um modelo, mas a no¡;:ao de julgar uma proposir;ao como verdadeira, ou simplesmente de assumir uma sentenr;a como verdadeira, a qual é exterior semiintica, pois, ela é essencialmente um ato (um fa to pragmático). lsto fica c laro quando a no¡;:ao de verdade é explanada em termos de redundancia: asserir que uma sentenc;a é verdadeira equivale a asserir a própria sentenya. O conteúdo da expressao "é verdadeira" é o conteúdo da senten~a que a antecede.
a
6. Scmantica sem domínio de referencia O objetivo da tese inferencialista, com efcito, é o da explicitac;ao da significatividade sem recorrer a relac;ao da linguagem com algo distinto deJa tomado como dominio de referencia, mantendo-se fiel a tese de que a referencia nao é um ingrediente esscncial da significatividade.
Para a crítica da semántica inferencia/
103
As propriedades e relac;:oes semanticas de uma expressao sao descritas e compreendidas apenas através dos nexos de remissao que esta expressao mantém comas demais expressoes da linguagem cm questao. O vocabulário semantico, por conseguinte, tem que ser explanado em termos que nao envolvam relac;:ocs com algo extralingüístico. Ao abdicarem da relac;:ao de referencia e, por conseguinte, da noc;:ao de modelo ou dominio, as semanticas inferencialistas tem um problema para resolver: como definir as propriedades semanticas cm um sistema fom1al ou cálculo lógico? A solw;ao formal para este problema é desenvolvida nas assim denominadas "Truth-value semantics. "61 O ponto de partida consiste em delimitar a tarefa da semantica as relac;:oes entre as sentenc;:as permitidas por urna determinada linguagem supondo-se que tais scntenc;:as tem valores de verdade, isto é, supondose que o problema de como elas adquirem um ou outro valor de verdade seja extrínseco a teoría lógico-semantica: why not assume with Beth, Schütte, and others that atomic statements have truth-values, however they come by them, and proceed with matters of truly logical import? Thus was truth-value semantics born, a semantics tbat dispenses w ith domains and, hence, with reference (crucial though that notion may be elsewhere). And, dispensing with reference, truth-value semantics can focus on a single notion: truth. In one version of il, lruth-value assignments (to atomic statements) and a recounting of when compound statements are true on them share the work; in another and even sparer version truth-functions do it all.62
O problema de como as sentenc;:as adquirem a este ou aqueJe valor de verdade e, também, de como urna expressao designadora rcfere este ou aquele objeto, etc., é deixado de lado por pertencer ao campo da pragmática. O argumento justificador deste procedimento é que uma teoría semantica apenas pode correlacionar expressoes com expressoes; apenas a prática ou ac;:ao pode de algum modo correlacionar expressoes com coisas.63 Isto significa conceituar a significatividade da linguagem analisada apenas em tcnnos das sentenc;:as que cla pode gerar e de urna func;:ao de rcmissao a valores de verdade: "uma /in-
10-1
Cdso R. Braida
guagem é considerada como 11111a c/asse de sentel1(;as mais o espar;o de suas valorar;oes ". rH A scmantica ncsse sentido nao é senao a explicita<;:ao das possíve is valora<;:oes das sentenyas de uma dada linguagem, isto é, tem por tarefa explorar que conseqüencias segucm-se da atribui¡;:ao de valores de verdade a uma ou mais scntens:as, cm termos de condi<;:oes e conscqüencias, isto é, explicitando como esta valora¡;:ao afeta outras possíveis assers;oes: "nós podemos ver a explicar;ao semántica de uma linguagem como a delimitar;ao do esp(/(;:o das suas possíveis atribuir;oes de valores de verdade. "65 O ponto principal é o privilegiamcnto da scntenp como unidade lógico-semautica, para além da qua! nada se pode dizer. Caberia a semantica a tarefa de explicitar as rela<;:ocs e as propriedades clecotTentes da atribui¡;:ao de valores de verdade as sentens:as básicas e as conseqüencias da atiiculas:ao em sentens;as complexas. A tarefa da semantica consistiría no cstabelecimento da relar;ao de conseqüencia, entendido como exploras:ao de um espas:o de possibilidades: "qualquer explanar;ao da relar;ao de conseqüencia é eo ipso wna explanar;ao do espar;o de possíveis valorar;oes, e vice-versa. "66 De u m outro ponto de vista, pode-se dizcr que tais semanticas cstao erigidas sobre a separas:ao entre, por um lado, a tcoria semantica e, por outro, a tcoria da referencia. A defíni<;:ao das no<;:ocs semanticas dá-sc, desse modo, sem o recurso as no<;:oes de referencia, de modelo e de mundos possíveis, pois, "a semántica dos valores de verdade é um tipo de semántica niio referencial, ela dispensa os modelos. "61 lsto nao significa que as no<;:ocs de referencia e modelo nao possam ser utilizapas nas explanas:oes semiinticas. Unicamente o que é alegado é que estas nos;oes sao derivadas das no<;:oes semanticas definidas em termos inferenciais e substitucionais, isto é, que tais no<;:oes sao explanáveis em tennos de potencial inferencia! , classes de substitui<;:ao e rela<;:oes anafóricas. A tcoria semantica pode fornecer o significado das expressocs de uma linguagem, mas apenas dada urna " meta" linguagem que é tomada como um fundo inquestionado.68 Por conseguinte, as asser<;:oes semanticas da fonna '' ... designa ... " e" ... é verdadeira ... " estabelccem apenas uma corrcla<;:ao entre duas sérics de expressoes. De modo al-
Para a critica da s emá11tica it¡ferellcial
105
gum elas cxplicitam a significatividade das cxpressocs pelo recurso a algum tipo de remissao a um dominio nao-lingüístico. O que elas fazem é estabelcccr uma con·elas;ao com uma outra linguagem, ou com Olttras exprcssoes da mesma linguagem. Esta proposta teórica está dirctamente ligada a urna tomada de posis;ao acerca do problema do cornprometirncnto conccitual entre Sernantica e Ontología. Corn efeito, a justificativa para este tipo de abordagem consiste na alcgas;ao da neutralidade das consideras:oes lógico-scmanticas: we are doing logic (or philosophy of Janguage) and thcrefore should not wish to prejudge the metaphysical issuc by dogmatizing on the nature of the entities we assume. This is the attirude which, taken to extremes, results in the so-called 'truth-valuc' semantics in which truthvalues are assigned directly to fonnulae without the trouble of having domains of values, and possible worlds are thought of as (certain kinds ot) sets of fonnulae. This is thought to 'free' the logician from any possibly embarrassing 'ontological commitment' (as if there were a virtue in not having to believe in the existence of anything but languages).69
Por conseguinte, a idéia de que a semantica trataría de no¡¡:ocs acerca de relas:ocs entre cxpressoes e um dominio de objetos é solapada e toma-se sem-sentido, uma vez que ela pressuporia a possibilidade de um discurso que contivessc cm um lado expressoes de uma linguagem e de outro objetos, rela¡¡:oes e propriedades cm si mesmas. Mas, isto seria francamente a-gramatical, sem-sentido. Isto rcquer urna reeonsidera¡¡:ao da defini¡¡:ao mcsma das no¡¡:oes semantieas: abandona-se aquí a suposi¡¡:ao de que a teoría semantica teria que dar conta tanto dos fatores ligados asitua{:cio nao-lingüística quanto dos fatores ligados ao contexto lingüístico. Na semantica dos valores de verdade, inferencialista, desaparece a considera¡¡:ao dos fatores da situa¡¡:ao e ficam apenas os contextuais. Na medida cm que as no¡¡:oes relativas a situa¡¡:ao, que nas semanticas referencialistas sao elaboradas na nos;ao de dominio de referencia e modelo, tema ver corn a nos;ao de objeto e de existencia, as semanticas inferencialistas sao obrigadas a fomecer uma conceitua-
106
Ce/so R. Braida
c;ao destas noryoes em outros tennos. A soluryao para este problema R. Carnap forneceu já há algum tempo cm consonancia com a soluryao fregcana: Falando estritamente, a questao nao deve ser fraseada como "O que é o nominatum deste signo de objeto?", mas assim "Quais senten~as em que este signo de objeto pode ocorrer sao verdadeiras?". Nós podemos fazer urna avalia~ao apenas da verdade ou falsidade de uma sentcn~a, nao do nominatum de um signo, nem mesmo de um signo de objeto. Portante, a indica~iio da cssencia de um objeto ou, o que é o mesmo, a indica~ao do nominatum de um sig110 de objeto, consiste na indica~ao dos critérios de verdade para aquelas senten~as nas quais o signo desse objeto pode ocorrer. ( ...) Se a essencia construcional de um objeto tem que ser indicada, o critério consiste na constru~iio-fórmula do objeto, que é uma regra de transforrnay.ao que nos permite traduzir passo a passo toda senten~a na qua! o signo de objeto ocorre ern se nten~as sobre objetos de um nivel constmcional mais baixo e, finalmente, em urna sentenya sobre as rela~oes básicas apenas? 0
No que diz respeito a significatividade, isto implica dizer que a linguagem está ligada a informar;ao ou discurso sobre o mundo, e nao ao mundo mesmo. A relaryao entre linguagem e mundo é enH'ío intermediada pela série de informaryoes codificadas nas sentenc;as que em dado momento do uso da linguagem sao aceitas como verdadeiras. A semantica inferencialista, interpretada cm seu sentido forte, consegue explicitar os fatores envolvidos no fluxo discursivo ou inferencia!, mas apenas consegue dar conta das infmmaryoes sobre o mundo, tornando este um aspecto da informac;;ao discursiva. Isto fica claro pelo menos em dois pontos já apresentados. Primeiro, no privilegiamento das relac;:oes inferenciais-anafóricas em detrimento das referenciais; segundo, na interpretac;:ao da deixis em tennos anafóricossubstitucionais. Esta interpretaryao da significatividade conduz a climinac;ao da situar;ao e a absolutiza~ao do contexto. A situar;ao é concebida como derivada do contexto, o qua! é definido como o conjunto de proposiryoes (scntcnc;:as, crenc;:as, etc.) assumidas como verdadeiras.
Para a crÍiica da semámica inferencia/
107
O que implica, no que se rcferc a dcfini~ao dos tennos, adotar uma deflnir,:ao contextua/ para todos os termos significativos da linguagcm. Trata-se, pois, de uma semantica nao-objetual/ 1 sem dominio de referencia. Isto soa antinómi.co, pois em geral define-se a Semantica a partir de uma relas;ao da linguagem com algo distinto deJa. Todavía, também insiste-se no fato de que a relas:ao entre as expressoes deve ser considerada. O que os teóricos inferencialistas fazcm é privilegiar as rela¡;:oes anafórico-inferenciais e tratar a questao da rcfcrcncialidade ou como derivada ou como externa. No caso da semantica da valora¡;:ao o que ternos é a tese de que o modo como urna scnten~a é valorada, como verdadeira ou como falsa, é algo externo a teoría scmantica. Agora, que se trata de construir, nas semanticas da valoras:ao, um esquema ou algoritmo utilizável para dar canta dos aspectos fonnais da semantica de linguagens artificiais fica evidente a partir dos propósitos e das aplica¡;:oes dos seus autores. Entretanto, a pretcnsao filosófica de urna justificas:ao mais ampla a pat1ir de razoes lingüísticas e evidencias lógico-semantieas nao é de todo descartada como indica a passagem de Carnap aeima citada. Além disso, os inferencialistas invocam urna concep¡;:ao de linguagem, em geral devida a Wittgenstein e a Carnap, segundo a qual a linguagem estaría limitada quanto a capacidade de explicitar a sua própria significatividade. Como anota Wittgenstein: os limites da linguagem mostram-se na impossibilidade de se descrever os fatos aos quais urna sentens:a corresponde (que sao uma sua tradus:ao) sem novamente re-utilizar a scntcns:a. 72 A saída pela via da me!alinguagcm tao somente confmnaria este ponto. O inferencialismo, portanto, constituí urna teoría deflacionária do discurso semantico, no sentido de que em rela¡;:ao a semantica referencialista ela se apresenta como a negas;ao da necessidade de recorrer-se a certas no¡;:ocs para explicar a significatividade. Primeiro, nega-se que haja uma propriedade da vcrdade ou uma relar;ao de referencia; segundo, nega-se que as asser¡;:oes feítas com vocabulário da scmantica tradicional torne possívcl para nós estabelccer específicamente fatos semánticos, (no sentido de que assers:oes usando o vocabulário da física torna possível para nós estabelecer especificamcnte fatos flsi-
108
Ce/so R. Braida
cos:) tercciro, nega-se que a no~ao de condir;oes de verdade possa ser utilizada para explanar (em opos i~ao a expressar) os tipos de conteúdo proposicional expressados por senten~as declarativas - e similarmente que a no~ao de associar;iío com um referente possa ser utilizada na cxplanac¡:ao do tipo de contribui~ao semantica que a ocorrencia de um tem1o singular faz para o contcúdo das scntenc¡:as cm que e le aparece.73 Em 0t1tras palavras, o diferencial inferencialista consiste em dizer que tratar urna cxpressao como dotada de conteúdo semantico cnvolve tratá-la como situada em urna redc de relas:oes de transic¡:ao inferencia! de u m contcúdo para outros conteúdos. 7"' O que importa é que ser dotado de conteúdo semantico nao é senao ter potencial inferencia). A atribuic¡:ao de conteúdo conceitual, ou de significado, a urna expressao refere-se ao seu papel em cadeias inferenciais e nao ao papel de representar ou referir a um objeto.
7.
Considera~oes
finais
A tese central da semantica inferencia! diz que para a determinas:ao do conteúdo de uma asser~ao há que se deten11inar as suas conexoes inferenciais com outras assers:oes. As nos:oes de referencia, descri~ao e verdade, ao invés de serem explanadas em termos de remissoes a objetos, entidades abstratas, mundos possíveis, etc. , recebem urna explana~ ao em termos de anáfora e substituis:ao entre expressoes, de tal modo que as remissoe~ a situcl(;iío sao explanadas pelas relas:oes de remissao ao contexto discursivo. Desse modo tal estratégia de explanas:ao realiza o proj eto de manter-se fi el a tese da autonomía da semantica em relas:ao a existencia e a referencialidade, cumprindo o desiderata de conccituar a significatividade de um modo nao-objetual. Na minha expos i ~ao proeurei mostrar os pontos fracos de tal proposta de explanas:ao, os quais sao evidentes na conceituas:ao dos iniciadores anafóricos e dos designadores canónicos, e no tratamento das frases quantificadas. Esses pontos sao indicativos da insuficiencia da teoría esbos:ada. A insuficiencia mostra-se sobretudo pela nccessidade
Para a crítica da srmuimica iuji:reudal
109
que a semantica inferencialista tem de pressupor urna base de senten~as já significativas e compreendidas, a partir da qua! cla cntao fomece a explicitas:ao das propriedades semanticas de outras cxpressoes. lsto também se mostra no que conceme as expressoes subsentenciais, na medida em que se opera com uma classe de substituic;ao previamente estabelecida. Por conseguinte, a justifica~ao da adequac;ao da proposta inferencialista passa pela justificac;ao dessas bases, seja de sentenc;as tidas como verdadeiras seja de classes de substituic;ao de expressoes significativas. Esta justificac;ao é tramada cm termos filosóficos por meio da conjunc;ao de várias alegac;oes, entre as quais destacam-se a da precedencia da proposis:ao sobre os termos e a de que a linguagem, e sobretudo a signifícatividade, seriam supervenientes as práticas sociais e fon11as de vida, o que justificaría a pressuposic;ao daquelas bases de sentenc;as e expressoes nas explana9oes semanticas. O cerne da justifica~ao está na transformac;ao dos fatorcs da situa(:iio de proferimento em componentes proposicionais do contexto discursivo. Pois, é apenas na medida em que os fatores relativos a situac;ao de proferimento sejam transpostos para o discurso na forma de pressuposic;ocs que aparecem como premissas e regras (topoi), implícitas ou explícitas, portanto, como fazendo parte do contexto discursivo comum, é que eles podcm ter algum papel semantico. Com efeito, a intuic;ao fundamental orientadora dessas teoriza~oes é a da autonomía da significatividade em rela9ao a referencia e a existencia, o que quer dizer, tendo cm vista a distinc;ao entre situa9ao nao-lingüística e contexto lingüístico, que os inf~rencialistas abdicam dos fatores ligados a situac;ao em favor dos fatores contextuais, pois em última instancia toda e qualquer inferencia é um contexto discursivo, o que implica dizer que nas cadeias infercnciais apenas comparecem elementos lingüísticos. Esse aspecto está na origem de algumas conseqüencias indesejáveis. A primeira conseqücncia da interpreta9ao infcrcncialista é o holismo semantico. 75 O holismo semantico constituí-se pelas seguintes suposic;oes. Primeiro, que o significado de nossas palavras depende de tudo o que nós acreditamos, de todas as assunc;oes que nós fazemos/ 6
110
Ce/so R. Braida
isto é, que todas as relar,:oes inferenciais de uma expressao constituem o seu significado. 77 Em termos lingüísticos, esta tese diz que: ''The meaning of an expression dcpcnds constitutively on its relations to all other expressions in the languagc, where these relations may need to take account of such facts about the use of these other exprcssions as their relations to the non-linguistic world, to action and to perception".78 A explicita~ao do contcúdo semantico de uma senten~a de uma dada linguagem em uma teoría holista envolvería a determina~ao do significado de todas as senten~as que ela pode gerar. Portanto, para o holista vale a tese de Davidson, segundo a qua! apenas o significado de uma senten~a (ou palavra) pode ser determinado por meio do fornccimento do significado de todas as senten~as (ou palavras) da linguagem.79 Por conseguinte, o holismo semantico implica que a determina~ao das propriedades semanticas de urna expressao envolve o agenciamento de todas as expressoes significativas da linguagem de que cla faz parte.80 Este ageneiamento envolve dois tipos de interdependencias. Para os termos: o uso de uma expressiio como termo singular envolve o domínio do uso de muitos outros. E para sentenyas: "o
uso de uma expressao como uma sentenr,:a (mesmo uma que pode ser usada parafazer um enunciado nao-inferencia/) envolve o domínio do uso de muitas outras. "81 No seu sentido mais radical a tese holista afirma que é apenas pelo agenciamento de todos os itens da c lasse de que se chega a determina~iio do valor semantico de um tenno singular, e para uma senten~a o que é requisitado é a determina~ao do valor de verdade de todas as dema.is senten~as. Esta conseqüencia da tese holista implica a indeterminayao semantica: o conteúdo semantico de uma expressao apenas se determina em relayao a todas as demais exprcssoes da linguagem. Mas, cm qualquer contexto discursivo, a linguagem é apenas agenciada em parte, e urna parte muito pequena, do que se seguc que a determina~ao do conteúdo semantico ficaria sempre em aberto, o que em geral nao é o caso. A teoría infereneialista diz ser capaz de determinar quanclo duas sentenyas tcm ou nao o mesmo potencial inferencia!, ou o mesmo conteúdo semantico, e o faz pela determina~ao das condis;oes e conseqüencias substitui~ao
Para a crítica da .5emámica inferencia/
111
das sentcn~as . O holismo, porém, torna esta tarefa impraticável para qualquer linguagem minimamentc intcressante. Uma segunda conscqücncia do inferencialismo semantico, o intensionalismo semantico, refon;:a este aspecto. O intensionalismo constituí-se pela tese de que a extensao (e o referente) de uma expressao scja determinada pela sua intensao; em te1mos fregeano s, que o sentido (Sinn) determina o significado (Bedeutung). Em termos semanticos, portanto, o intensionalismo é uma tese acerca da rela~ao entre significado e objeto, segundo a qual o significado ou o contcúdo de uma asserr;ao é independente da existencia dos objetos sobre os quais ela é asserida. Específicamente, o conteúdo semantico de um termo singular nao é afetado pela existencia ou nao do objeto a que ele remete.s2 Ao privilegiar na explana~ao scmantica as rela9oes intralingüísticas em detrimento dos nexos referenciais, o inferencialismo te1mina por se confundir como intensionalismo, pois ambos negam que a significatividade implique a existencia, ao mesmo tempo em que tomam a determina~ao do objeto de referencia depeodente da significatividade. Mais ainda, urna vez que na fonnular;ao da tese infercncialista o conteúdo semantico é constituido pelas interrelar;ocs inferenciais intralingüísticas, propriamente faJando a nor;ao de objeto nao tem lugar na explicitar;ao das propriedades semanticas. O ponto consiste em descartar a nos;ao de objeto como referindo-se a a lgo extrínseco a linguagem, isto é, como rcferindo-se a. algum tipo de contraparte ontológica da teoria da significatividade. Mas i~to de modo algum signific a desconectar as nor;oes semanticas das noyoes ditas ontológicas: A certain sort of social and in ferential articulation of attitudes must be shown to institute proprieties and confer contents such that what it is corrcct to conclude or to claim and what one has actually done dcpends on how the objects referred to, talked about, or represented in one's discursive altitudes actually are. 83
Portante, a tese infercncialista no que conceme as re l a~oes entre as noyoes ontológicas e scmanti cas, consiste cm tratar esta rcla~ao como
11 2
CelsrJ R. Braida
existindo, mas, como scndo externa a linguagem e a scmantica. O que significa dizer que a media9ao entre cstcs dois ambitos conccituais é pragmática ou símplcsmcntc nao-semantica. Embora compactue com a tese intensionalista, ao fornecer uma explanac;:ao do conteúdo semantico apenas em termos substitucionaisanafóricos, o inferencialismo seria mclhor exposto em tennos da tese de que a noc;:ao de objeto é logicamcnte posterior a noc;:ao de expressao significativa. Urna vez que a signifícatividade das partes subsentenciais detennina-se pelas conexoes que a asserc;:ao da verdade da sentcnc;:a mantém com outras asserc;:ocs, a verdade sendo uma noc;:ao mais primitiva do que a referencialidadc. Isto teria como conscqüencia que a fala acerca de objetos seja semprc urna faJa acerca de cxpressoes significativas, pois a especificac;:ao do objeto de urna sentcnc;:a apenas pode ser feíta por outra sentenc;:a tida como verdadeira que explicite o conteúdo semantico da primeira. Uma vez que apenas pela detcnninac;:ao da verdade de uma sentenc;:a se pode determinar o objeto de referencia, torna-se impossívcl distinguir o conteúdo semántico de uma exprcssao do objeto de referéncia, pois a detenninac;:ao do objeto de referencia sempre conduz a urna outra expressao. Em suma, a semantica inferencialista dispensa a noc;:ao de objeto na explanac;:ao da significatividade; mais específicamente, o inferencialismo nao diferencia as questoes "por que há tennos singulares?" e "por que há objetos?",84 de tal modo que as questoes e as noc;:oes ontológicas sao agora rcformuladas em termos de noc;:oes semanticas e lingüísticas, o que é o indicativo de que a Ontología apenas pode ser compreendidq como Scmantica,85 e esta nada tema ver com objetos. Com isso chega-se a uma outra conseqüencia paradoxal. Embora privilegiem a noc;:ao de verdade, as scmanticas inferencialistas nao podem explicar esta noc;:ao. Pois, na medida cm que a verdade de urna scntcnc;:a é confundida com a noc;:ao de derivabilidade, isto é, na medida cm que ser verdacleira for cqualizada com a noc;:ao de ser a conclusao de uma inferencia carreta, chega-sc ao extremo do infercncialismo, pois a propriedade suposta inicialmente, a de que as scntenc;:as da linguagem tcm um valor de verdadc, para a definic;:ao das propriedades
Para a crÍiica da scmiim ica inforencial
11 3
e relac;:oes semanticas, agora seria ela mesma definida em termos inferenciais. Mas, como conseqüencia da conjugas:ao do holismo e do intensionalismo, uma sentens:a nao tem um conteúdo semantico determinado, o que implica que da assers:ao da verdade de urna sentenc;:a nao se pode determinar o valor semantico de suas partes. Portanto, a conclusao é que nao se sabe de que se está a faJar, que nao bá significac;:ao determinada. Está aberta para o inferencialista a adoc;:ao de uma teoría coerencial da verdacle, pela qua! a verdade ele uma sentenc;:a seria uma decorrencia do seu pertencimento e coerencia com um dado conjunto de outras senten9as verdadeiras mutuamente autónomas. O holismo semiintico implícito na tese inferencialista, porém, implica que a determinac;:ao da verdade de urna sentenc;:a envolva todas as sentenc;:as, o que solapa por dentro a idéia de urna base de sentenc;:as verdadeiras mutuamente autónomas. Logo, chega-se a uma indeterminac;:ao tanto da verdade quanto da significatividade. Resultado este nao de todo inesperado, pois do ponto de vista da semantica inferencialista a determinidade advém do ambito pragmático. O fato é que a semiintica inferencialista está ancorada nas relac;:oes anafóricas, as quais, todavía, sao aquilo que tem que ser pressuposto como já estabelecido na ling uagem. Como lembram os lingüistas:
1
a anáfora faz parte dos mecanismos que propiciam aos falantes manter o controle sobre o que já foi enunciado, num dado discurso, acerca dos itens da conversa<;:ao (objetos e indivíduos). 86
O que significa que a explanas:ao fornecida recorrendo-se as relac;:oes anafóricas é derivada e cm última instancia nao-esclarecedora. As relas;oes inferenciais, em que se leva em considerac;:ao as noc;:oes de vcrdade, correc;:ao, pressuposic;:ao e conseqüencia, na medida em que nao extrapolam a anáfora e a substituibilidade também nao permitem ir além do já dito e dos pressupostos discursivos. Como dissemos no inicio, o objetivo da exposis:ao era o de tornar evidente a parcialidade da proposta inferencialista, no sentido de ela nao ser capaz de explicitar o intciro conteúdo scmiintico de todas as
114
Ce/so R. Braida
express6es significativas, caso nao quisesse recon·er a nexos referenciais. Isto se mostra na relas:ao entre usos inferenciais e naoinferenciais de urna expressao, ou seja, na relas:ao entre deixis e anáfora. Confom1e a tese inferencialista, o uso nao-inferencial é secundário em relas:ao ao uso inferencial. Porém, pode-se mostrar que esta suposis:ao quando tomada em sentido liteJ·al tem1ina por dissolver a significatividade. Pois, assim como se pode dizer que na semantica referencialista perde-se a linguagem por se fixar no mundo, agora pode-se dizer da semantica inferencialista que ela, por fixar-se na linguagem, perde o mundo. Este ponto é ilustrado pela prioridade que a noyao de anáfora recebe na semantica inferencialista - só comparável ao privilégio da noyao de deixis na semantica referencialista. Desse modo, pode-se perceber um pressuposto comum que alimenta ambas as perspectivas: a suposis:ao de que a significatividade de todas express6es é composta a partir de urna única relayao semantica e de operas:oes formais sobre esta relas:ao podem apreender todas as relas:oes semanticas. Esta suposis:ao é a.que conduz ao privilegiamento de urna relas:ao remissao, a déixis (referencial) ou a anáfora (inferencia!), como nexo semantico primário que seria a base de composiyao da significatividade das diferentes expressoes. Ademais, a partir dessa análise da tese inferencialista ilumina-se, por contraluz, um ponto filosófico em gcral esquecido nas discussoes sobre a linguagem, a saber, que a significatividade das expressoes lingüísticas nao é lingüística. O que está ausente da consideras:ao inferencialista é a perceps:ao de que o plexo do significante, do sentido e do significado nao é urna questao de linguagem e menos ainda do jogo de relayoes e expressoes intra-discurso.
Referencias bibliográficas Anscombre, J.-C. 1995. Théorie des topoi'. París: Kimé. Brandom, R. B. 1994. Making it exp/icit: reasoning, representing, and discursive commitment. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Para a crĂ?iica c/(1 semĂĄntica inferencia/
115
- . 2000. Articulaling Reasons: an introduclion lo inferenlialism. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. - . 1986. "Frege's technical concepts." In Haaparanta, L. e Hintikka, J. (orgs.), Frege synthesized: essays on lhe philosophical and foundational work ofG. Frege. Dordrccht: Reidcl. Cann, 1993. R. Formal semantics: an introduction. Cambridge: Cambridge University Press. Carnap, R. 1969. The logical structure of the world & Pseudoproblems in philosophy. Transl. R. A Gcorge. Berkeley: University ofCalifomia Press. Coffa, J. A. 1991. The semanlic tradition from Kant to Carnap: lo the Vienna Station; ed. L. Wessel. Cambridge: Cambridge Univcrsity Press. Creswell, M. J. 1992. Language in the world: a philosophical inquily. Cambridge: Cambridge University Press. - . 1985. Structured meanings: the semantics ofpropositional attitudes. Cambridge, Mass.: The MIT Press. - . 1973. Logics and languages. Londres: Methucn. Davidson, D. 1991 [ 1984]. Inquiries into Truth and lnterpretation. Nova York: Clarendon Press. Demopoulos, W. ( org.) 1995. Frege 's philosophy of Mathematics. Cambridge, Mass .: Harvard University Press. Devitt, M. 1996. Coming to our senses: a naturalistic program.for semantic loca/ism. Cambridge University Press. E11is, B. 1980. "Truth as a mode of evaluation". Pacific Philosophical Quarterly 61: 85-99. Evans, G. e McDowell, J. (orgs.) 1976. Truth and Meaning: essays in Semantics. Oxford: Claredon Press. Ficld, H. 1994. "Di squotational truth and factually clefective discourse". Philosophica/ Review 103 (3). - . J986. "The dcflationary conception oftruth." In C. McDonald e C. Wrigbt (orgs.), Fact, Science and Morality. Oxford: 55-117. Fodor, J. e Lepore, E. 1992. Holism, a shopper 's guide. Oxford: Blackwell.
11 6
Ce/so R. Braida
Frege, G. 1987. Die Grundlagen der Arithmetik. Hrsg. J. Schulte. Stuttgart: Rcclam. - . 1962. Grundgesetze der Arilhmetik. 2. Aufl. Hildcsbeim: G. Ohns. - . 1967. Begriffsschrift, a formula language, modeled upon that of arithmetic, f or pure thought. In J. van Heijenoort (org.), From
Frege to GiJdel, a source book on mathematical logic 1879-1931 . Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Gabbay, D. M. e Guenthner, F. 1983 (orgs.), Handbook ofphilosophicallogic, vol l. Dordrecht, D. Reidel. Grover, D. L., Camp, J. L., Belnap, N. D. 1975. " A prosentcntial theory oftruth." Philosophical Studies 27: 73-125. Hale, B. , Wright. C. (ed.) 1997. A companion to the philosophy of /anguage. Oxford, Blackwell. Harman, G. 1973. Thoughts. Princeton: Princeton University Press. Horw ich, P. 1998. Truth. 2.ed. Oxford: Clarendon Press. Katz, J. J. 1988. Cogitations. Oxford: Oxford University Press. Kripkc, S. 1976. "ls therc a problem about substitutional quantification?" In Evans, G. e McDowell, J. (orgs.), Truth and Meaning: essays in Semantics. Oxford: Claredon Press. Leblanc, H . 1983. "Aitcrnatives to standard first-order semantics." in Gabbay, D. M. e Guentlmer, F. (orgs.), 1983. Handbookofphilosophicallogic, vol l. Marcus, R. B. 1993. Modalities: philosophica/ essays. Oxford: Oxford University Press. Mol!ra, H. M. M. 1999. Significa<;iio e contexto: uma introdu<;iio .a questoes de semรกntica e pragmรกtica. Florianรณpolis: Insular. Peacocke, 1997. " Holism" ./n Hale, B. e Wright. C. (cd.). Peregrin, J. 1997. "Languagc and its models: is model theory a theory of semantics." Nordic Journal ofPhilosophical Logic 2 ( 1): 123. Platts, M. 1997. Ways ofMeaning: an introduction to a philosophy of language. 2.cd. Cambridge, Mass.: The MIT Press. Prawitz, D. 1977. "Meaning and proofs: on the conflict between classical and intuitioni stic logic". Theoria 43: 2-40.
Para a crítica da semántica inferencia/
11 7
Quinc, W. Y. 1992. Pursuit oftruth. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Ramsey, F. 1965. Thefoundations ofmathematics. Littlefield: Adams &Co. Searle, J. R. 1995. lntencionalidade. Sao Pauto: M. Fontes. Sundholm, G. 1994. "Proof-theoretical semantics and fregean identity criteria for propositions." The Monist 77 (3): 294-314. Strawson, P. F. 1974. Subject and predica/e in logic and grammar. Londres: Methuen. Tugendhat, E. 1976. Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie. Frankfllli am Main: Suhrkamp. Wittgenstein, L. 1984. Vermischte Bemerkungen. Werkausgabe Band 8. Frankfurt am Main: Suhrkamp. - . 1971. Prototractatus. B. F. McGuinncss, T. Nyberg and G. H. von Wright (orgs.). Comell University Press.
Notas 1
A exposic;:ao da semiintica inferencialista aquí desenvolvida segue a defesa apresentada por R. Brandom no capítulo 2, "Toward an inferential semantics," do seu livro de 1994, Making it explicit: reasoning. representing, and discursive commitment; e nos capítulos 1, IV e V do livro Articu/ating Reasons: an introduction to inferencialism, de 2000. Além disso, a proposta de E. TudendhaT, em Vorlesungen zur Einführung in die sprachana/ytische Phi/osophie ( 1976), de urna Semantica formal niío-objetual, e a proposta de R. B. Marcus de interpretac;:ao nao-existencial da quantificac;:iio ( 1971 ), sao levadas em considerac;:ao como implica~oes naturais do inferencialismo semiintico. 2 Essa idéia remete-nos a Frege, pois ele, ao introduzir a nor;iio de conteúdo conceitual, no Begri.ffsschrift de 1879, efetivamente nao utiliza a noc;:ao de referencia, mas antes a noc;:iío de potencial inferencia/: "Em minha linguagem conceilual... apenas aquilo que afeta as possíveis inferencias é levado em considerac;:ao. Tudo o que é necessário para urna inferencia correta é cxpresso completamente; o que nao é, em geral nao é indicado" (Begri.ffsschriji, § 3, p. 12). Frege buscava estabelecer um modo rigoroso de expressar pensamentos, isto é, a sua preocupac;:iio desde o inicio era com a relac;:iio entre urna expres-
11 8
Ce/so R. Brnida
sao lingüística e um conteúdo conceitual (begrifflichen lnhalt). O objetivo visado era o de expressar um conteúdo através de sinais escritos de um modo mais preciso e controlável, ''de modo a tomar explícitas as re la96es internas de urna seqiiéncia inferenciaf' (Begrijfsschrift, "Preface, " pp. 5- 8). A semantica fregeana estava constituida a partir da no9ao de conteúdo asserível (beurtheilbarer lnhalt), na medida cm que esta esclarece as propriedadcs semanlicas de uma cadeia de raciocinio. Este privilégio do valor inferencia! é juslificado por Frege justamente a través da tese da prioridade lóg ica do juízo sobre os conceitos nos quais e le pode ser decomposto. As matrizes semanticas seriam as relayóes que se estabelecem no interior de uma cadeia discursiva ou de urna seqi.iencia inferencia! pelo fato de que é o juízo que tem precedencia lógica sobre as partes: "Assim eu nao comeyo com conceitos e colocoos juntos para fomlar um pensamento ou juízo: eu chego as partes de um pensamento por análisc (Zerlallung) do pensamento," ou ainda, "Eu comeyo a partir de juízos e seus conteúdos, e nao a partir de conceitos. ( ...) Ao invés de por um juízo a partir da composiyao de um individual tomado como sujeito e de um conccito previamente dado como predicado, nós fazemos o oposto e chegamos ao conceito por meio da separa9ao do conteúdo de um possível juízo." Nas palavras de R. B. Brandom, um dos defensores mais coerentes da semíintica inferencialista : " Frege completes the inversion of the classical priority of concepts to judgements and judgements to syllogism by taking the contents of sentences (judgement in the sense of what is judged rather tban the judging of it) to be defined in terms of the inferences they are in volved in. Concepts are to be abstracted from such judgements by considering in varíance of inferential role (which pertain only to judgements) under various substitutions for c.Jiscriminable (possibly non-judgemental) components or the judgement" (Brandom, "Frege's technical concepts," 1986, pp. 256- 57). 3 Brandom 2000, pp. 48, 221. 4 Begriflsschrifl, §3. 5 Gnmdlagen, "Einleitung"; Cf. §§ 46, 60, 62. 6 Esta posiyao é as vezes denominada consequencialismo e associada a Wittgenstein: "Antes que 11111o proposir;oo possa ter sentido, tem que ser estabelecido completamente que proposir;oes seguem-se de/a" (Wittgenstein, Proto-tractatus , 3. 201 02- 3), conforme Platts 1997, pp. 68- 70 e, também, Ramsey, The.foundations ofmathematics, p. 123. A partir disso pode-se mostrar que a semántica baseada na teoría da prava (Proof-theoretic semantics), tal como ela é defendida por Sundholm ( 1994) e Prawitz (1977), constituí-se como urna explanayao inferencialisla, ao defender que o significado de tuna
Para a critica da semántica inferencin l
senten~a
119
é determinado pelo modo como ela pode ser provada, desde que a de prova seja pensada em termos intralingüísticos. Cano 1993, pp. 217- 18. O relevante nisso é que desse modo é possível explanar as relar;:oes de implicar;:ao lexical (implicar;:ao material) nao cobertas pela forma lógica ou estrutura externa das sentenr;:as: "Lexical implications .. . result from the sense of a lexeme rather than its denota/ion " (Cann 1993, p. 216). Esta explana~iio é também defendida por J. Katz: "sense structure is an intrinsic aspect of the grammar of sentences. independent of truth and reference" ("The new intensionalism," p. 696), o u a inda, "Sense is the aspect of the gramatical structure ofexpressions and sentences responsible f or properties and relations like meaningfulness. ambiguity. synonymy. red11ndancy. analy ticity . and analy tic entailment" (ldem, pp. 698- 9). 8 Devitt 1996, pp. 3, 14; Fodor & Lepore 1992, p. 7. 9 Brandom 1994, p. 484. 10 Idem, p. 306. 11 Demopoulos 1995, p. 7. 12 Tudendhat 1976, pp. 482, 498. 13 Brandom 1994, p. 426. 14 ldem, p. 472. 15 Em outras palavras: "la signification d'une phrase est /'ensemble des topoi" dont elle autorise /'application des lors qu'elle est énoncée" (Anscombre 1995, p. 44). 16 Brandom 2000, p. 126. 17 Brandom 1994, p. 472. 18 Idem, p. 472. 19 1983, § 109. Na versiio de Brandom, "para estar em condir;oes de introduzir 11111 novo termo como o nome de 11111 objeto. deve-se estabelecer q11ando seria correto reconhecer o objeto apanhado como o mesmo novamente; deste modo distingue-se-o de todos os outros objetos. (..) Para fazer isto tem-se que ver que a verdade ou falsidade de todas as identidades o envolvendo devem estar estabelecidas" (1994, p. 419). Portanto, o que é requerido é que para introduzir um novo termo singular se esteja comprometido com um enunciado de identidade fixador de re ferencia (p. 420). 20 Brandom 1994, p. 550. 21 "A language cannot refer to an objecl in one way unless it can refer lo il in two dijferent ways" (Brandom 1994, p. 425). 22 Idem, p. 426. 13 ldcm, p. 467. no~iio 7
120
24
Ce/so R. Braula
"lt is also possible for that anteceden! ítself to be anaphorically dependent on some prior anteceden!. Since recurrence and inheritance of substitutional commitments is transitive, so is anaphoric dependence. lt is in this way that anaphoric chains or trees are formed. They can be anchored or intiated by tokenings that are not themselves anaphorically dependen! on other tokenings. These are anaphoric initiators" (Brandom 1994, p. 458). 25 Brandom 1994, p. 465. Este ponto também é defendido por Tugendhat 1976, pp. 441,479. ~ 6 Brandom 1994, p. 442. 27 ldem, p. 442. 28 Aspecto explicitado e longamente analisado por P. F. Strawson em Subject and Predicare in logic and grom mar ( 1974). 29 Brandom 2000, p. 151. 30 Idem, p. 152. 31 Peregrin 1997, §4, pp. 9- 11. n A tese que os primitivos da análise semantica sao descri~oes, e nao designa~oes, está na base da argumenta~ao anti-referencialista de J. J. Katz: "we shall abandon the use of designations to reprcsents syntactic simples, and instead, represent them using descriptions which are specially designed to fonnally represent the semantically complex structure of syntactic simples" (Cogitations, pp. 73, 114). 33 A ado~ao da interpreta~iio substitucional dos quantificadores nao implica assumir uma semantica inferencialista, pois ela pode ser vista como apenas um recurso metodológico para resolver a semiintica de certas linguagens (Kripke 1976, pp. 405- 16; Marcus 1993, pp. 81, 2 13). 34 Kripke 1976, p. 335; Brandom 1994, pp. 434, 437; Tugendhat 1976, pp. 314-15. 35 R. B. Marcus, Modolities: philosophica/ essoys, " Possibilia and possible worlds", pp. 2 12-13; "Quantification and ontology," pp. 79-80. 36 ldem, p. 82. Cf. Brandom 1994, p. 4 36. 37 "Ground the semantics of quantifiers in the notion of truth.... disconnects the quantifiers from ontological commitment altogether. Like the sentence connectives, thcy are given in terms of tnllh alone. The rest is syntactical" (Marcus, ldem, pp. 79, 80). 38 Brandom 1994, p. 550. 39 K.ripkc 1976, p. 353. 40 ldem, p. 377. 41 Idem. p. 341.
Para a crítica da semántica inferencittl
121
~ 2 Brandom 1994, p. 439. ~3 Brandom 1994, p. 441 . 44 ldem, p. 306; p. 325. 45 Uma cadeia anafórica foi definida como "um tipo de recorrencia de ocorrencia - mna relayao entre ocorrencias que é pressuposta por, e assim nao ana1isável em termos de, comprometimcntos substitucionais" ( 1994, p. 467). 46 Brandom 1994, p. 466. 47 ldem, p. 458. " lt is also possible for lhat antecendenl itself to be anaphorically dependent on some prior anteceden!. Since recurrence and inheritance of substitutional commitments is transitive, so is anaphoric dependence. lt is in this way that anaphoric chains or trees are fonned. They can be anchored or intiated by tokenings that are not themse1ves anaphorically dependen! on other tokenings. T hese are anaphoric initiators" (p. 458). 48 Idem, pp. 373, 374, 384. 49 Tugendhat nao hesita em atribuir esta circularidade ao procedimento substitucional, mas avalia que ela é benigna ( 1976, p. 215). 50 Grover, D., Camp, J. & Be1nap, N. "A prosententia1 theory oftruth", 1975. 51 B. Ellis, "Truth as a mode of evaluation," 1980. 52 Brandom 1994, p. 323 . 53 ldem, p. 324. 54 Grover et al., 1975, p. 108. 55 1dem, pp. 83, 118, 121. 56 ldem, p. 106. 57 Idem, p. 113. 58 1dem, p. 114. 59 W. Quine, Pursuit oftruth ( 1990); P. Horwich, Truth (1998); H. Field, "The deflationary conception of tmth" ( 1986). 60 Fie1d, H. "Disquotationa1 ttuth and factually defective discoursc," p. 405. 61 Leb1anc, H. "A1ternatives to standart first-order semantics," 1983; Peregrin, J. "Language and its models: is model theory a theory of semantics," 1997. 62 Leb1anc 1983, p. 260- 1. 63 Peregrin 1997,pp.8, 14. 64 1dem, p. 9. 65 Ibídem. 66 Ibídem. 67 Leblanc 1983, pp. 189, 209- 10. 68 Peregrin 1997, p. 14.
122
69
Ce/so R. Braida
Cresswell 1973, p. 37. The logical structure ofthe wor/d, §161, pp. 256-7. 71 Brandom 2000, p. 155. 72 " Die Grenze der Sprache zeigt sich in der Unmoglichkeit, die Tatsache zu beschreiben, die einem Satz entspricht (seine Übersetzung ist), ohne eben den Satz zu wiederholen.» (Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen, p. 463). 73 Brandom 1994, pp325- 6; Leblanc 1983, pp. 219-1 O, 260. 7 ~ Brandom 1994, p. 90. 75 O holismo semantico, como mostra A. Coffa (1991, pp. 69, 233, 364-5, 369), sempre esteve presente como uma alternativa viável no horizonte da semiintica que se depreende dos trabalhos de Frege e Carnap, sendo explicitamente assumido por Neurath, Hempe[ e Quine. 76 Harman 1973, p. 14. 77 Devitt 1996, p. 15. 78 Peacocke, "Holism," 1997, p. 227 . 79 Davidson, 'Truth and Meaning," p. 5. 80 Brandom 1994, pp. 419-25. 81 ldem, pp. 426,478. 82 Nas palavras de Searle, endossadas por Brandom: " Em um sentido (o intensional-com-s) o enunciado ou cren<;:a que o Rei da Fran¡¡:a é calvo refere-se ao Rei da Fran<;:a, mas, nesse sentido nao decorre que baja um objeto a que eles se refiram. Em outro sentido (extensional), nao há nenhum objeto ao qual eles se refiram porque nao existe um Rei da Fran~a. Na minha opiniao, é fundamental distinguir entre o conteúdo de urna cren<;:a (i.é, uma proposi<;:ao) e os objetos dessa cren¡¡:a (ou seja, os objetos ordinários)"; Searle 1995, p. 24; Brandom 1994, p. 70. 83 Brandom 1994, p. 280. 8 ~ ldem, pp. 347,404. Tugendhat 1976, p. 483. 85 Tugendhat 1976, pp. 43, 53, 122-23. 86 Moura 1999, p. 67. 70
O círculo cartesiano Flávio M. de O. Zimmermann Unil'ersidade Federal de Sama Catarintt
1 lntrodu ~ao Nada fortalece mais o pirronismo do que o fato de haver quem nao seja pirrónico. Se todos o fossem, nao teriam raziio (Pascal, Pensamentos, fr. 374).
Descartes é geralmentc considerado o fundador da filosofía moderna por aceitar o desafio da dúvida cética e por julgar ter conseguido resolver a controvérsia iniciada pelos gregos e ressurgida no seu tempo. A cstratégia consistiu primeiramente em elevar a dúvida filosófica de forma metódica ao mais alto grau, a lcan~ando seu pico na hipótese do genio maligno. A segunda tarefa do método foi a de restaurar as certezas perdidas por meio de um principio fundamental capaz de estruturar todo o conhecimento humano, que havia sido também posto em dúvida, conforme a maioria das interpreta~oes. A solu9ao apresentada ao prob lema exposto por ele mesmo, que tioha por ünalidade representar a ansia dos pensadores daquela época, consistia na demonstra~ao da capacidade da razao cm se auto-afinnar, mesmo em um estado de ceticismo completo. A máxima csbo~ada no "penso, logo existo" foi a maior prava para Desca rtes da vitória do uso adequado da razao sobre a dúvida filosófic a inculcada pelos céticos e fideístas renascentistas. Ao que tudo indica, a descoberta logo se popularizou, mas ao invés de trazer conforto as mentes aflitas pelo conhecimento certo e verdadciro, acabou tendo que se defrontar com inúmeros adversários e Dutra. L. H. de A. e Mortari. C. i\ . (orgs.). 2005. Epistemología: Anais do IV Simpósio lntemaáonal. Principia- Parte l . Flori:mópolis: NEUU FSC. pp. 123- 143.
124
Fládo M. de O. Zimmc:rmann
opositores, nao só no decorrer da vida do filósofo franccs, mas até os días de hoje. Nao obstante as críticas religiosas, históricas e até sociais ao cogito, o interesse deste trabalho é apresentar urna das principais críticas de caráter filosófico a expressao cartesiana, que ficou conhecida como círculo cartesiano, bem como trazer ao debate, sempre que possível, a lgumas das respostas de Descartes ou de scus defensores a tal objey,ao.
2 O círculo cartesiano A principal crítica ao sistema filosófico de René Descartes ficou muito conhecida como "círculo cartesiano" ou "círculo de Amauld," por este ter sido um dos primeiros a advertir o amigo sobre o problema. Além de Arnau ld nas Quartas Objey,oes, os teólogos Mersenne e Gassendi fizeram a mesma observayao nas Segundas e Quintas Objey6es, respectivamente.1 Em linhas gerais, a suposta incocrencia resulta da afirmayao do autor das "Meditayoes" em afirmar que, tudo o que percebemos clara e distintamente é verdadeiro porque Deus existe e nao tem inten¡;;ao de nos iludir, e, em outra parte, sustentar que Deus existe e nao é enganador porque percebemos isso clara e distintamente. No decoiTer das "Meditay6cs," observa-se claramente a tal disparidade das afirmayoes: 1) "(...] a existencia de Deus deve a presentar-se em meu espirito ao menos como tao certa quanto considerei até agora todas' as verdades das Matemáticas [...]" (1979, p. 125). 2) "E, assim, reconheyo muito claramente que a certeza e a verdade de toda ciencia dependem do tao-só conhecimento do verdadeiro Deus: de sorte que, antes que eu o conhecesse, nao podía saber perfeitamente nenJmma outra coisa" ( 1979, p. 128).
Descartes tentou provar a existencia e a bondade divinas por meio de percepyoes claras e distintas, mas a garantía de que tais percep¡;;oes sao confiávcis devcria provir da bondade divi na! Ele nao poderia man-
O círculo caru:siano
125
ter ambas as proposi~oes e 2 ao mesmo tempo, é preciso que uma delas se institua como ponto de partida na argumenta~ao. Se ele nao apresenta razoes suficientes para isso, corre o risco de estar argumentando em círculo. Entretanto, é pouco provável que um matemático tao rigoroso como Descartes tivcsse incorrido em uma falácia tao evidente, especialmente após ter criticado essa cspécie de sofisma no prefácio das "Me dita~oes." Antes de condenar o projeto cartesiano de ser circular, deve-se tentar reconstituir os argumentos do autor sobre o problema e procurar fornecer urna explana~ao que possa ser adequada ao método da dúvida. Várias tentativas deste tipo foram empreendidas. O presente trabalho descreve as mais importantes, que foram cnquadradas em tres linhas, embora qualquer classifica~iio como essa scmpre possa parecer arbitrária: a garantía mnemónica, a garantía da regra de verdade e a garantía epistemica e psicológica.
2.1. A defesa mnemónica Descartes enfatiza nas "Medita~oes" que todas as nor¡:oes claras e distintas encontradas no interior de seu pensamento devem submeter-se a uma garantía extema e objetiva de poder suficiente para dar legitimidade as suas certezas subjetivas. Como conseqüencia desta afirma~ao, o autor foi acusado de nao saber ao certo nem mesmo se existía antes de ter o conbecimento verdadeiro da existencia.de Deus. Tal crítica é clara em urna réplica recolhida por Mersenne nas Segundas Obje~oes: [...] como ainda nao estais certo da existencia de Deus e dizeis, no entanto, que nao podeis estar seguro de coisa alguma, ou conhecer coisa alguma clara e distintamente, se primeiro nao conheceis certa e claramente que Deus existe, segue-se que nao sabeis ainda que sois uma coisa pensante, porquanto, segundo vós, tal conhecimento depende do conhecimento claro de um Deus existente, que ainda nao demonstrastes, nos lugares onde concluís que conheceis claramente o que sois. (Descartes 1979, em "Segundas Objeyoes," p. 147)
126
Flávio M. de O. Zimmermmm
A essa crítica o autor responde: [... ] onde atirmei que nada podemos saber de certo, se nao conhecermos primeiramente que Deus existe, afinnei, em termos expressos, que falava apenas da ciencia dessas conclusoes, cuja lembran9a nos pode retornar ao espirito, quando niio rnais pensamos nas raziies de onde as tiramos. Pois o conhecimento dos primeiros princípios ou axiomas niio costuma ser chamado ciencia pelos dialéticos. (Descartes 1979, em "Respostas do Autor as Segundas Objeyoes," p. 158, grifos do autor)
A resposta oficial de Descaties ao problema parece ser a de que a garantía divina diz respeito apenas a ciencia ou lembran~a de suas conclusoes, e nao ao que ele clara e distintamente concebe. Nas Quartas Respostas ele diz o mesmo a Amauld. Urna proposis;ao seria verdadeira, portanto, toda vez em que é concebida em nossa mente, independente do conhecimento da existencia do Ser Supremo. Há coisas que o entendimento apreende claramente, Descartes explicita, "[... ] quando observamos de petto as razoes de que depende seu conhecímento; e, por isso, nao podemos, enUío, duvidar dele" (1979, p. 161). E completa, de forma tao transparente, que é importante citar sua defesa na íntegra: Mas, dado que podemos esquecer as razoes, e no entanto recordar as conclusoes daí extraídas, pergunta-se se é possível ter uma firme e imutável persuasao sobre essas · conclusoes, ao passo que nos lembramos de que foram deduzidas de principios mui evidentes; pois esta lembranya deve pressupor-se para que possam chamar-se conclusoes. E eu respondo que só podem te-la os que conhecem de tal modo Deus a ponto de saberem que niio pode acontecer que a faculdade de entender, que !hes foi dada por Ele, tenha por objeto outra coisa se niio a verdade; mas que os outros nao a tem. (Descartes 1979, em "Respostas do Autor as Segundas Objec;:oes," p. 161)
O circulo cartesiano
127
Além das rcspostas as objeyoes, algumas passagens nos Príncipes sustentam a mesma inte rpretayao com rela9ao ao papel epistemológico de Dcus na filosofia cartesiana. O artigo 13 é desti nado a resolver a controvérsia da seguinte maneira. Ao asseverar que o pensamento tem noyoes seguras de verdade ao tempo em que as compreende e considera a ordem de que tirou suas conclusoes, Descartes afitma que tem motivo de desconfiar de seu raciocínio apenas quando acontece de lembrar-se de alguma ciencia cuja cadeia de razoes nao é demonstrada imediatamente ao intelecto. O artigo 44 regula que é somente nossa memória e nosso conhecimento passado que nos faz errar e nos enganar. Isso acontece toda vez que julgamos algo sem aprecndc-lo, reitera o autor, pois é uma prescri9ao da luz natural nunca julgar o que nao conhecemos distintamente. A funyao de Deus no sistema cartesiano seria, enHio, a de assegurar as memórias de conclusoes prévias, ao passo que algumas nor;oes distintas estariam livres da dúvida hiperbólica. De fato, assegurar-se de todas as cadeias de raciocinio e ainda ter que recomeyar todas as provas das operar;oes lógicas que as sustentam cada vez que necessitamos delas seria urna tarcfa infinita ao ser humano. Gilson ( 1987, p. 360) e Aune (1991, pp. 14-5) concordam com essa leitura. Ambos afirmam que os princípios auto-evidentes, tais como o cogito e a prova da existencia de Deus, dispensam qualquer auxílio externo, pois no momento em que sao concebidos, o pensador já está atento para nao ser vítima da hipótese de um genio enganador. A garantía divina a que Descartes invoca, prosst:gue Gilson, deve referir-se apenas a memória (souvenir) de uma evidencia, pois memória nao é considerada evidencia enguanto puder ser tomada erroneamente ou ser submetida a dúvida. Desta forma, até o próprio cogito poderá ser avaliado como um prejuízo e necessitar de ava l extemo se trazido ao intelecto como memória ou se afirmado sem q ue se pense em se u conteúdo ( 1987, pp. 360-1). Apesar da notoriedade dcste desfecho, a reivindica9ao dos primeiros princípios e o pape l da divindade no sistema cartesiano tem sido muito disputados entre os comentadores, e autores fomccem respostas
128
Ffá,.io M. de O. Zimmermcmn
alternativas ao problema da circularidade. Cottingham entende que a defesa da memória nao é satisfatória por duas razoes. Uma deJas é a de que a idéia mantida por Descartes de que algumas proposis:oes sao tao simples que nao poderiam ser questionadas nao se coadunaría com a possibilidade da dúvida geral levantada na Primeira Meditas:ao. Outra disparidade diz respeito as premissas necessárias para provar a existencia de Dcus: estas deveriam ser tao simples e transparentes que bastaría prestannos atens;ao neJas para que sua certeza esteja garantida. Mas tal clareza certamente nao é o caso se lembrarmos da complexidade que suas premissas envolvem para serem compreendidas (1993, p. 31). Outras interpretas;oes destinadas a resolver o problema tentam, de diferentes modos, solucionar as duas questoes. Para estas leituras, a dúvida metódica estende-se a todas as nos:oes de verdade, e a garantía divina nao deve dizer respeito apenas as recorda.yoes da pessoa que suspende o juízo. As próximas ses:oes apresentarao tais respostas, e, ainda que de fonna aleatória e casual, em duas partes para facilitar a exposis:ao. De um modo geral, pode-se denominar a aceps:ao acima de interpretas:ao conservadora (conservative interpretation), seguindo Dugald Murdoch. Tal interpretas:ao toma a idéia de um deus que pode nos ter dado uma natureza enganosa como razao para duvidar de apenas algumas das coisas que percebemos clara e distintamente, excluindo as verdades eternas. As interpretas:oes seguintes podem ser chamadas de radicais (radical inte1pretation), seguindo ainda este tradutor das obras cartesianas para o ingles, conjeturando a idéia do genio maligno como uma razao para duvidar de tuda o que percebcmos clara e distintamente (1999, p. 223).
2.2. A defesa da regra de verdade As dificuldades apontadas na defesa mnemónica pelos críticos sao textuais e filosóficas. Cottingham discorda que o papel de Deus na obra de Descartes scja apenas o de garantir a confiabilidade de nossas
129
O circulo cartesiano
recordayoes passadas. Mesmo após provar a veracidade divina, o autor nao teria sustentado a infalibilidade das lembranc¡:as de suas conclusoes, pensa Cottingham, mas mantido que deveria rever e checar os resultados de raciocinios, além de manter seus argumentos sob revisao para e liminar continuamente quaisquer residuos de preconceitos que poderiam ainda infectar seu juízo. Isso faz sentido se observarmos que os a11. 68 ao 75 dos Príncipes tratam de instruir o leitor maduro a filosofar corretamente, m ostra o comentador ( 1986, p. 7 1). Autores mostram que, na conversa com Bunnan, o filósofo depoe que cada um deve dctenninar por meio de sua experiencia pessoal se tem ou nao boa mcmória, testando a si próprio ou fazendo uso de notas e artificios semclhantes. A Regra XVI também estabelece que as coisas que exigem atenc¡:ao continua nunca podem ser confiadas a memótia, que pode distrair o pensamento com recordac¡:oes inúteis. Mas, em vez de buscar ajuda ele albures, o autor apresenta meios para se evitar o problema. Ele su gere:
1
Convém fazer um resumo em que escreveremos os termos da questiio, tais como nos tenham sido propostos na primeira vez; depois, a maneira de abstrai-los e os sinais com que se os representa, a fim de que, quando a solu~ao seja encontrada, com os mesmos sinais a apliquemos faci lmente e sem nenhuma ajuda da memória ao objeto particular de que se trata; pois nada se abstrai, a nao ser de uma coisa menos geral. (Descartes 2000, p. 134)
A aparente divergencia textual entre as Regras e as
Respost~s
as Segundas Objec¡:oes poderia gerar urna inconsistencia na filosofia cartesiana. Mas os objetores da garantía mnemónica nao julgam que as respostas do autor devam ser tomadas tao literalmente. É possível que, nas partes das Objec¡:oes em que a questao da memória é tratada, o respondente nao estivesse discutindo se mcmória de fato deve ser confiável, mas se o que é lembrado pode ser considerado razao suficiente para estabelecer a vcrclacle da conclusao cm quesHio. O autor estaría indagando, portante, se algo que foi uma vez provado pode designar alguém a estar ccrto neste instante da verdade do que entao
130
Flávio M. de O. Zimmermann
foi provado . Esse é o parecer de Harry Frankfurt no seu artigo contra a defesa da memória ( 1996b, p. 359). Henry Wolz também assevera que Desca1tes, neste questionamento, nao estava preocupado se um estado prévio de certeza foi atingido na ocasiao em que a reflexao era atual para ele, mas se um tal estado, lembrado atualmente pela memória, é a inda válido (1 996, p. 227). Da mesma forma Larmorc m ostra que no artigo 13 dos Principes, onde se trata da memória, o autor admite a validarle de dcmonstras;ao de urna proposis;ao lembrada, mas entende que, se nao atcndermos as premissas que a tornam evidente, podemos nos desconcentrar de seu assentimento e crer na possibilidade que ela seja falsa (1996, p. 304). Há mais um trecho nas "Meditac;oes" que pode auxiliar a aceps:ao de que o possível engano mencionado pelo autor acerca da memória de conclusoes obtidas nao estaría dizendo respeito ao seu uso no momento em que a dúvida alcanc;a seu ápice, mas apenas ao fato de memória ser utilizada scm que suas premissas sejam devidamente meditadas. Ao fim da sua resposta ao questionamento de Mersenne nas Segundas Objec;oes, Descartes nos remete para o fina l da Meditas;ao Quinta, ponderando já ter tratado lá suficientemente do assunto . Em tal passagem, o autor mostra que pode conhecer verdadeiramente a natureza do triangu lo quando presta atens;ao na demonstras;ao da medida de seus angulos, mas que também pode suspeitar desta verdade, caso desvíe o pensamento de sua evidencia e ignore que há um Deus para garantí-la. Mas, após reconhecer a benevolencia divina, ele julga que tudo o que concebe clara e distintamente é verdadciro, ainda que nao mais pense nas razoes pelas quais fez o julgamento, mas que lembre de te-las comprccndido como urna ciencia certa e verdadeira (1979, p. 127-8). A lembrans:a do juízo aqui fica a cargo do meditador, e nao de um Ser Supremo para garantí-la, e o aval divino, como foi bem colocado, deve estender-se a todas as reflexoes do intelecto, e nao apenas aqueJas trazidas pela recordac;iio. A interpretac;ao referente a memória pode também encontrar obstáculos de nivel filosófico na teoría do conhecimento cartesiana. Frankfurt (1996b) observa que tal garantía poderia comprometer Des-
O circulo canesiano
13 1
cartes a doutrina altamente ímplausível de que memória dcve ser infalível. Um outro problema mencionado pelo crítico é que, mesmo na prova da existencia divina é preciso lembrar de coisas que foram demonstradas, e a precisao desta lembrans:a poderia engendrar um novo círculo. De modo análogo, para confiar na memória de certas conclusoes matemáticas durante a manipula<;ao de idéias, Descartes teria que apelar para a memória de ter provado a existencia de Deus, diz Dicker, mas isso igualmente incidiría em um outro círculo: o de defender a confiabilidade da memória com u m novo uso da memória ( 1993, p. 123). Urna saída a Descartes nesta situa<;ao, lcmbra Frankfurt, poderia ser a de atender ativamcnte e simultanearnente nao só os passos que estao sendo lcmbrados cm urna determinada prova, mas também os da demonstra<;ao teológica. Mas esse processo também nao se harmoniza com a filosofía cartesiana de que é impossívcl a urna mente atenta perceber inúmeras coisas ao mesmo tempo. Além das passagens cm que Descartes defende tal posi<;ao, pode-se fazer um paralelo dcste raciocinio com a visao encontrado na "Ótica," enfatizada por Cottingham, na qua! o autor sustenta que, ao tentar manter vários objetos em atcn<;ao a o mesrno tempo, alguns sernpre fi carao fora de foco ( 1986, p. 70). Visto que nosso inte lecto nao é capacitado a lidar com diversas idéias concomitantemcnte, alguns críticos sustentam que a garantía divina, ao invés de memória~ cstivesse se rcpo1tando a rcgra de verdadc e a continuidadc do cogito, mas nao a corrente atual do nosso raciocinio de percep<;ocs claras e distintas indivjduais e pa1ticularcs. Para tomar a classifica<;ao dada por Dicker, estes serao chamados de defensores da regra de vcrdade ou regra geral ( 1993, p. 125). Cottingham, por excmplo, entcnde que para alguém obter conhecimento certo de sua existencia, basta confiar nas intui<;ocs fundamcntais do intelecto. Até mesmo o ateu pode obter cssas cogni<;oes. Mas, para construir urn carpo sistemático de conhccimento e se destocar da mera cogni<;ao de reflexoes temporais (cognitio) para o conhecimento estávcl (scientia), é nccessário buscar amparo na idéia da divindade. Ncste caso, o ateu nao podcria fazer progressos além de episódios
132
Flávio t\11. ele O. Zimmermam1
isolados de conhecimento nem obter ciencia verdadeira da totalidade de su as próprias percepyoes2 ( 1986, pp. 70-l ). Para Bemard Williams, a prova da existencia de Dcus encontra-se entre aquelas intuivoes que sao indubitáveis quando refletidas. Somente aquele que assentir a ela será capaz de construir ciencia verdadeira e sistemática. O fiel, portanto, tem uma resposta sistemática e geral a dúvida sistemática e geral, enquanto o ateu nao, que deve apenas assentir temporariamente a algumas proposiyoes claras e distintas, compreende Williams (1983 , p. 349). Wolz afirma igualmente que nossa existencia, quando devidamente meditada, é certa. Mas, como a dura9ao do nosso pensamento é divisível, a regra de verdade também toma lugar no tempo, sendo incapaz de conferir validade a nossa experiencia para além daquele momento passageiro. Para isso, a certifica9ao divina é exigida, e a dupla garantía, a humana e divina, é fundamental para a totalidade do conhecimento científico, por causa da concepyao cartesiana de tempo, de que um momento nao necessariamente é conectado com outro, encerra o argumentador ( 1996, pp. 228- 9). Murdoch também mostra que Descartes nao tem razao para duvidar de suas apreensoes intuitivas, como a do cogito e da prova de existencia divina, mas tem motivos para nao confiar nas suas percepyoes de inferencia. Daí segue-se a importancia de evidenciar que Deus existe e nao pode ser impostor (1999, pp. 237-8). Tais comentadores devem ser compreendidos como considerando a intervenvao divina a máxima cartesiana de que tudo o que ele concebe clara e distintamente deve ser verda.deiro. Se tal concepyao puder ser favorecida pela bondade de Deus, todos os eventos de ciencia individual poderao apoiar-se igualmente na regra de verdade. A resposta ao problema do regresso ao círculo de Kenny pode também ser avaliada como a de que a garantía divina estivesse sendo imputada apenas a regra de verdades claras e distintas. Tal posiyao, no entanto, aproxima-se também da resposta epistemica, que será vista a seguir. Kenny divide a dúvida cartesiana em primeira e segunda ordem. A de primeira ordem é aquela que nao pode ser hesitada no momento atual em que é pensada, mas pode ser posta sob suspeita de modo indireto, quando
O circulo cartesia11o
133
alguém desvía a atcnc;ao de seu teor. A dúvida metafísica de segunda ordem, logo, é a que qucstiona a verdade da proposic;ao geral de que tudo o que percebemos clara e distintamente pode ser falso, indagando, portanto, se nossas faculdades sao realmente confiáveis, e esta só pode ser removida por Deus. A certeza atingida no primeiro nível, que exprcssa a consciencia da mente (as premissas do cogito) e a presenc;a da idéia de Deus, é indubitável, mas nao assegura que nunca trairemos nossas faculdades considerando-as todas falsas. A veracidade divina, por conseguinte, dcve remediar tal fraqueza do intelecto humano e reve lar a irracionalidade da dúvida metafísica ( 1995, pp. 183- 99). Esse tipo característico de resposta ao desafio da circularidade é criticado por Dicker, que afinna nao haver suporte textual para sua conclusao. Ademais, se o conhecimento da regra geral nao for necessário para a prova da existencia de Deus, como deve ser suposto em tal interpretac;ao, será igualmente dispensávcl para as provas matemáticas ou de dcmonstrac;oes análogas. A réplica, porém, pode ser a de que, sem a regra geral, alguém estaría limitado a episódios momentaneos de certeza e privado de ciencia permanente, reconhece o próprio Dicker. Outra inquiric;ao do debatedor é se, ao duvidar do principio geral de verdade, nao estamos duvidando também da veracidade do que percebemos claramente na circunstancia do geojo. A defesa, segundo ele, é incompatível com a exigencia de que as percepc;oes devam ser nao só auto-evidentes, mas também auto-garantidas (1993 , pp. 130-32). Para responder esta crítica, ~ería preciso aduzir argumentos contra a dúvida envolvcndo o exercício atual da razao. Mas como a crítica de Hume exposta na sec;ao XII de Enquiry conceming Human Understanding indica, a razao é insuficiente para provar o uso da mesma sob pena de redundar em círculo. Há alguns autores, no entanto, que procuram satisfazer a solicitac;ao cartesiana, tentando, da mesma fonna , solucionar o círculo. Tal objec;ao aqui será nomeada defesa epistemica, mas há urna cotTente dissidente dela chamada defesa psicológica. Ambas sedío tratadas na próxima sec;ao.
136
Flá1•io ¡\f. d e O. Zimmemumn
para se vencer o pirrónico dentro do ponto de vista destes autores seria, ou tentar iscntar a base do rncta-critério da dúvida, chamando o procedimento de "Isenr;:ao de bases antecedentes" (Anteceden! Grounds Exemption), ou permitir inicialmente que o critério de primeira ordem seja indeterminado pelo meta-critério da dúvida, mas, após regredir urn número finito de níveis, declarar urna base mais fundamental como imune a um questionamento além. Esse método seria o de "Isens:ao de bases subseqüentes" (Subsequent Grounds Exemption). Mas, ambas as alternativas sao arbitrárias, de acordo com os debatedores, que propoem um aumento de bases (Grounds Enhancement), ao invés de iscns:ao. Em tal critério, os passos da demonstrar;:ao divina nao serviriam como bases de assentirnento nem apareceriam na forma de prernissas adicionais, mas como urna garantía autofundada, de modo análogo ao cogito. A hipótese de um criador que tivcsse nos programado com faculdades ineficientes nao pode ser concebida, exprimem os autores, e, assim que a confiabilidade das capacidades cognitivas de alguém se torna axiomática, qualquer esfors:o para firmar urna dúvida meta-criterial é visto como incoerente e contraditório. A anuencia a tais faculdadcs , logo, deve ser epistemica e psicologicamente imexívcis ( 1999). A garantía epistemica, no entanto, é questionada por Markie, que entende que perceps;ao clara e distinta nao deve ser relacionada com certeza metafísica no sistema cartesiano ( 1996). Markie atribuí esta caracterizac;:ao a Kcony e Frankfurt, embora seja discutível se Frankfurt ten~a realmente e ntendido a qucsUio desta forma 3. Markie mostra que esta proposir;:ao é inconsistente com urna afirmas:ao da Quinta Meditac;:ao, em que o autor admite nao possuir ciencia verdadeira até que conhec;:a o autor de sua existencia, mas apenas "opinioes vagas e inconstantes" ( 1979, p. 127). Tal interpretas:ao contra Frankfu rt vem recebcndo vários adeptos, como é o caso de Larmore e Loeb. O primeiro sustenta no artigo " Oescartes's Psychologistic Theory of Assent," que a relas:ao entre evidencia e assentimento na teoria cartesiana nao está fundada em uma obediencia a uma norma de racionalidade, mas em um fato psico-
O circulo car1esiw1o
137
logicamente compelido sobre nossas mentes. O conceito de verdadc relacionado a uma noc;:ao nao-cpistemica, portanto, será mclhor compatível coma accpc;:ao de que urna proposic;:ao de assentimento compelido e indubitável possa ser absolutamente falsa. A razao peculiar para fundamentar esta interpretac;:ao é a afirmac;:ao de Descartes que urna proposic;:ao será indubitável somente nas instancias em que ela for evocada a mente. Se o acato a urna norma racional fosse o caso, diríamos que assentimos a proposic;:oes evidentes porque a regra nos obriga a observarmos as leis da lógica. Mas, lembra Larmore, as regras da lógica nao usufruem imunidade na universalidade da dúvida hiperbólica, e podemos conceber que tudo o que clara e distintamente percebemos pode ser falso! Dcvemos, portanto, apenas crer na habilidade de nossa mente para chcgar a vcrdade, e nao que atualmente nosso critério de verdade é conespondente a sua concepc;:ao absoluta ( 1996). Loeb identifica a postura psicológica do autor em fragmentos das "Meditayoes," em que ele faz alusao a cren9as firmes e sólidas. No primeiro parágrafo da Meditac;:ao Primeira, por exemplo, o autor procura se desfazer de suas antigas opinioes e cren9as a fim de encontrar "algo de firme e constante nas ciencias" (que/que e hose de ferme et de constan/ dans les sciences). Também no segundo parágrafo da Medi tac;:iio Segunda, toda a sua investiga9ao é projetada para o estabelecimento de algo que seja ''certo e indubitável" (certaine et indubitable), a exemplo do objetivo de Arquímedes. Para Loeb, a meta do filósofo é a de encontrar crent¡:as sólidas com a finalidade de atingir um estado .de espirito "doxástico" e bem estabelecido (settled doxast,ic states). Descartes teria, entao, associado crent¡:a firme a cren9a inabalável (unshakable beliej), para contrapó-la a crent¡:a instável, que seria crent¡:a passível de dúvida ( 1992 e 1998). Talvez a única dúvida inculcada por Descartes fosse a desconfianc;:a indireta das capacidades humanas, além da dos sentidos, e nao aqueta aplicávcl a mente quando se reporta as percep¡¡:oes claras e distintas acerca da existencia divina e outras semelhantes. No momento em que a mente está diretamente atenta a uma proposiyao clara e evidente, a clúvida nao pode ocupar lugar neta, pois nao é um objeto de
138
Fltíl'io M. de O. Zimmerma1111
sua consciencia, e já foi enfatizado que o entendimento nao é capaz de intuir tantas coisas ao mesmo tempo. O conhecimento da regra de verdade e da existencia divina, portanto, estariam fundados em urna cren.ya inesistível, que nao poderia ser expelida por argumentos céticos. Antes do conhccimento da existencia do deus nao-enganador, porém, suas opinioes sao imprecisas e mutáveis, mas psicologicamcnte inabaláveis e baseadas na melhor evidencia possível de verdade, enteode a inda Loeb ( 1998). No entanto, esta representayao nao retrata a filosofia de Descartes como apta a fundar um conhecimeoto objetivamente verdadeiro, e há momentos em que o autor cstabelece como meta o conhecimento da verdade, como no título do artigo 1 e na primeira senten.ya do artigo 4 dos Príncipes. Pode-se considerar ainda o título dos seus diálogos inacabados: " A Procura da Verdade pelas Luzes Naturais" (Recherche de la Vérité par les Lumieres Naturelles). A observayao é de Cottingham, que considera a leitura de Frankfurt muito " moderna e relativista" (1986, p. 69). Kcnny afim1a ainda que Frankfurt subestima a preocupa.yao de Descartes com a verdade. Ele sustenta que seus juízos nao sao apenas psicologicamente, mas também logicamente a melbor base para aceita-;ao da verdade, e por isso, jamais poderiam ser considerados fa lsos . As respostas a Mersenne, que induzem esta leitura, alerta Kenny, nao proferem que "nao importa se nossas intuiyoes parecerem falsas a Deus ou aos anjos," mas que "nao importa se alguém fingir tal hipótese." Esta simula.yao, porém, nao nos aborrecería, porque estamos certos que o que ele supoe é só urna ficyao, diz.Kenny, baseandose nas considera-roes seguintes do autor nas "Objeyoes e Respostas." Ademais, é perceptível entre tais considerayoes a Mersenne a defesa da tese que Deus nao é enganador. Se pudesse ser o caso que o que Deus faz parecer verdadeiro para nós parecesse falso a Ele, Deus teria que ser enganador, contrariando a mais importante prava de Sua bondadc, ene erra a crítica do comentador ( 1995, pp. 191-5).
O círculo carlesimw
139
3. Conclusao Em suma, todas as versoes acima sofrem críticas, mas o presente estudo nao tem por objetivo desclassificá-las indiscriminadamente para aceitar a tese de que Descartes nao teria observado a suposta circularidade de suas afirma~oes. A intenyao destc trabalho é apenas apresentar as principais linhas de i n terpreta~ao com rela~ao ao tal problema, e indicar que nenhuma delas está livre de admitir conseqüencias danosas para a filosofi a cartesiana. Ao restringir um detem1inado aspecto da dúvida, cada análise acaba por abrir mao de algum ítem muitas vezes crucial para que o método possa ser capaz de resolver todos os paradoxos de valida~ao da razao apresentados pelo cético. O partidário da dúvida parece sempre sair cm vantagem cm situa~oes como essa. Uma apropriada representa¡yao aquí é a do cético de Pascal, ilustrada na epígrafe deste texto. "Enguanto houver dogmáticos, o célico semprc terá razao," descreve a sua máxima. Para superar o receio sobre a confiabilidade da razao, é preciso, obviamente, utilizar-se da razao. Mas se esta confiabilidade for duvidosa, como os seus resultados poderiam igualmente ser confiáveis? Somente se alguns recursos racionais pudessem estar a salvo da dúvida hiperbólica. Mas se este for o caso, dcve-se admitir que a busca pelo conhecimento verdadeiro e objetivo fracassa, e o ceticismo cartesiano, ao incorporar somente alguns aspectos da dúvida, teria que renunciar sua meta de universalidade. A solu¡yao de que o papel de Deus na ~pistemologia cartesiana devería servir apenas para garantir a fidedignidade de nossas memórias poderia encontrar obstáculos ao utilizar a própria memória na formayao da dúvida ou na prova da divindade. Ou ainda, poderia nao fazer jus a dúvida universal ao aftrmar que detenninadas percep~oes pudessem ftcar livres dela. Se, por outro lado, Deus intervém na ftlosofta do autor apenas para confiar a regra de que tudo o que ele conccbc clara e distintamente será scmpre verdadeiro, como ele poderia ter o conhecimcnto de que sua prova é também verdadeira? Novamente, apenas se suas primciras perccp¡yoes obtcrcm o privilégio de isen¡yao da dúvi-
140
Flávio M. de O. Zi111111erlllann
da. A terceira lcitura aprcsentada no presente trabalho tentou resolver o problema ao sustentar que a dúvida de percepc;:ocs certas e evidentes nao poderia sofrer o auto-questionamento sob pena de apresentar-se incocrente e contraditória. O preryo a ser pago pelos intérpretes do psicologismo seria o de renunciar a fundaryao da noryao objetiva de verdade por meio da natureza das idéias, além de sofrerem a crítica de estarem utilizando a razao para sustentar ela própria, urna premissa inadmissível por muitos céticos. Entretanto, se o foco da filosofia cartesiana for semente o de procurar um critério racional para demonstrar a incoerencia de quem usa a razao para desconfiar deJa própria, o projeto pode encontrar algum succsso. Por outro lado, se o objetivo foro de validar urna forma de conhecimento que se estende para além da nossa própria capacidadc, devc-se conceder vitória ao mais ousado cético. Se o nivel do debate presente nas "Meditaryoes," portante, foi o de primeiro tipo - o que nao é tao implausível pcnsarmos - a meta de Descartes parece ter sido apenas a de obrigar o partidário da incrcdulidade a andar com os pés bem calryados ao chao, e lidar com todo o material disponível que possui: sua própria razao, ou melhor, "toda certeza que qualquer ser pode razoavelmente desejar." E mesmo que o fun do método seja o de legitimar urna verdade extra-racional, os problemas expostos nas demais interpretaryoes nao vinculam, necessariamente, que Descartes tenha cometido o círculo e que sua epistemología racionalista é falha , a excmplo do julgamento precipitado de Musgrave ( 1993, .P· 209). Talvez fosse mais apropriado crermos, de modo análogo aos pensamentos de Cottingham ( 1986, p. 73) e Weintraub ( 1997, p. 375) que, ao invés de cometer tal falácia, o autor tenha encontrado tantas dificuldades porque enfrentou um projeto de fundac;:ao do conhccimento demasiado austero e ambicioso.
O circulo cartesiano
141
Referencias bibliográficas Aune, B. 1991. Knowledge ofthe externa/ world. Londres: Routledgc: 1-26. Beyssade, M. 1972. Descartes. Lisboa: Edi96es 70. Cottingham, J. 1993. A Descartes Dictionmy . Cambridge: Blackwe ll. - . 1986. Descartes. Oxford: Blackwell. Descartes, R. 1979. Discurso do Método, Medita¡;oes, Obje¡;oes e Respostas, As Paixoes da Alma, Cartas. Col. Os Pensadores Sao Pau1o: Abril Cultural. - . 1885. Les Príncipes de la Philosophie, Premiere Partie. París: Delalain freres , Trad. franc esa de Claudc Picot aprovada pelo autor. - . 1996. Les Meditations Metaphysiques, Objections et Réponses. París: Vrin (Oeuvres de Descartes, Paul Tannery; Charles Adam, V. 9.) - . 1826. Recherche de la Vérité par les Lumieres Naturelles. Paris : Levrault (Oeuvres de Descartes , Víctor Cousin, v. 11.) - . 2000. Regras para a Dire¡;iío do Espirito . Sao Paulo: Martín Claret. Dicker, G. 1993. Descartes: an analytical and historica/ introduction. Oxford: Oxford University Press. Frankfurt, H. 1996a. "Descartes's Validation ofReason." In Georgcs J. D. Moya! (org.), v. 1, René Descartes Critica/ Assessments. Londres e Nov:a York: Routledge. - . 1996b. " Memory and Cartesian Circle." In Georges 1. D. Moya! (org.), René Descartes Critica/ Assessments, v. Il. Londres e Nova York: Routledge. Gilson, É. 1987. René Descartes: Discours de la Méthode, Texte et Commentaires. París: J. Vrin. Kenny, A. P. 1995. Descartes: a Study ofhis Philosophy . Bristol: Thoemcs.
142
F/(wio M. de O. Zimmermann
Larmore, C. 1996. "Descartes's Psychologistic Theory of Asscnt." In Georges J. D. Moyal (org.), v. l, René Descartes Critica/ Assessments. Londres e Nova York: Routlcdge. Loeb, L. E. 1998. "Sextus, Descartes, Hume, and Pcirce: On Securing Scttled D oxastic Statcs." Noús 32 (2). - . 1992. "The Cartesian Circle." In Cottingham, J. (org.), The Cambridge Companionto Descartes. Nova York: Cambridge University Press. Markic, P. 1996. "Ciear and Distinct Perccption and Metaphysical Certainty." In Georges J. D. Moya! (org.), v. J, René Descartes Critica/ Assessments. Londres e Nova York: Routledge. Murdoch, D. 1999. "Thc Cartesian Circle." The Philosophical Review 108 (2). Musgrave, A. 1993. Common Sense, Science and Scepticism. Cambridge: Cambridge University Press. Newmon, L. e Nelson, A. 1999. "Circumventing Cartesian Circles." Noús 33 (3). Popkin, R . 2000. A História do Ceticismo de Erasmo a Espinosa. Rio de Janeiro: Francisco Alves. Schmitt, F. F. 1992. Knowledge and Belief Londres: Rout1edge. Williams, B . 1983. "Descartes's use of Skcpticism." In Myles Burnyeat (org.), The Skeptical Tradition. Berkeley: University ofCalifomia Press. Wi1son, M. D. 1991. Descartes. Londres: Routledge. Wolz, fl. 1996. "The Double Guarantee of Descartes's Ideas." In Georges J. D. Mayal (org.), v. 1, René Descartes Critica/ Assessments. Londres e Nova York: Routledge.
Flávio Miguel de Oliveira Zimmermann Universidade Federal de Santa Catarina Doutorando do programa de filosofía na área de Epistemología. e-mai1: flaviozim@yahoo.com.br
O círculo cartesiano
143
Notas 1
O detalhamento da questao pode ser encontrado ainda em outras obras dos críticos. Arnauld a expoe na "Logique ou l'art de penser" parte IV, cap. VI, segundo Popkin (2000, p. 320). Gassendi, em " lnstances," roed. IV, dubit. IV, inst. 2, conforme Gilson (1987, p. 360). A crítica foi também exposta no famoso "Dictionnaire" de Bayle no verbete "Cartes, René Des," e na sec;:ao XII de E nquiry concerning Human Understanding de Hume. 2 Conforme colocado a Mersenne nas Segundas Objec;:oes ( 1979, p. 158). 3 Cottingham e Kenny, por exemplo, consideram a interpretac;:ao de Frankfurt como defesa psicológica das percepc;:oes claras e distintas. Adiante serao apresentadas suas críticas a tal defesa.
Sobre o conceito de superveniencia em Davidson Giovanni da Silva Queiroz Universidade Federal da Pcwaíba
,
Donald Davidson foi o primeiro filósofo a introduzir o conceito de superveniencia nas diseussocs acerca do problema mcnte-eorpo.1 Através deste conceito, Davidson pretende dar uma expliear;ao possível de como se dá uma inte rar;ao entre o mental e o fisico - que ele sustenta - sem se comprometer com a rcdus:ao preconizada pelo materialismo clássico - que afirma que processos mentais sao, apenas, proeessos eerebrais -, nem se comprometer eom a existencia de leis psieofisicas. Em defcsa de suas teses, Davidson sugerc que pensemos em algumas relar;oes que oeoiTem entre a semantiea e a sintaxe fonnais, que sao, segundo ele, um excmplo claro da relar;ao de superveniencia. No que se segue, após uma breve motivas:ao de algumas idéias de Oavidson, apresentamos as formulat¡:oes do filósofo para o eonceito de superveniencia, examinamos a aplicat¡:ao deste conecito ás relar;oes entre sintaxe e semantica e apre-sentamos um quadro fonnalizado no qua! se pode eompreender tal eoneeito. Ao firial, apresentamos uma abordagem geral entre semantica e sintaxe, retomamos ao problema da superveniencia e apresen tamos algumas conclusoes.
l. Superveniencia: algumas
considera~óes
A atribuis:ao de um estado ou evento mental a um agente racional nunca ocon·e sozinha. Quando atribuímos um determinado estado Dutra. L. H. de A. e Mortari. C. A. (orgs.). 2005. Epistemolugia: Anais do 11' Simpósio lntenwcional. Principi(l- Parte l. Florianópolis: NEUUFSC. pp. 145 168.
146
Gioi'GIIni da Silva Queiro;:
mental a alg uém, estamos inclinados a atribuir também outros estados mentais, eventos que impliquem e que sao implicados por aqueJe evento, pois este é o modo pelo qua! nos rela~ionamos com os outros no mundo. É parte de nossas próprias crenc;:as que os agentes raeionais com quem lidamos sao tao racionais quanto somos nós e que, também, estao dispostos a concordar com várias das crenc;:as que alimentamos; nós acreditamos que tais agentes tem desejos conectados a várias crenc;:as e que partilham de várias de nossas pressuposic;:oes sobre a linguagem e sobre o mundo cm que nos situamos. Nossas relac;:oes com outros semelhantes se dao numa determinada rede de crenc;:as, desejos e intenc;:oes. É o holismo do mental. Nas palavras de Davidson: "(E)u estou enfatizando o holismo do mental ( ...). Mio há, como argumentei, crenc;:as sem Olltras crenc;:as relacionadas, nao bá crenc;:as sem desejos, desejos sem crenc;:as, intenc;:oes sem crenc;:as e desejos" (Davidson 1999, p. 126). Nós atribuímos crenc;:as, desejos e intenc;:oes a outros, e a nós mesmos, e acreditamos que estes fazem alguma diferen<¡:a sobre aquilo que os outros fazem e sobre aquilo que fazemos; noutras palavras, acreditamos que o mental deve ser levado em considerar;ao em nossas ac;:oes e que se relaciona causalmente com estas. Normalmente, sustenta-se que a atribuic;:ao de crenc;:as e desejos a outros é muito distinta da atribuic;:ao que fazemos a nós mcsmos, pois temos acesso privilegiado a nossos próprios pensamentos, cnquanto que, para o pensamento dos outros, só dispomos de suas próprias falas ou de outro comportamento observável. Nao se discute tais diferel)<¡:as aquí, embora deva-se mencionar que, para Davidson, nao bá diferenc;:a significativa entre a atribuic;:ao de crenc;:as e desejos que fazemos aos outros e a atribuic;:ao que fazemos a nós mesmos (Davidson 1998). Fato é que atribuímos pensamentos a nós e a outros e acreditamos que o pensamento tem eficácia causal cm nossas ac;:oes. Um dos problemas da filosofia da mente é o de explicar como é que isso acontece. 2 É conhecida a proposta de Davidson, chamada de monismo anómalo - há alguma interac;:ao causal entre eventos mentais e eventos fisicos, eventos relacionados causalmente instanciam uma leí estrita, mas
Sobre o couceito de Sllperw:miencia e m Davidsou
147
nao há leis ( cstritas) que relacione eventos físicos a eventos mentais; noutras palavras, embora haja intera~ao causal entre o mental e o físico, nao há lcis psicofísicas. A rigor, nao há eventos mcntais como "algo a mais" além do físico; há eventos fís icos (daí, monismo) que podcm ser descritos também num vocabulário intencional. É dessa fom1a que se compreendc a afirmayao seguinte: Nao há tais coisas como mentes, mas as pessoas tem propriedades mentais, o que quer dizer que determinados predicados psicológicos sao verdadeiros deJas. ( ...) Eventos mentais sao, cm minha visao, fisi cos (o que nao quer dizer, é claro, que nao sao mentais). (Davidson 1995, p. 231.) Na afirma<;:ao acima, há um aspecto que é central na ontología de eventos proposta por Davídson: eventos sao particulares inepctíveis, datados e nao se confundem com as descri<;:6es que deles fazemos . O que isto efetivamente significa ainda é urna questao controvcrsa. Um critério de identidadc entre eventos foi proposto por Davidson cm "T he Individuation of Events" ( 1969): dois eventos sao identicos se, e somentc se, tcm as mes-mas causas e os mesmos efeitos. Tal critério foi mostrado por Quinc ser circular (1985), pois causas e efeitos sao em sí mesmos eventos e, portanto, ao fazer de causas e efeitos constituintes do critério p ara a identidade de eventos, Davidson parece estar comprometido com um círculo vicioso; Davídson veio a concordar com a obje~ao de Quine, aceitando o critério espa<;:o-temporal para objetos como crítério de indívidua~iio. 3 Entretanto, cm um recente texto, G. L. H erstein pcrgunta: Afina! de contas, o que significa falar de "dois" eventos serem idcnticos? Mais uma vez estamos confrontados com a questao: que possível principio de individuac;ao de eventos poderíamos empregar aquí além de nossas descric;oes de eventos? Efetivamente nós nao dizemos que temos duas descric;oes evidentemente diferentes mas que realmente seleciona soment<i'um evento? De outro lado, Davidson insiste que a identidade é uma relac;ao de eventos ( ... ). Parece-me que a real idéia de
148
Giovwmi da Silva Queiroz
"identidade de eventos" é, se muito, uma fala muito vaga sobre nossas ferramentas reais e sobre nossos sistemas de individuar;iio de eventos, nao sobre os próprios eventos. Se "dois" eventos sao "identicos," entao nao sao dois eventos, mas apenas um. De outro lado, se dois eventos diferentes foram genuinamente individuados, entao eles sao dois eventos, nao um. (Herstein 2005, p. 56.)
Supondo que temos um critério adequado para a identidade de eventos, urna vez que eventos mentais sao identicos a eventos físicos, a diferenya entre ambos se dá através das descriyoes que fazemos. Dada uma sentens;a aberta "o evento x é F," se a expressao que substituí "F" contém, pelo menos, um verbo menta1ista - um verbo que ocona em situayoes de atribuiyao de atitudes proposicionais, estamos diante de uma sentens;a aberta mental; se a expressao que substituí "F" eontém, apenas, o vocabulário da física, estamos diante de uma sentenya aberta da fisica. Isto caracteriza o monismo (materialista) de Davidson. Mas, diferentemente do materialismo clássico, nao é possível reduzir descriyoes mentais (descrivoes do tipo "o evento que é M," com "M" sendo substituida por urna expressao que conta com, pelo menos, um verbo mentalista) a descriyoes fi sicas (nao reducionismo). O que Davidson afio-na é um tipo de reduvlio ontológica sem reduyao conceitual. O monismo anómalo é implicado pelas tres teses seguintes: eventos mentais estao causalmente relacionados a eventos fí sicos (princípio da interayao causal), dois eventos relacionados como causa e efeito instanciam uma lei estrita (principio nomológico da causalidade) e nao há leis psicofisicas estritas (princípio da anomalía do mental). Porque afirma que, pelo menos, alguns eventos mentais interagem causabnente com eventos fís icos e dado que nao há leis psicofisicas estritas, Davidson tcm que introduzir o conceito de superveniencia para apoiar a tese do relacionamcnto entre o mental e o fisico. Em "Mental Events," o conceito está assim form~ado: Tal superveniencia deve ser entendida como nao pode haver dois eventos ig uais no que diz respeito ao fisico, mas diferentes em algo que
Sobre o conceito de supen·enicncia em Dm•idson
149
diga respeito ao mental, ou que um objeto nao pode alterar no que diz respeito ao mental sem alterar no que diz respeito ao físico. (Davidson 1970, p. 214.)
Neutras palavras, dadas duas descri.yoes, urna mental, M, e outra física, F, a descris:ao M é superveniente, ou dependente, em relas:ao a F, se nao puder haver mudans:a em M sem que haja mudans;a em F. Por mudans:a em M (mudans:a em F) entenda-se modificas;ao de, pelo menos, um predicado, pois o que pode mudar, aqui, sao as descri.yoes, o modo como atribuimos algo a um objeto. Tal dependencia, ou superveniencia, nao implica, segundo Davidson, urna redu.yao mediante urna lei ou urna definis:ao. Jaegwon Kim captura, de modo feliz, as idéias subjacentes a esta formulas:ao: l. há uma co-varia<;oo entre propriedades físicas e propriedades mentais ("nao há modifícar;:ao no mental sem modifícar;:ao no físico"); 2. há urna dependéncia do mental para como físico; 3. há urna nao redutibilidade do mental ao físico (Kim 1995).
A caracterizas:ao 2, acima, afirma que a rela.yao de superveniencia
é urna relas:ao assimétrica: o mental depende do físico, mas o físico nao depende do mental. Davidson acrescenta (o que confirma a caracterizas:ao 3, acima) que se seu conceito de superveniencia implicassc em redu.yao, "estaríamos aptos a reduzir verdade num sistema formal a propriedades sintátieas e isto nós sabemos que nao pode, em geral, ser feíto" (Davidson 1970, p. 214). Voltaremos a esta afinna.yao !llais adiante. O conceito de superveniencia que interessa a Davidson foi tornado mais preciso posterionnente: "um predicado p é superveniente sobre um conjunto de predicados S se, para todo par de objetos tais que p é verdadeiro de um e nao do outro, há um predicado em S que é verdadeiro de um e nao do outro" (Davidson 1985a, p. 242). O interesse nesta prccisao era o de caracterizar o conceito de forma geral que garantisse urna redu.yao ontológica, mas de maneira fraca o bastante que nao implicasse redu.yao definicional ou redus:ao nomológica. Nova-
150
Giomnni da Si/1'(1 Queiro::
mente o exemplo é encontrado nas relavoes entre sintaxc e semantica f01mais: predicados scmiinticos nao sao definíveis com base em predicados sintáticos, embora supervenientes a estes. Uma definiyaO equivalente a definiyaO de 1985 é proposta em "Thi nking Causes," publicado cm 1993, inclusive para rebater as críticas a possível inconsistencia dos tres postulados que cngendram o monismo anómalo e para rebater as críticas de epifenomenalismo (as propricdades mentais sao ine1ics, isto é, em nada contribucm na realizas:ao de nossas as:oes). O conccito de superveniencia aprcscntado é o scguinte: Um predicado P é superveniente sobre um conjunto de predicados S se, e somente se, P nao distingue quaisquer entidades que nao possam ser distinguidas por S. (Davidson 1993, p. 4.)
O que tais definiv6es dizcm é que um predicado P é superveniente a um conjunto de predicados S se a indistinguibilidade dos objetos dos quais P é verdadeiro deriva da indistinguibilidadc dos objetos sob as dcscris:oes de S; ou ainda, se dois objetos x e y sao indiscerníveis quanto aos predicados em S, devem ser indistinguívcis sob P. Note que pode haver casos triviais: se o predicado P pertenccr ao conjunto de predicados S; P for definívcl cm termos dos predicados de S, se a cxtensao de P for resultado de uma definis:ao em tennos dos predicados de S; mas o que interessa a Davidson sao aqueles casos em que nao OCOITC uma reduyao, mediante uma definis:ao ou mesmo uma lei, de P a S. Observe bem que pode ocoiTer que dois objetos sejam distintos com rclas;ao ao conjunto de predicados S e indistintos em relas:ao a P , mas se houver mudans:a na cxtensao de P tem que haver, ao mesmo tcmpo, mudans;a na extensao de S. Kim dá uma fommlas:ao da superveniencia que apela a cssa modalizas:ao ("tem que haver"); considere dois conjuntos de propriedades A e B; pode-se formular o conceito de superveniénciafraca como segue: A é .fracamente superveniente sobre B se, e somente se, necessariamcntc, para quaisquer x e y, se x e y partilham todas as propriedades
Sobre u cunceiro de supen·eniéncia em Davidwn
151
em B , entao x e y partilham todas as propriedades em A - isto é, indiscemibilidade com respeito a B implica indiscernibilidade com relayao a A. (Kim 1984, p. 158.) Noutras palavras, se x e y sao indiscemíve is sob B (ou Bindiscemíveis), x e y sao A-indiscerníveis. Tomando o exemplo de Davidson em considera~ao , isso significa que se duas scntcn~as quaisqucr sao indiscerníve is sintaticamente, sao a mesma senten~a, e portanto, tem o mesmo valor de verdade. Kim , entretanto, nao acredita que esta formulayao fraca seja suficiente para a pretensao davidsoniana de explicar a intera~ao entre o mental e o fisico (ver, por exemplo, Kim 1984, p. 163). Com a fonnula~ao da superveniencia fraca de Kim, parece haver concordancia de Davidson (Davidson 1993, nota de rodapé 4) e Kim, ainda, formula os conceitos de superveniencia forte e global; discutir estas outras versoes é, entretanto, matéria de outro trabalho. Urna forma interessaote de ver como isto funciona encontra-se no próprio exemplo de Davidson: o predicado verdade, para urna dada linguagem, nao pode distinguir senten~as que nao sejam distinguidas em termos puramente sintáticos. O exemplo a que ele se refere se encontra em "Mental Evcnts" ( 1970). Ali, ele pede-nos que tomemos urna linguagem L, com recursos o bastante para expressar partes da matemática e sua própria sintaxe. Seja, agora, L' a linguagem Lacrescicla com o predicado "ser verdadeira em L." Nao é possível, em L, fonnu-lar um predicado que se aplique a todas as se nten~as verdadeiras de L, e somente a estas, se L for consistente.
11. Urna estrutura relacional
G. L. Herstein (2005) considerando que, embora passados mais de trinta anos da fonnulavao original, ainda nao existe ainda urna interpreta~ao canónica de "Mental Events," retoma esse texto, apresenta seus pressupostos e a cstrutura da argumenta~ao de Davidson. A partir
152
Giovmwi da Sifm Queiroz
do que chama de "premissas ontológicas," que dizem respeito ao conccito de eventos, a caracterizas:ao do mental, ao conceito de causalidade e de leis, o autor propoe urna estrutura relacional na qua! busca formular o argumento davidsoniano de que nao existem leis psicofisicas, concluindo que o anomalismo do mental é um argumento transcendental negativo: diz respeito a impossibilidade de formular leis do pensa-mento. Deve-se observar, entretanto, que nada é mencionado com respeito ao conceito de superveniencia. No que se segue, apresentamos esta estrutura relacional e buscamos fonnalizar a tese da superveniencia. Seja E um domínio de eventos no qua! há um sub-domínio distinguido, D, o sub-domínio das descris;oes - descric;oes sao tomadas como parte daqueles eventos que sao lingüísticos. Uma funs;ao F, que é parte da estrutura operacional D, relaciona eventos a descris:oes. Esta funs:ao deve ser pensada ao modo da funs:ao de satisfas;ao de Tarski. Assim, se <p; é uma descric;ao satisfatível (<p; E D), existe um evento e; (e; E E) tal que, por F, e; i= <p;. Suponhamos que detem1inados eventos podem ser completamente individuados; nos casos em que isso nao ocolTe, a funs:ao acima também funciona e, oeste caso, F relaciona classes de eventos a descriyoes. Consideremos, em seguida, duas relas:oes em E. A primeira relac;ao é a relac;ao de identidade entre eventos, 1 e E, tal que se (e¡, ej) E 1, entao e; = ej; uma outra rclas:ao é a relas:ao de causalidade entre eventos, e e E, tal que se o par ordenado <e;, ej> E e, enUío e¡ é a causa de ej. Para estas relac;oes supoe.m -se que os eventos e; e ej estejam completamente individuados. Deve ser compreendido que identidade e causalidade sao relac;oes ontológicas, para fidelidade ao pensamento de Davidson; isto significa que tais relas;oes nao sao relas;oes semanticas ou lógicas entre descris:oes. Uma lei científica, por sua vez, é parte da estrutura de D. A maior parte das descris;oes (<p; E D) scleciona classes de eventos; com tais classes pode-se construir um outro subconjunto de D, possivelmente muito complexo, de leis científicas (estritas); chamemos a este conjunto S. É possível construir pares de descric;oes tais que (<p;, <pj) E S se, e
Sobre v cvnceilv de supe11·enú!ncia em Dtwidsvn
153
somentc se, exístem eventos correspondentes que satisfas;am a relayao de causalídade (embora as descri9óes selecionem classcs de eventos, haverá eventos que podcm ser tomados como "representantes" daquela classe). No interior de S, é possível construir um outro subconjunto, SP e S, pensado como o sistema de leis da física. Além disso, temas os conjuntos DM, or e D, os subconjuntos do dominio das descris;oes que sao mentais e físicos, respectivamente, tomados como totalidades nao estruturadas. Como se sabe, Sr é tomado por Davidson como o sistema de generalizayoes homonómicas, generalizayoes que podem ser indefinidamente refinadas sem que tal refinamento implique em "mudanya de assunto." Uma relayao em sP deve ser efetivamente formalizável, talvez mesmo parcialmente e/ou relativa-mente computável. lsto é exigido para que se possa dizer que urna descriyao está no dominio de uma leí científica. Os argumentos que Herstein fornece para esta última afinnas:ao sao de ordem pragmática: Poderíamos, em essencia, afim1ar ter uma "lei da natureza" para a qua! nao há nenhuma maneira de determinar, em principio, se qualquer descriyao dada realmente conta como urna instancia da lei? ( ... ) Note, ainda, que nem mesmo estou sugerindo que as próprias descriQoes correspondam as expectativas de qualquer critério de computabilidade ou mesmo formalizayao - parcial, relativa, efetiva, ou qualquer outro. Apenas digo que deve haver a lgum critério parcialmente formalizável de detenninar quando uma descriyi'ío está abarcada por urna lei científica, qualquer que seja o próprio status da descriyao. Deve haver algum sentido rninimamente inteligível do que uma lei significa e quando se aplica. (Herstein 2005, p. 57.)
O subconjunto das descris:ocs mentais devem comportar, por fim, uma estrutura relacional R e DM que permita aos agentes racionais interpretar outros agentes racionais; esta estrutura relacional é profundamente hctcronómica (no sentido dado por Davidson em "Mental Events") e, por isso, nao é f01mali zável como rigor de S~'.
154
Giovmmi da Silva Qru!iro;;
De posse desta estrutura relacional, tomando-se " P" como algum pred icado, relayao, ou funryao que toma um argumento no domínio das descri96es mentais e tem como valor do argumento urna descriyao fisi ca, a afinnayao de Davidson do Princípio do Anomalismo do Mental adquire a seguinte fonna:
Em palavras, nao existe urna fun9ao (predicado, relaryao) que toma descri96es mentais e descriyoes físicas relacionadas de tal maneira que esta rela¡¡:ao seja instanciaryao de urna leí científica. Esta afirmayao está comprometida com a quantificayao em segunda ordem sobre todos os predicados, funyoes, rela¡¡:oes conhecidas ou ainda por serem estabelecidas. Isto leva Herstein a afirmar que estamos diante de um argumento transcendental negativo; diz respeito a nossa impossibilidade de determinar urna determinada relaryao - aquela que determinaría a existencia de leis psicofisicas ligando o mental ao fí sico. De posse da estrutura proposta por Herstein, é possível formalizar o conceito de superveniencia. Embora o conceito de superveniencia diga respeito a urna relayao entre predicados, e nao a uma relayao entre deseri¡¡:oes, sempre é possível transformar descriyoes em predicados, como Russell e Quine amplamente fi zeram (Quine, 1953). Por simplicidade - e para deixar mais clara algumas questoes - vamos manter a notayao sobre dcscriyoes; oeste caso, se W é a relayao de supervepiencia, sua formularyao pode ser, simplesmente, a seguinte:
A tese assim proposta é trivial : apenas afirma que toda descriryao mental tem urna descriyao física (possivelmente muitas) - o conceito de superveniencia exige um pouco mais. Entretanto, já nos diz algo intcressante: um evento mental é simplesmente um evento físico (portanto, com uma descriryao física) que exibe uma descriyao mental (além da descriryao física, obviamente). Voltando a analogía enh·e sinta-
Sobre o couceito de Sllper~·euiéucia em Davidsou
155
xe e semantica formais, para toda descri~ao semantica do tipo "a sentenc;a x que é verdadeira cm L," existe uma dcscri~ao sintática ("a scntenc;a x que é dcmonstrável em L," por exemplo) que satisfaz a relac;ao W. Mas esta maneira de colocar as coisas é ainda muito geral, pois estas descric;:oes selecionam classes de sentenc;:as. Para cumprir plenamente as exigencias de Davidson, devemos notar, inicialmente, que as descric;:oes podem selecionar classes e a tese da superveniencia, embora diga rcspeito a predicados, parece exigir a indistinguibilidade dos objetos envolvidos (o u eventos, na medida e m que sao particulares concretos). lsso é possível se trabalharmos com todos os predicados que se aplicam a determinado objeto (assim como é exigido pela Lei de Leibniz). Isso exige o acréscimo, em (B), da condic;ao seguinte (L}:
O que deixa a fórmula (B) bastante complicada, mas captura adequadamente, assim acreditamos, na estrutura proposta por Herstein, o que é exigido pela tese da superveniencia em Davidson. Embora a formulac;ao (B), com o acréscimo acima, parec;a contradizer (A), deve ser notado que nao se afirma que a relac;ao W pertens;a ao conjunto das leis (S), nem que as descric;oes mentais pertencem a estrutura relacional R, estrutura esta que nos permite interpretar agentes racionais. A relac;ao de superveniencia é tao somente urna relac;:ao que mostra urna intera~ao entre o mental e o fisico - que nao cai numa rede .nomo lógica. É urna questao saber se, assim fommlada,. a superveniencia dá conta da causalidade mental. A seguir, retomando as rclac;oes entre sintaxe e semantica, apresentamos uma formalizac;:ao que nos petmitirá discutir outras pat1icularidades do conceito de superveniencia.
156
Giol'fmni da Si/m Queíro:
111. Sob r e lógicas em gcral Nós chamaremos de cálculo (lógico) urna tripla C = < FOR, AX, REG >, na qua! FOR é o conjunto das expressoes bem fonnadas (cada elemento de FOR chamaremos simplesmcnte fórmula) , AX é um subconjunto de FOR, AX:;:. 0 e REG, REG :;:. 0, é um conjunto de relayoes sobre FOR, chamada de regras de inferencia. Nós assumimos que urna linguagem L para C foi fi xada, que ternos regras precisas para dizer quando urna seqüencia de símbolos da linguagem L é um elemento de FOR, que se tem um procedimento cfetivo para decidir quando um elemento de FOR pertence ao conjunto AX e quando é possívcl a aplicayao de alguma das regras de infe rencia de REG, examinando unicamente scqüencias de símbolos (isto é, examinando fórmulas, e lementos de FOR). Dado um cálculo, é possível definir quando urna fómm la B é uma conseqüencia de u m conjunto r de fórmulas (cm símbolos, r 1- B). Tal definis;ao também é puramente sintática; dizemos que r 1- B, se bá urna scqüencia finita a~, a 2, •• •, a., de fórmulas tal que cada a;, 1 ::;; i ::;; n, é elemento de FOR, ou de r , ou vcio por aplicas;ao de alguma das regras de inferencia e a., = B. Se nao acorre que r 1 - B, escrevemos r I-/ B. Nós usaremos Con para indicar o conjunto das conseqüencias de r, isto é, Con C n = { B : r l-eB }. Se r = 0, B é simplesmente chamada um teorema de C. Tarski apresenta a seguinte formulayao axiomática do operador de conseqücnc ia Con, válida para qualquer sistema dedutivo (Tarski, 1930):
en
Axioma 1.11 FOR 11::;; No. Axioma 2. Ser~ FOR entao r ~ Con (r) ~ FOR. Axioma 3. Se r ~ FOR cntao Con ( Con (r)) =Con (r). Axioma 4. Se r ~ FOR entao Con C n = 1: v t; re nv ns 1\ o Con (Y). Axioma 5. Existe urna scntens;a x E FOR tal que Con ( {x}) = FOR. Vamos rcapresentar os axiomas que caracterizam o operador de conseqüencia numa formulas;ao que nos será útil posterior-mente. Se-
Sobre o COIICeilo de supet·veniéucia em 001'1(/son
157
guindo Tarski , podemos axiomatizar a nor;:ao de conseqüencia da seguinte mancira: C) 1 ~Con en M) I. ~ r, cntao Con (I.) ~ Con (f ) I) Con e Con en ) ~ Con en
cumular;:ao monotonicidade idempotencia.
No que se segue, estamos nos baseando, principalmente em nos trabalhos de Newton C. A. da Costa e colaboradores, desenvolvidos a partir da década de 1970, quando se buscava urna semantica adcquada para os cálculos paraconsistentes (4 ). Definiry(i o l . Seja C = < FOR, AX, REG > um cálculo e v uma funr;:ao de FOR ao conjunto {0, 1}. Dizemos que v é urna atribui9éio associada a C se:
l. SeBE AX, entao veB) = l ; 2. Se todas as premissas de uma aplicar;:ao de urna regra de inferencia que pcrtence a REG assumem valor 1 sob v, cntao a conclusao correspondente também assumc valor 1; 3. Existe pelo menos urna fórmula A, tal que v(A) = O. Definiryiio 2. Seja agora V o conjunto das atribuir;:oes de um cálculo V e r um conjunto de fórmulas na linguagem L de C. Dizemos que V satisfaz r se, para toda fórmula B, B ~ r , veB) = l . As scguintes propriedades sao fáceis de provar:
e, V E
i) Se 1 l-eB, enHio para toda vE V, se v satisfaz 1, enUio v(B ) = l. ii) C é trivial, isto é, toda fórmula B é teorema de C, se, e somente se, V=0. Definiryiio 3. Seja agora I. u {A} um conjunto de formu las de um cálculo C. I. é chamado A - saturado se I. 1-1 A e, para toda B e: I., I. u {B } 1- A.
158
Giowumi da Si/m Queiro=
Pode-se demonstrar o seguinte: iii) Se L é A - saturado, enHio L 1- A se, e somente se, A E L. iv) Se I-/ A, entao existe um conjunto L, A -saturado, tal que
r
re
L. v) A funcyao característica de um conjunto A -saturado é urna atribuicyao. Defini~iío 4. Uma atribui9iio que é a func;ao característica de um conj unto A - saturado é chamada urna valora~ao . Defini~iío 5. Urna valorac;ao v, tal que v(B) = 1 para toda fónnula B que pertence a um conjunto r de fó1mulas é chamada de modelo de
r. Dejinir;iío 6. Urna teoria baseada em
e é qualquer conjunto T de
fórmu las, na linguagem L de e, tal que se T 1- B, enHío B E T. Quando T = { B 1 K 1- B} , K é chamado o conjunto de axiomas de T. U m modelo de Té qualqucr valorayiiO V de tal que v(B) = 1 para toda B E T. Os teorernas de T sao as fónnu las que pertencem a T. Definir;iío 7. Urna teoría T é dit a ser nao trivial se, e somente se, existe urna fórmula A, tal que T I-/ A. Defini~iío 8. Urna fónnula A (na linguagem de T) é válida num modelo de T se, e somente se, para toda v E V, se v satisfaz T, v(A) = l.
e
l. (Corre~ao de 1). Se T 1- A entao A é válida. 2. (Lema de Lindembaum). Seja T nao trivial e A E FOR tal que TI-/A . E nHio existe T* , nao trivial, A-saturada, tal que T !;; T*. Proposi~ao 3. (Existencia de Modelos). Seja Turna teoría nao triv ial; nestas condi9oes, T tem modelo. Propos i ~ao 4. (Completude de T). Se A é válida, enHio TI- A. Propos i~áo
Proposi~ao
Alguns comentários:
.
-
159
Sobre o conceilo de superveniencia em Davidwn
l. O método proposto é suficientemente geral para fazermos abstrac;:ao de vários elementos da sintaxe de quais os elementos da linguagem L, quais os operadores, quais os axiomas) e também fazermos abstrac;:i'ío do tipo de teorías - a única exigencia é que a teoría seja nao trivial (assim, estamos admitindo mesmo teorías que tenham fórmulas e suas negac;:oes como teoremas, ou ainda teorías nas quais existem sentenc;:as tais que nem ela, nem sua negac;:i'ío sao demonstráveis na teoría); como é óbvio, para teorías clássicas, o conceito apropriado, melhor que o de nao trivialidade, é o conceito de consistencia. 2. Para cada tipo de cálculo lógico em considerac;:ao (paraconsistentes, paracompletos, modais), novas exigencias devem ser acrescidas as teorías correspondentes; tais exigencias modificam o modo como devem ser estabelecidas as proposivoes 1 a 4, acima, embora o método pern1anec;:a o mesmo. Alguns exemplos: a) Para algumas teorías (paraconsistentes, intuicionistas) deve-se exigir que sejam primas : Se T 1- A § B, entao T 1- A ouT 1- B, mas nao ambos (§E {v, A}); b) Em cálculo de predicados (intuicionistas), as teorías devem ser existencialmente fechadas (Se T 1- :3xAx, deve existir e, urna constante especificada, tal T 1- Ac) Cada nova exigencia que a teoría deve satisfazer, modifica-se a extensao de T*, pois modifica-se o número dos objetos para os quais Cp(A) = l. Ou ainda, a modificac;:ao do modelo de T* tem que vir acompanhada da modificac;:ao das propriedades sintáticas de T*. Isso corrobora a afirmac;:ao dy Davidson de que
e(
o exemplo dá um possível significado a idéia de que verdades expressáveis por predicados subvenientes "determinam" a extensao do predicado superveniente, ou que a extensao do predicado superveniente "depende" da extensao de predicados subvenientes. (Davidson 1993, p. 5.)
3. O método apresentado nao é constmtível. Com efeito, para o estabelecimento do Lema de Lindembaum (Proposic;:ao 2), na demonstrac;:ao é necessário fazer uso de algo equivalente ao Axioma da Esco-
160
Giovmmi da Silva Queiroz
lha (ou do Lema de Zorn, o que é o mesmo). Isso nos leva para além da "parte segura" (Hilbert) da mate-mática. Tal uso implica no estabelecimento de provas nao obti-das pelos meios preconizados por Hilbert. 4. Nao foi utilizado o conceito de ser verdadeiro, mas o de ser válido num modelo (Definic;:ao 8); pela Proposic;:ao 3, ser válido é, simplesmente, pertencer a um conjunto T* nao trivial, A-saturado, com A como uma fórmula nao pertencente ao conjunto T*. 5. Sabemos que um dos argumentos para a irredutibilidade da semantiea a sintaxe deve-se ao fato de que, se pe1mitirmos que o predicado "ser verdadeiro" seja um predicado da linguagem em considera¡yao, é possível "derivar" mna versao da antinomia do mentiroso; daí a necessidade de diferenciar linguagem e metalinguagem (esta incluindo aqueJa como parte). Tarski explícitamente diz: A metalinguagem, que fornece meios suficientes para definir verdade, deve ser essencialmente mais rica que a linguagem-objeto; nao pode coincidir nem ser traduzível nesta última, pois que, de outra fom1a, ambas as linguagens seriam semantica-mente universais e a antinomia do mentiroso poderia ser reconstmída em ambas. (Tarski 1991.)
A questao retoma aquí: pode-se "derivar" uma versao da antinomia do mentiroso com o conceito de validade empregado? A resposta é sim. Suponhamos uma linguagem L tal que o predicado "ser válido" perten¡ya ao seu vocabulário. Tome-se T*, nao trivial e A-saturado; por defini¡yao A e T*; logo, A nao é válida; seja Basenten¡ya "A nao é válida" ; B deve ser válida; B E T* se, e somente se, A nao é válida, ou seja, B é válida se, e somente se, A nao é válida, isto é, "A nao é válida" é válida se, e semente se, A nao é válida. Esta sentenc;:a é do tipo" 's' é válida se, e somente ses," e daí sai uma versao da antinomia do mentiroso. 6. Se a Iinguagem L de C for suficientemente rica para expressar a aritmética elementar, uma versao do teorema de Godel pode ser derivável. Continua valendo a asserc;:ao "existem sentenc;:as verdadeiras,
1'
Sobre u cuncciru de supetvc11iéncia em Davitlvcm
161
mas nao demonstráveis"; o conceito de demonstra~ao (que é sintático) nao tcm a mcsma extcnsao do conceito de validade (que é semantico). Nao é possívcl, portante, em geral, reduzir as propriedades semanticas as propriedades sintáticas. Vejamos, agora, uma aplica~ao destas rela~oes entre semántica e sintaxe, para entao retornarmos ao conceito de superveniencia. Dejini9áo 9. Um grafo G é um obj eto da fonna G = (G0, G~, i, f) no qua l G 0 e G 1 sao conjuntos; i, fsao fun~oes tais que i, f: Gt ----7 G0 . Podemos interpretar G0 como um conjunto de vértices; G 1 como um conjunto de flechas orientadas; i e f indicam, respectivamente, o vértice inicial e o vértice final, em G0 . Exemplo 1: Sejam G0 = {1,2}, G1= {O,T)}.
Pela definiyao, G = ( { 1,2}, {0,11}, i, f). Como i indica o vértice final e f indica o vértice final, en tao i(O) = 1, f(T)) = 2, i(O) = f(Tl) = 2. Definifáo JO. Um sub-grafo X de G é urna quádrupla X = (Xo, X~. i, f) na qual X0 ~ 0 0 ; X 1 ~ G 1 e ta l que toda flecha em X 1 tem vértice inicial e final em X0 . Se X é sub-grafo de G, nós escrcvemos X S G. Definifáo 11. Considere, agora, a estrutura KG = < P(G), S,j>, na qual P(G) é um reticulado (o conjunto de todos os sub-grafos de G), ~ é a rela~ao j á definida e f é urna fun~ao tal que f FOR ~ P(G), com FOR o conjunto das fórmulas de urna linguagcm proposicional fixada. Para elementos g(A), g(B), g(C) de PG, isto é, sub-grafos de G, a estrutura KG satisfaz, ainda, as seguintes condi~oes: l . f{A) = g(A), se A é urna fórmul a atómica. 2. f{A 1\ B) = g(A) n g(B). 3. f{A V B) = g(A) V g(B).
162
Gioi'OIIIIi da Silva Queiro:
4. /{A :J B) = sup {g(C), tal que g(C) 1\ g(A) ~ g(B)}. 5. /(-,A) = menor sub-grafo g(B), de G, tal que g(B) u g(A) = G, ou seja, inf {g(B), tal que g(B) u g(A) = G}. Observac;:ao: Nós exigimos, confonne Definic;:ao 1O, num subgrafo, que toda flecha tenha vértices, inicial e final , bem definidos. Note ainda que se g(A) ~ g(B), entao v(A :J B) = G. Seja o exemplo l , dado anteriormente, e tomemos P(G), o a) conjunto de todos os subconjuntos do grafo G. Consideremos o subgrafo g 1 dado por ({1,2}, {8}, i, f) ; o menor sub-grafo g, de G, tal que g 1 u g = G é o sub-grafo g 2 dado por ( {2}, {11}, i, f); assim, g2 é chamado o complemento de g¡, denotado por c(g1) , ou a inda -,g 1; mas, observe-se que g 1 n g 2 é o sub-grafo dado por ( {2}, 0, i, f) :~; 0 ; note que esta possibilidadc nao está excluída de nossa Definic;:ao 1O, pois ali se exigiu que toda flecha em X 1 tivesse vértice inicial e vértice final em X 0 . Pontos isolados sao também sub-grafos. Portanto, existem estruturas KG tais que, dado um sub-grafo g, g n -,g :~; 0; assim, Duns Scotus, e seus correlatos, nao sao válidos. Tomemos, agora, os pontos isolados 1 e 2 , ou seja, o subb) grafo g 3 = ({l ,2} , 0 , i, f) ; se u complementaré o próprio sub-grafo G e o complementar de G, em P(G), é o sub-grafo vazio; assim, nao ocorre que g3 ~-, -, g3. Já foi mostrado que esta semantica é adequada para a lógica paraconsistente CCro, desenvolvida por Richard Sylvan, em 1990, sobre a lógica paraconsistente Cro de Newton C. A. da Costa (Q~eiroz e Luccna, 2001). Poderíamos definir um grafo como um conjunto com dois tipos de elementos estruturados, flechas e vértices, obtidos pelas relac;:oes internas dadas pelas func;:oes i e f. Tal proccdirnento simplificaría a notac;:ao e as re lac;:ocs entre o grafo G e scus sub-grafos. O exemplo l seria, enHio, escrito como o conjunto G = {1, 2, 8, 11 }. Teriamos, entao, o seguintc reticulado P(G).
•'
Sobre o conceilo de s uperi'CIIiéncia em Dm·itlwn
163
G
/~
{1~;2·~ {1,2}
{2,11}
{IV ~/ 0
Os sub-grafos referidos nas observa<;oes (a) e (b) acima, após a Defini<;ao ll, seriam, simplesmente, os conjuntos g 1 = {1, 2, o} , g2 = {2, 11 }, g3 = {2} e os conjuntos G e o vazio. O problema de se tomar sub-grafos como conjuntos desse tipo está em que, ao se estabelccer a opera<;ao de complcmcnta<;ao, da teoria dos conjuntos, é necessário fazer uma detenninada escolha, pois o complemento de g, c(g), cm geral, nao é um grafo. Por exemplo, o complemento de g~, nesta notar;:ao, é o conjunto {11}, que nao é um grafo, pois foi exigido que toda flecha tivesse vértice inicial e vértice final no conjunto dos vértices. Por isso, tomamos como complemento de g~. em nossa discussao após a observa<;ao (a), a quádrupla ( {2}, {11}, i, f) que é equivalente, nesta nova nota<;ao, ao conjunto {2, 11} este, é um grafo, conforme exige a defini<;ao. Mas era possível outro caminho para se pensar a operar;:ao de complementar;:ao. O caminho que tomamos foi o de "completar" o complemento para satisfazer a dcfini<;ao; se, ao invés disso, tivéssemos "descartado" o complementar "problemático," obteríamos outra nega<;ao que, entretanto, nao mais se o
164
Giol'onni da Silva Queiro;:
prcstava para lógicas para-consistentes. Apenas como exemplo, esta nova possibilidade nos obrígava a tomar como o conjunto complementar de g~, o conjunto vazío. Isso pode ser feíto foJmalmente, como a seguir. A condit;:ao 5 da Defini9ao 11 , na qua! foi dada a condi9ao da avalíayao da nega9ao, poderia ser modificada para a seguínte: 5.1 v(-. A)= maior sub-grafo g(B), de G, tal que g(B) g(A) = 0, ou seja, sup {g(B), tal que g(B) g(A) = 0} . Neste caso, entao, nao mais se teria urna semantíca para CCro, mas uma semantíca para o cálculo intuicíonísta de Heyting. Com efeito, note-se que, agora, valem os seguintes esquemas: A A -, A ::> B; pois, gl (= { 1, 2, 8}) n c(g 1) = 0 e, portanto, valem Duns Seotus e seus correlatos; por sua vez g 1 u c(g 1) ~ G, o que mostra que nao vale a leí do terceiro excluído. lsso mostra que a interpreta<;:ao de propriedades semantícas, no caso, apenas a interpreta9ao da ncga<;:ao, modifica, por completo, a lógica que está sendo tomada em considera9ao.
n
n
IV. C onclusoes
É o momento de voltarmos ao conceíto de superveniencia. As rela<;:oes entre sintaxe e semantica formais sao tomadas, por Davidson, como exemplo do que ele deseja afirmar com a superveniencia. Com efeíto, dada urna determin~da lógica (um sistema dedutivo qualquer) podemos estudá-la sintaticamente ou semanticamente. Se pensarmos as rela<;:oes entre estas abordagens (neste trabalho privilegiamos a abordagem semantica), podemos afirmar: l. Há urna co-varia<;:ao entre a abordagem sintática e a abordagem semantica; a modifica9ao sintática de determinado sistema formal implica modifica<;:ao na abordagem semantica; obviamente, pode-se dar a mesma abordagem semantica para sistemas formais distintos do ponto de vista sintático - basta pensar nas diversas foJmulayoes do cálculo proposicional clássico (que se revelam, após análise, equivalentes):
Sobre o conceito de SlljJeiTtmiéncia em Dtll'idson
165
2. Nao é possível reduzir determinados conceitos semanticos a conceitos sintáticos - e excmplo de Davidson, acerca do predicado "ser verdadeiro" é muito feliz. Outros exemplos podem ser lembrados - o de "ser definí ve!" (Tarski 1936). 3. Masé possível que uma varias:ao numa interpreta9ao modifique propriedades sintáticas. O exemplo que apresentamos é desse tipo. Dado um certo reticulado, induzido por urna deter-minada maneira de definir o que seja um objeto desse reticulado (no caso particular, induzido pela definis:ao de sub- grafo, Definit;:ao 1O, a o se interpretar o que seja um complemento de um objeto do reticulado, tem-se duas situas:oes: se o complemento é interpretado de forma " liberal', pennitindose que seja "completado o s ub-grafo" para que satisfas:a a exigencia da definis:ao, tem-se, do ponto de vista sintático, urna determinada lógica (no caso, a lógica paraconsistente CCro); se, ao invés disso, assumindo-se urna postura "mais exigente," descarta-se o sub-grafo "problemático," tem-se, por conscqüencia, do ponto de vista sintático, uma outra lógica, no caso, a lógica intuicionista formulada por Heyting. Assim, parece que nao se sustenta a dires:ao única da sintaxe para a semantica, ou seja, se pensannos nas relas;oes, cm geral, entre semantica e sintaxe como sendo a semantica superveniente sobre a sintaxe, parece que nao é correto afirmar que a semantica é dependentc da sintaxe. A bem da verdade, Davidson nao afinna isso: o que ele afinna é que o predicado verdade, que é scmantico, é superveniente a predicados sintáticos. O que mostramos é que, sob certas condis;oes, a semantica induz a sintaxe, e a sinta?Ce fica dependendo, assim, de interpretas;ocs (que sao semanticas). 5
Referencias bibliográficas Alves, E. H. 1976. Lógica e Jnconsisténcia: um estudo dos cálculos C,, 1s:h5m. Sao Paulo, Dissertas;ao de Mestrado, Univcrsidade de Sao Paulo.
166
Gio••a nni da Sit.•a Queiro;
Da Costa, N. C. A. e Alvcs, E. H. 1977. "A semantical analysis ofthe calculi Cn." Notre Dame Journal of Formal Logic 18: 621 -30. Davidson, D. 200 1 [ 1969]. "The lndividuation ofEvents." Essays on Actions and Events. 2. ed. Nova York: Oxford University Prcss: 163-80. - . 2001 [ 1970]. "Mental Events." Essays on Actions and Events. 2. ed. Ncw York: Oxford University Press: 207-27. - . 1985a. "Rcplies to essays X-XII. " In Vermazen, B. e Hintikka, M. B. (orgs.), Essays on Davidwn: Actions & Events. Nova York: Clarendon Press. - . 1985b. "Reply to Quinc on Events." In Lepare, E. e McLaughlin, B. (orgs.), Actions and Events: Perspectives on The Philosophy of Donald Davidson. Oxford: Basil BlackwelJ: 172-76. - . 1994 [ 1993]. "Thinking Causes." In Heil, J. e Me le, A. ( orgs.), Mental Causation. Oxford: Clarcndon Press: 3- 17. - . 1995. "Donald Davidson." In Guttenplan, S. (org.), A Componían to the Philosophy of Mind. Cambridge: Basil Blackwel: 231-35. - . 1998. "Knowing one's own mind." In Ludlow, P. e Martin, N. (orgs.), Externalism and Self-Knowledge. Stanford: CLSI Publications: 87-110. - . 2001 [ 1999]. "The Emergence ofThought." Subjective, lntersubjective, Objective. Nova York: Oxford University Prcss: 123-34. Hcrstein, G. L. 2005."Davidson on thc impossibility ofpsycbophysicallaws." Synthese 145: 45-63. Kim , J. 1984. "C~:mcepts of Supervenicnce." Phi/osophy and Phenomenological Research, 45 (2): 153- 76. - . 1995. "Supcrveniencc.'' In Guttemplan, S. (org.), A Componían to the Philosophy of Mind. Cambridge: Basil Blackwell: 575-83. Leclcrc, A.; Quciroz, G. S. e Wrigley, M. (eds.). 2002. Manuscrito XXV (Proceedings of thc Third Intcmational Colloquium in Philosophy ofMind, Joao Pessoa, March 2002). Loparic, A. e Da Costa, N. C. A. 1984. "Paraconsistcncy, paracompleteness and valuations," Logique et Analyse 106: 119- 31.
Sobre o conceilo de supen ·eniéncia em D(ll'idson
167
Lowe, E. J. 1989. "What is a critcrion of identity?" The Philosophical Quartely 39 (154): 1-21. Putnam, H. 1999. Th.e Threefold Cord. Nova York: Columbia Univcr-
sity Press. Queiroz, G. S. e Lucena, M. V. F. 2001. "Semantica de Grafos para CCoo." Princípios 8 (10): 62-74. Quine, W. V. O. 1980 ( 1953]. "On what there is." From a logical poin! ofview. 2. ed. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. - . 1985. "Events and Reification." In Lepore, E. e McLaughlin, B. (orgs.), Actions and Events: Perspectives on The Philosophy of Donald Davidson. Oxford: Basil Blackwell: 162- 71. Souza, E. G. 2001. "Lindenbaumologia I: A teoría geral." Cognitio 2:
213-19. Tarski; A. 1991. "Verdade e Demonstravao," Cadernos de História e Filosofia da Ciéncia, Campinas, Série 3, 1 (1): 91-123. - . 1956 [ 1930). "On sorne fundamental concepts of mctamatbematics." Logic, Semantics, Metamathematics. Oxford: Clarendon Press: 30-7.
Giovanni da Silva de Queiroz Profcssor do Departamento de Filosofia da UFPB Doutor em Lógica e Epistemología (Unicamp, 1998) Membro do GT-Filosofia da Mente da ANPOF
Notas 1
Ver Kim 1995, pp. 575- 83. Para urna discussao acerca da causa9ao mental ver o número especial da revista Manuscrito, vol XXV, 2002 (Proceedings of the Third Intemational Colloquium in Philosophy of Mind, Joao Pessoa, march 2002, André Leclerc, Giovanni Queiroz e Michael Wrig1ey, eds.). 3 Ver, entre outros, o texto de Donald Davidson, 1980, "The Lndividuation of Events," em seu Essays on Actions and Events, Oxford, p. 163- 80; a obje9ao 2
168
Giovanni da Silva Queiro;:
de W. V. O. Quine, 1985, "Events and Reification," em Actions and Events: Perspectives on The Philosophy of DonaId Davidson (Emest LePore & Brian McLaughlin, eds), pp. 162- 71, a réplica de Davidson nesse volume ("Reply to Quine on Events," 1985b, p. 172- 76), E. J. Lowe, 1989. "What is a criterion of identity?" The Philosophical Quartely (vol. 39, n. 154, especialmente p. 7), e Hi1ary Putnam ( 1999), The Threefold Cord. Nova York: Columbia University Press, p. 75. 4 Ver, entre outros, Alves, E.H. Lógica e Inconsistencia: um estudo dos cálculos C11, 1S:nS:(J). Sao Pau1o, Disserta~ao de Mestrado/USP, 1976. Costa, N.C.A da e E. H. Alves. "A semantical analysis of the calculi Cn,'' Notre Dame Journal of Formal Logic, 18(1977), p. 621-30. Loparic, A. e N. C. A. da Costa. "Paraconsistency, paracompleteness and va!uations," Logique el Analyse 106 (1984), p. 119-31. Souza, E. G. "Lindenbaumologia 1: A teoría geral," Cognitio 2 (2001), p. 213-19, que tem urna abordagem mais técnica do que expomos aqui e traz novas referéncias bibliográficas. 5 Agrade¡yo a André Leclerc por me fazer ver o que nao havia percebido; Tiago Penna e Makmiller Martins Pedroso fizeram sugestoes que tomaram o texto mais claro em rela¡yao ao que pretendía dizer.
Identidad y prueba geométrica Jorge Alberto Molina UN!SCIUERGS
l. Introducción: la matematización del conocimiento
En este trabajo nos referiremos al ideal de matematización del conocimiento, propio de la tradición racionalista de la Filosofía Moderna, a partir de los escritos de Leibniz. El tema es muy amplio. Matematizar un conocimiento significaba en el siglo XVII colocarlo en forma demostrativa, como una estructura donde a pattir de un conjunto finito de axiomas, postulados y defmiciones son deducidos los enunciados que son considerados verdaderos. Esto es, matematizar un conocimiento significaba presentarlo en forma axiomática. El modelo de sistema axiomática de la época era aquel dado por la exposición de la Geometría elemental en los Elementos de Euclides. En el caso de Leibniz la cuestión merece ser analizada en una forma muy cuidadosa. En la época de Leibniz una exposición del saber more geometrico podía significar dos cosas: O un~ exposición sintética como la que encontramos en los Elementos o una exposición analítica como la de la GeometrÍa de Descartes. En el análisis buscamos las condiciones que hacen posible la resolución de un problema o la demostración de un enunciado; en la síntesis obtenemos consecuencias de los enunciados reconocidos como verdaderos o de los problemas ya resueltos. Por otro lado, el modelo matemático de Leibniz no es el geométrico de los Elementos, mas el aritmético. Eso hace que Leibniz tenga una concepción de la demostración diferente de la mayoría de los Dutra. L. H. de A. e Mort;~ri. C. A. (orgs.). 2005. Episii!IIIUiogia: Anaís do 11' Simpósio /ntemacional. Principia - !'arte l. Florianópolis: NEUUFSC. pp. 169- 189.
170
Jorge Alberto Malina
científicos y filósofos del siglo XVII. Una demostración consiste para Leibniz en una cadena de enunciados de identidad que se genera de adelante para atrás, por medio de la sustitución de cada ténnino por su definición, y que concluye en enunciados del tipo A es A o AB es A . Leibniz no hacía explícitas las reglas de inferencia que permitirían pasar de un enunciado de identidad a otro, mas implícitamente hacía uso de la posibilidad de sustituir un término por su equivalente, y por otro lado usaba explícitamente la regla de reducción al absurdo. Como en la aritmética tenemos igualdades, y la relación de igualdad es simétrica (si a=b entonces b=a) parecía ser posible, para Leibniz, eliminar la distinción entre análisis y síntesis. En la Geometría no es posible en todos los casos transfonnar el análisis en síntesis debido a la asimetría de la relación de consecuencia lógica. De las premisas podemos inferir la conclusión, mas no parece ser siempre posible inferir de la conclusión Gunto con otras hipótesis consideradas como verdaderas) la totalidad de las premisas. Leibniz pensó que en aquella ciencia esa transfonnación sería posible, si previamente se efectuase la demostración de los axiomas de Euclides a partir de enunciados de identidad. Mas para conseguir ese resultado, juzgó que era necesario dar nuevas definiciones de las entidades geométricas básicas, como punto y línea, así como introducir una nueva notación simbólica que llamó característica geométrica. Propuso muchas versiones de la característica geométrica sin haber llegado a una concepción definitiva. En numerosos textos, Leibniz se refirió a la necesidad de sustituir las disputas por el cálculo, la argumentación por la demostración, la ars disputandi por la ars calculandi. A partir de la lectura de esos textos parece ser posible inferir que Leibniz deseaba la matematización de todos Jos saberes, y que su programa de construcción de una característica universal respondía a ese propósito. Aún en áreas como el Derecho y la Ética, Leibniz consideró posible realizar ese ideal 'matematizan te. En ese tipo de saberes que se refieren a lo que es objeto de deliberación o a lo que puede ser de un modo u otro, Leibniz pensó posible obtener un cierto grado de matematización por medio del uso de una lógica probabilística que pudjese determinar ex datis los grados
ldemidady prueba geométrica
171
de probabilidad de los enunciados que se refieren a dichas materias. Pensó que en el trabajo de los antiguos jurisconsultos romanos, había un esbozo de saber demostrativo. En esos raciocinios eran pesados los diferentes argumentos y pruebas presentados a favor de una determinada afirmación, y después de una evaluación, se concluía sosteniendo la afirmación cuyo grado de probabilidad era mayor. Leibniz dudó entre dos formas de concebir la probabilidad: por un lado adoptó una concepción epistémica donde la probabilidad mide el grado en que un enunciado se aproxima de la verdad, una medida del grado de verosimilitud de un enunciado, por así decir; por otro lado adoptó una concepción objetiva de la probabilidad originada a partir del estudio de los juegos de azar. En todo caso, lo que es importante señalar, es que en Leibniz encontramos el esfuerzo por extender la aplicación de las matemáticas a determinados dominios considerados tradicionalmente imposibles de ser abordados matemáticamente. De hecho Leibniz estaba abandonando una serie de distinciones entre distintos tipos de razonamiento que habían sido formuladas por Aristóteles. Por ejemplo, en la Ética a Nicómaco, I, 3 leemos la afirmación de que es irrazonable exigir en cuestiones de Ética el mismo grado precisión que tenemos en la Geometría. Leibniz afirmó también la posibilidad de matematizar la Física, empresa en la cual Descartes había fracasado. En numerosos escritos atacó la metodología de los filósofos experimentales ingleses que realizaban experiencias sin ningún orden, y eran incapaces de obtener conclusiones generales a par~ir de esas experiencias, limitándose a afirmar generalidades como que todo lo que sucede en la naturaleza "debe ser explicado por la magnitud, la figura y el movimiento." Para Leibniz, la Física debería tener un doble método: por una parte ordenar los experimentos e inventariar sus resultados, por otra parte demostrar (inferir) a partir de esas experiencias . Por demostrar a partir de las experiencias, Leibniz entendía el proceso de formular hipótesis que explicasen los datos experimentales y deducir consecuencias a partir de esas hipótesis. Si esas consecuencias concordasen con los fe nómenos observados, ese hecho sería una buena razón para afirmar
Jorge Alberto Mofina
174
NiioA
Absurdo A
En Leibniz esa regla de inferencia puede ser leída así A es no 8
Absurdo
A esB
Para Leibniz el sentido primigenio de la negación es la negación conceptual. Negar que A es B significa afinnar que A no es B. Leibniz consideró que la forma canónica de las proposiciones es la forma A es B (sujeto-predicado). Interpretaba la regla de reducción al absurdo de la siguiente fonna: de la imposibilidad que una proposición sea falsa, se sigue que ella es verdadera. Mientras que nosotros hoy interpretamos la regla de una fonna puramente sintáctica, en la interpretación de Leibniz están envueltos aspectos semánticos relacionadas con la verdad y las modalidades. Según Leibniz las proposiciones que los matemáticos llaman axiomas, pueden ser reducidas a enunciados de identidad descomponiendo por análisis su sujeto y su predicado En un trabajo del áño 1671-1672 afinnaba A mi entender no hay que aceptar ninguna proposición sin prueba y ninguna palabra sin explicación. (. ..) La explicación de una palabra es su definición. La explicación de la proposición es igual a su demostración. 4
Para Leibniz realizar una demostración de un axioma consiste en mostrar que ese axioma se deriva a partir de definiciones y de enun-
ldem idad y prueba geomélrica
175
ciados de identidad, una vez hallamos analizado los conceptos que aparecen en el axioma. Las reglas de inferencia usadas por Leibniz eran dos: sustitución de un ténnino por su definición y reducción al absurdo. Leibniz tenía in mente dos modelos de análisis conceptual. Uno es e l modelo numérico, por analogía con los números naturales. Así como un número natural se descompone en producto de factores primos, así pensaba Leibniz que un concepto puede descomponerse en conceptos más básicos.5 El otro modelo es el analítico, cuando descomponemos 7t/4= l-113+ 1/5- 117 ... . Hay una diferencia entre los dos modelos, en el modelo numérico obtenemos una lista fi nita, en el modelo analítico una secuencia infinita, dada, sin embargo por una ley. Leibniz era consciente de nuestras limitaciones para realizar el análisis conceptual Non videtur satis in potestate humana esse Análisis Conceptuum, ut scilicet possimus pervenire ad notiones primitivas, sed ad ea quae per se concipiuntur. Sed magis in potestate humana est analysis veritatum, mlultas enim veritates possimus absolute demonstrare et reducere ad veritates primitives indemostrabiles; itaque huic potissimum incumbamus.6
Leibniz distingue entre nociones y verdades. Es la distinción que hacemos hoy entre conceptos y enunciados respectivamente. La demostración de una verdad a partir de un conjunto de verdades primitivas, exige muchas veces que redefinamos sus términos. Ese análisis de los términos muchas veces no nos permite llegar a nociones primitivas, eso no impide sin embargo, que podamos realizar la demostración de esa verdad. Llevando a cabo un análisis más profundo de los conceptos podremos modificar y mejorar nuestras demostraciones. Una demostración de una verdad, nunca es algo definitivo, mas un obra perfectible, que puede ser mejorada. Pmeba de ello, lo encontramos en los sucesivos intentos de Leibniz de demostrar los axiomas de Euclides. Como ejemplo de ese proceder Leibniz dio varias demostraciones
176
Jorge Alberto Molina
del axioma de Euclides el todo es mayor que cualquiera de sus partes. Vale la pena presentar la demostración dada por Leibniz en el trabajo del año 1671-1672 citado aniba, porque señala el tipo de trabajo que Leibniz realizará postcrionnente Proposición: El todo CDE es mayor que la parte DE A._ _ _ _ _ _B
e
D
E
Leibniz define el concepto " mayor" de la forma siguiente. "Mayor" es aquello cuya pa1ie es igual a otro todo. Demostración: Aquello cuya parte es igual a otro todo, es mayor por definición de mayor. Una parte del todo CDE ( a saber DE) es igual al todo DE ( a saber a si mismo). Por lo tanto, CDE es mayor que DE. La demostración se apoya en la definición de mayor. Observamos que en la prueba el concepto de " todo" es instanciado ppr medio de un segmento. El deseo de probar Los axiomas de la Geometría nunca abandonó a Leibniz. En su trabajo Sobre el análisis y la síntesis universal Leibniz afirmaba A partir de estas ideas o definiciones,. pues, pueden demostrarse todas las verdades, excepto las proposiciones idénticas, las que por su naturaleza es patente que son indemostrables y a las que realmente se las puede llamar axiomas. Pero los axiomas ordinarios pueden ser reducidos a identidades, es decir, pueden ser demostrados por resolución del sujeto o del predicado, o de ambos, porque si se supusiera lo contrario surge que es lo mismo ser y a la vez no ser. 7
En los Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano IV, 7, p. 448, Leibniz se refiere a los Elementos de Geometría de Arnauld. Arnauld asumía como axioma que cuando a magnitudes iguales se le
ldemidady prueba geomélrica
177
suman magnitudes iguales, permanece la igualdad. Con base en ese supuesto demuestra el otro axioma de Euclides de que si a magnitudes iguales se le restan magnitudes iguales la igualdad pennanece. Arnauld recibió críticas por ese proceder. Se afirmaba que o debía asumir las dos proposiciones como axiomas o probarlas a las dos. Para Leibniz el sólo hecho de que Amauld hubiera conseguido reducir el número de axiomas era importante. El defecto más importante que Leibniz encontraba en. las demostraciones de Euclides e 'est, qu 'on suppose des a.·riomes qu 'on pourroit demonstrer. 8 Para someter a prueba la conjetura de que todas las demostraciones pueden ser realizadas a partir de definiciones y de enunciados de identidad Leibniz examinó las dos teorías deductivas más conocidas del siglo XVII: la geometría de Eucl ides y la Lógica de Aristóteles. En el caso de la silogística aristotélica, Leibniz intentó realizar la reducción de los silogismos válidos a silogismos de la primera figura usando solamente la regla de reducción al absurdo, dispensando el uso de la regla de conversión.9 Para la Geometría el camino abo~dado por Leibniz fue otro. Intentó sustituir las definiciones de las entidades básicas de los Elementos (punto, recta, plano) por definiciones de entidades que Leinbiz juzgaba más básicas como situación (situs), trayectoria (via), congruencia (congruentia) y distancia (distantia). Habiendo cambiado las definiciones, Leibniz esperaba poder demostrar los axiomas de Euclides. Para que esta empresa tuviera éxito, Leibniz pensaba que era necesario introducir una nueva notación simbólica: la característica geométrica. ~sa notación, constituiría un lenguaje formal apto para representar los conceptos y las demostraciones geométricas. Detrás de esta intento de Leibniz de dcmostar los axiomas de Euclides se encuentran dos influencias: la primera es la de Pascal. La segunda tiene que ver con toda un proyecto del siglo XVII de construcción de lenguajes artificiales. Me referiré en primer lugar a la influencia de Pascal. Pascal en su opúsculo L 'Esprit de la Géometrie propone un ideal de método
178
Jorge Alberto Molina
Je veux done faire entendre ce que c'est que demonstration par 1'exemple de celles de géométrie, que est presque la se u le des sciences humaines quien produisse d'infallibles, paree qu'elle seule observe la véritable méthode, au lieu que toutes les autres sont par une necessité naturelle dans quelque sort de confusión que Jes ·seuls géometres savent extremement reconnaitre. Cette véritable méthode, que formerait les démonstrations dans la plus haute excellence ... consisterait en deux coses principales: !'une, de n 'employer aucun terme dont on n'eut auparavant expliqué nettement le sens; l'autre, de n'avancer jamais aucune proposition qu' on ne démontrat par des vérités déja connues; c'est a dire, en un mot, a definir IOUS Jes termes et aprouver touteS les propositions. 10
Pascal reconoce que este ideal no es realizable Certainement cette méthode serait belle, mais elle est absolument imposible: car il est evident que les premiers termes qu'on voudrait définir, en supposeraient de precedents pour servir a Jeur explication, et que de meme que les premieres propositions qu'on voudrait prouver en supposeraient d 'autres qui les précédassent; et ainsi il est clair qu'on n'arriveraitjamais aux premieres. Aussi, en poussant les recherches de plus en plus, on arrive nécessairement a des mots primitives qu'on ne peut plus définir, et a des principes si clairs qu'on n 'entrouve plus qui le soient davantage pour servir a leur preuve. 11
Debido a nuestras limitaciones intelectuales, debemos, según Pascal aceptar ciertos términos como no defmidos y determinados axiomas sin prueba, para a partir de ellos poder demostrar las demás verdades.
2.2. La característica universal
El segundo aspecto al que me referiré es a la Característica geométrica. Tenemos que situar la Característica geométrica dentro del ambicioso programa de consttucción de una Característica universal. El
Identidad y pr11eba geométrica
179
siglo XVII asistió a varios intentos de construir lenguajes universales artificiales, uno de ellos fue el de Leibniz. Una cita de F. Bacon nos ayuda a entender en que consistía el programa de constmcción de lenguajes artificiales Es sabido desde hace un tiempo que en China e en las regiones del Extremo Oriente están en uso hoy caracteres reales, pero no nominales, esto es que no expresan letras y palabras, mas cosas y nociones . De ese modo, personas de las más diversas lenguas, que admiten este tipo de caracteres se comunican entre sí por escrito; y, de ese modo, un libro escrito en esos caracteres puede ser leído y traducido por cualquiera en su propia lengua . Las notae rerum, que significan las cosas sin la obra y la intermediación de las palabras, son de dos tipos: uno basado en la analogía, el otro en la convención. Del primer tipo son los jeroglíficos y los gestos, del segundo tipo son los caracteres reales de los que ya hablamos. 12
Los caracteres reales expresan cosas o nociones (conceptos) directamente, sin la intennediación de las palabras. Nuestra escrita alfabética, por el contrario, expresa sonidos con cuya combinación se fonnan las palabras, que expresan pensamientos y cosas. Leibniz define a los caracteres reales de la siguiente forma Characterem voco, notam visibilem cogitationes repraesentantem. 13
La escritura por medio de caracteres reales, puede ser comprendida por cualquiera que sepa que significa cada símbolo. Puede ser entendida por personas de lenguas diferentes, pero tiene el defecto de que exige un número muy grande de símbolos, dada la gran multiplicidad de cosas y de pensamientos. Bacon era consciente de esta limitación Es claro que este tipo de escritura exige una cantidad muy grande de caracteres, que deben ser tantos cuanto lo son los ténninos radicales. 14
Leibniz concibió una forma de retener las ventajas de la escrita por medio de caracteres reales, sin tener qtie cargar con sus desventajas.
180
Jorge A IberiO Molina
La ventaja, como vimos, era que cada símbolo de la característica universal expresa directamente una cosa, o un concepto. La desventaja estaría dada por el hecho de necesitar un símbolo para cada cosa o concepto. Pero, si nuestros conceptos pudieran descomponerse en conceptos básicos, y si esos conceptos básicos formasen una lista finita, entonces nuestro problema estaría resuelto. Sería necesario asociar a cada concepto básico un carácter, y por medio de la combinación de esos caracteres podríamos expresar todos nuestros pensamientos. Mihi vero rem altius agitanti, dudum manifeste apparuit. Omnes humanas cogitationes in paucas admodum resolví tanquam primitivas, quod si his characteres assignentur, posse inde formari characteres notionum derivativarum ex quibus, semper ornnia earum requisita notionesque primitivae ingredientes, et ut verbo dicam definitiones sive valores et proinde et affectionis ex definitionibus demonstrabiles, erui possunt Pero, por otra parte, hace tiempo me pareció manifiesto , considerando las cosas de un modo más profundo, que todos los pensamientos humanos se descomponen perfectamente en pocos pensamientos primitivos de modo que si a estos (pensamientos primitivos) son asociados caracteres, entonces puedan a partir de ahí, ser formados caracteres de las nociones derivadas, a partir de los cuales puedan ser extraídos siempre todos los componente necesarios de aquellas, y todas las nociones primitivas que están en ellas, y por así decir las definiciones o valores y las propiedades demostrables a partir de las definiciones. 15
Habiendo construido esta característica universal podremos obtener las propiedades demostrables de las cosas a partir de sus definiciones. Leibniz ya había concebido e n su juventud la idea de una alfabeto del pensamiento humano. Su inspiración provenía de la Ars Magna de Raimundo Lull y de Computatio sive Logica ( la primera parte del De Co1pore de Hobbes). El siguiente texto sugiere una fue1te influencia hobbesiana en Leibniz:
181
/delllidad y prueba geonuitrica
Quod sane admirabile beneticium hactenus solae praestant notae Arithmeticorum et Algebristarum, ubi ratiocinatio omnis in usu cha-
racterum consistit, et ídem est error animi qui calculi.
16
Omnis Ratiocinatio nostra nihil aliud est quam Characterum connexio et substitutio. Sive illi characteres sint verba, sive notae, sive denique imagines. 17
Debemos analizar con cuidado estos textos. Por un lado muestran lo que podríamos llamar el sintactismo de Leibniz. Pensar consiste en calcular, en sustituir un símbolo por otro, en percibir la conexión entre símbolos. Por otro lado muestran que Leibniz explícitamente quería terillinar con una distinción aristotélica que nosotros podríamos refonnular como la distinción entre demostración y argumentación. Según la tradición aristotélica, no podemos exigir en todos los dominios la misma precisión que en la geometría, así no podemos exigir en la Ética o en la Política el mismo grado de precisión que en la geometría Por el contrario Leibniz afirmaba: L'unique moyen de redresser nos raisonnements est de les rendre aussi sensibles que le sont ceux des mathematiciens, en sorte qu' on puisse trouver son erreur a veue d'oeil, et quand il y a des disputes entre les gens, on puisse dire seuelement: contons, sans autre ceremonie, pour voir lequela raison. Si les paroles estoient faits suivant un artífice queje voy posible, mais dont ceux qui ont fait des langues universelles ne se sont pas avisés on pourroit arriver a cet effect par les paroles memes ( ...) Mais en attendant il y a un autre chemin moins beau, mais qui est dejá ouvert ( ... ) C'est en se servant de caracteres a l'exemple des mathematiciens, qui sont propres de fixer nos tre Esprit, et en y ajoutant une preuve des nombres. 18
Encontramos sin embargo, una diferencia con Hobbes. Leibniz afirma en su Diálogo sobre la conexión entre las cosas y las palabras " advierto que si los caracteres pueden aplicarse al razonamiento debe
182
Jorge Alberto Molina
haber en ellos una construcción compleja de conexiones, un orden, que convenga con las cosas si no en las palabras individuales al menos en su conexión y flexión." En el mismo diálogo reconoce que" aunque los caracteres sean arbitrarios, su empleo y conexión tiene sin embargo algo que no es arbitrario, a saber cierta proporción entre los caracteres y las cosas y en las relaciones entre los diversos caracteres que expresan las mismas cosas. Y esta proposición es e l fundamento de la verdad." 19 Habría un isomorfismo. El orden entre los caracteres debe representar e l orden entre nuestros pensamientos, que por su vez representa un orden entre las cosas. Pero todo esto, quedó en un nivel bastante general, no llegando Leibni z a explicitar claramente la natura leza de ese isomorfismo.
3. Característica geométrica Que es esto de la característica geométrica? Es el intento hecho por Leibniz, de construir un lenguaje artificial o un sistema notacional que pudiese representar de una fom1a adecuada todas los entes, nociones y razonamientos geométricos. Pero que significa en este contexto " forma adecuada." La característica geométrica debería petmitir dos cosas: demostrar los axiomas de Euclides, reducir al máximo los elementos figurati vos en las demostraciones geométricas. Gcometras como Descartes no estaban contentos con el uso de figuras en l.as demostraciones geométricas. En primer lugar, el uso de . fi gura está ligado a la facultad de la imaginación. Facultad finita como lo expresa Descartes. " No puedo imaginarme un quiliógono ( podría decir no puedo dibujar un quiliógono) pero puedo calcular el número de sus lados." 20 Por otro lado, el uso de figuras en la geometría podría conducir o a limitaciones o a enores.¿Como se representaban figurati2 vamente los griegos una potencia de segundo grado, como a o una potencia de grado tres, como a 3? En un caso como el área de una cuadrado de lado a e en otro como el volumen de un cubo de lado a. Pero de esa fotma era imposible poder representarse figurati vamente poten-
183
Identidad y prueba geométrica
cias de grado mayor que 3. Además, la imaginación puede conducirnos a errores. Viendo el dibujo del sólido de Torricelli de lados de longitud infinita,21 podríamos creer erróneamente que ese cuerpo tiene un volumen infinito. Para evitar las limitaciones que se siguen del uso de figuras en la Geometría , Descartes introdujo el Álgebra. Descartes pensaba que su geometría algebraica, tendría un carácter más intelectual que la geometría de los griegos. Sin embargo, Leibniz formula una objeción central a Descartes. La representación de figuras por medio de ecuaciones algebraicas, presupone la verdad de los elementos de Euclides. Por ejemplo, cuando representamos un círculo de radio r por medio de la eucacion x 2 + l= estamos presuponiendo la verdad el teorema de Pitágoras.
r
On ne voit pas encore dans 1'Analyse Géometrique une discipline achevée. Meme si, en effet, la méthode de Viete et de Descartes premettait d'y faire presque tout par calcul, en faisant la supposition des Éléments, ce sont eux qui, pour la plupart n'y ont pas encore été réduits.22
Se trata para Leibniz de reducir Jos Elementos de Euclides, esto es , de demostrar sus axiomas. Leibniz considera que su característica geométrica, un cálculo cuyo concepto fundamental el el de situación situs permitiría ir más allá de Descartes: J'ai deja songé a pallier ce défaut em tachant de faire apparltre dans um clalcul tout ce qui concerne la figure et la situation, ce qui e~t nouveau: les Analystes se contenten! d'y faire entrer les grandeurs en supposant les situations connues a partir la figure, ils ne peuvent done se dispenser de tracer des lignes et des figures et de mettre a contribution l'imagination. 23
La geometría analítica cartesiana no puede prescindir de la imaginación. Por otro lado, las operaciones algebraicas en Descartes (suma, resta, multiplicación y radicación) encuentran su fundamento en construcciones geométricas, esto es, en figuras y líneas.
184
Jorge Alberto Molina
El proyecto de Leibniz exigía dos cosas: primero, introducir nuevos conceptos a partir de los cuales pudiesen ser caracterizados los conceptos de las entidades básicas que aparecen en la Geometría de Euclides ( punto, línea, línea recta, superficie, superficie plana, ángulo plano, ángulo rectilíneo). Segundo, introducir una notación simbólica, un nuevo sistema simbólico. Un método que consiste en expresar una figura no utilizando más que los caracteres, sin la ayuda de explicaciones verbales y sin adjuntar ninguna figura 24 (p. 47).
No hay una versión definitiva del proyecto de Leibniz, él realizó varios intentos. En .lugar de comenzar como Euclides con el concepto de punto, Leibniz prefiere comenzar con los conceptos de extensión ( extensum) , continuo (continuum),situación ( situs), espacio ( spatium). En un manuscrito que lleva por título De Primis Geometriae E!ementis (Sobre os primeros elementos da Geometría), Leibniz da las siguientes definiciones: 25 Extensum: continuum in quo possunt assignari partes quae sunt simul.
Una extensión es algo en lo cual pueden ser asignadas partes que son simultáneas. Conlinuum autem est in quo partes sunt indefinitae, sive in quo partes mente tantum designantur
Un continuo es algo en lo cual las partes son indefinidas, o en lo cual la mente puede distinguir partes. Esto nos pem1ite ver la naturaleza ideal (mental) del continuo. Est autem situs nihil aliud quam status ille rei quo fit ut simul cum extensis certo modo exsitere intelligatur, sive coexistendi modus.
La situación o posición nada más es que aquel estado de una cosa por el cual acontece que ella pueda ser representada de algún modo
Identidad y prueba geométrica
185
como existiendo simultáneamente con otras cosas extensas; o su modo de coexistencia. Spatium est in quo per se spectato nihil aliud considerari potest, quam quod extensum est
El espacio es aquello e n lo cual visto por si mismo ninguna otra cosa puede ser considerada que lo que es extenso Con base en estas definiciones Leibniz define punto de la siguiente manera: Punctum est in quo per se nihil aliud spectari potest, quam quod situs habet.
Esto es, el punto es aquello en lo cual ninguna otra cosa puede ser considera además de la situación. De esto se sigue la definición euclidiana de que un punto es aquello que no tiene partes. Punctum autem est indivis ibile alioqui in eo sepctari possint partes, ac proinde praeter situm extensio
El punto es indivisible, de otro modo en él podrían ser consideradas partes, y además de la situación, la extensión, contradiciendo la definición de punto. Dos puntos determinan una recta. ':Id autem quodo duobus punctis assumtis determinatur, est extensum simplicissimum quod p er ipsa transit, hoc autem vocamus rectam." Aquello que es determinado por dos puntos dados, es la extensión más simple que pasa por ellos, y que nos llamamos recta. Euclides por el contrario define recta como una línea que yace unifom1ementc con sus puntos sobre sí misma. En otro texto que lleva el título de Charracteristica Geometrica, 26 Leibniz define línea como la trayectoria de un punto Ligne, laquelle peut aussi éter representée par le mouvement du point
186
Jorge Alberto Molino
b parcourant une certaine trajectoire et dont on considere qu' elle laisse autant de traces qu 'il y a des points 3b6b9b differents ( ...) elle peut aussi éter désignée en abregé par: ligne yb en designan! par y ou par tout autre lettre un ensemble de nombres ordinaux arbitrairement 27 choisis.
En la notación leibniziana los puntos son simbolizados por letras mayúsculas.
Bibliografía
Descartes, R. 1973. Discurso do Método; Meditar;oes; Objer;oes e re~postas; As paixoes da alma; Cartas. Sao Paulo: Abril Cultural. Friedman, M. 1994. Kant and the exact sciences. Cambridge: Harvard University Press. Hintikka, J. 1976. Juegos de lenguaje e información: temas kantianos de la filosofía de la lógica. Madrid: Tecnos. Leibniz, G. W. 1980. Escritos filosóficos. Editados por E.de O laso. Buenos Aires: Charcas. - . L988. Opuscules et fragments inédits. Editados por Louis Couturat. Hildesheim: Georg Olms. - . 1995. La Caracteristique géométrique. Selección de textos de Leibniz por Javier Echcverría. París: Vrin. - . 2000. Die Grundlagen der logischen Kalküls. Traducción Fanz Schupp. Hamburg: Meiner. - . Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Traducción de Javier Echeverría. Madrid. Mancosu, P. 1996. Phi/osophy of Malhematics and Mathematical Practice in the Seventeenth Centwy. Oxford University Press. Pascal, B. 1986. L 'esprit de la géometrie. Paris: Bordas. Rossi, P. 1992. A ciéncia e a ji/osofia dos modernos: aspectos da revoluyao científica. Sao Paulo: UNESP.
ldemidady prueba geométrica
187
Jorge Albet1o Malina Doctor por la Universidade Estadual de Campinas, (UNICAMP) Profesor de la Univcridade de Santa Cruz do Sul (UNISC) Profesor de la Universidade do Estado de Rio Grande do Sul (UEROS), Brasil
Notas 1
Diálogo sobre la conexión ente las cosas y las palabras, Leibniz, 1980 p.173- 7. Descartes 1973, p. 45. 3 Es claro que podían ser inferidas las premisas de las que se seguía una conclusión. En ese tipo de inferencia consistía el método de análisis. Mas esa no es una inferencia deductiva. De ahí se seguía la imposibilidad de transformar el análisis en síntesis. 4 Demostración de las proposiciones primarias, Leibniz 1980, p. 85. 5 Sobre la síntesis y el análisis universal, es decir sobre el arte de descubrir y el arte de juzgar. Leibniz 1980, p. 194-202 6 No parece que el análisis de los conceptos esté suficientemente en el poder de los hombres, para que podamos llegar a las nociones primitivas, y no sólo a aquellas que son concebidas por sí. Pero está más en el poder de los hombres el análisis de las verdades, muchas verdades podemos absolutamente demostrar y reducir a verdades. primitivas indemostrables; por consiguiente nos ocuparemos principalmente de esto. (Traducción mía) Leibniz, 2000, p. 3. 7
Sobre la síntesis y el análisis universal. Leibniz 1980, p. 199. Se suponen axio~as que se podrían demostrar (traducción mía) Leibniz 1988, p.l80. 9 Nuevos Ensayos Libro 4, cap. VII. 10 Quiero dar a entender lo que es una demostración por médio del ejemplo de aquellas que aparecen en la geometría, que es casi la única de las ciencias humanas que produce demostraciones infalibles, puesto que ella es la única que observa el verdadero método, mientras que todas las otras están por una necesidad natural en algún tipo de confusión que solamente los geómetras pueden reconocer. Ese verdadero método, que daría a las demostraciones su excelencia más alta ( ... ) consistiría en dos cosas principales: una, no emplear ningún término cuyo sentido no se haya explicado antes con claridad: la otra, no aceptar nunca ninguna proposición que no se demuestre por medio de ver-
8
188
Jorge Alberto Malina
dades ya conocidas; es decir, en una palabra, definir todos los términos y ~robar todas las proposiciones. (Pascal 1986 p. 17). 1 Ciertamente este método sería bello, sin embargo, él es absolutamente imposible: puesto que es evidente que los primeros ténninos que se quiere definir, supondrían ténninos precedentes que sirviesen para explicarlos, y que , de la misma forma, las proposiciones primeras que se quiere probar supondrían otras que las precediesen; y así, de esa fom1a, es claro que no se llegaría nunca a las primeras. (Pascal 1986, p. 19). 12 Bacon apud Rossi 1992. 13 Llamo caracter a la marca visible que representa pensamientos (Traducción · mía) Leibniz, 2000, p.169. 14 Bacon, apud Rossi 1992. 15 Leibniz 2000, p.l8. 16 Hasta aquí, esa sana y admirable beneficio, solamente los han proporcionado las marcas de los aritméticos y los algebristas, donde todo razonamiento consiste en el uso de caracteres, y es lo mismo un error del espíritu que un error de cálculo. (la traducción me pertenece) Leibniz, 2000, p.l8. 17 Todo razonamiento no es outra cosa que la conexión y la sustitución de caracteres, sean estos caracteres, palabras, marcas o finalmente imágenes (la traducción me pertenece) GPYII, p. 31. 18 El único médio de corregir nuestros razonamientos es dejarlos tan sensibles como lo son los de los matemáticos, de modo que se pueda encontrar su error a simple vista, y cuando haya disputas entre las personas se pueda decir solamente: contemos, sin otra ceremonia, para ver quien tiene razón. Si las palabras estuvieran hechas según un artificio que yo veo posible, pero del cual no han tomado conciencia aquellos que han hecho lenguajes artificiales, se podría obtener ese efecto, por medio de las mismas palabras ( ... ). Pero aguardando esto, hay un camino menos bello, mas que está ya abierto ( ...) Consiste en servirse de caracteres, como los matemáticos, que son adecuados para fijar nuestro espíritu, y adjuntando a esto una prueba por medio de números. '(la traducción me pertenece) Projet d'un art d'inventer, Leibniz 1988 176-7. 9 Leibniz 1980, p.l73-7. 20 Descartes, Meditar;oes Metajisicas. 21 Mancosu 1996, p.l29- 39. 22 No se ve todavía en el Análisis Geométrico una disciplina acabada. Aún cuando el método de Viete y de Descartes pennita hacer casi todo por ese cálculo, suponiendo los Elementos, son estos los que la mayoría de las veces no han sido reducidos. Leibniz, 1995 p. 51. 23 Yo pensé en remediar ese defecto intentando hacer aparecer en el cálculo todo lo que concierne a la figura y la situación, lo que es nuevo: los Analistas se contentan en hacer aparecer las magnitudes, suponiendo las situaciones
B·
ldenlidad .1· prueba geo111élrica
189
conocidas a partir de la figura, ellos no pueden entonces prescindir del trazado de las figuras y de la imaginación. lbidem, p. 51. 24 Ibídem ,p. 47. 25 Leibniz, 1995, p276 et seq. 26 Leibniz 1994, p. 163. Ese texto también fue editado por Gerhardt (MS, Y, 141- 68). 7 La línea puede ser representada por el movimiento del punto b recorriendo una trayectoria determinada y de la cual, se considera que ella deja tantos vestigios como hay puntos 3b6b9b diferentes(...) ella puede también ser designada abreviadamente asi: línea yb o por cualquier otra letra un conjunto de números ordinales arbitrariamente elegidos.
r·
Habermas crítico de Davidson: hermeneutica vs. objetivismo Marco Antonio Sousa Alves Faculdades Promove e Mi/ton Campos
O objetivo desta apresentac;:ao é analisar a leitura que Jürgen Habermas fez do pensamento de Donald Davidson, bem como avaliar as críticas dirigidas ao filósofo americano. O percurso intelectual de Habermas é marcado pelo travamento de grandes e ricos debates com diferentes pensadores contempodineos (como Gadamer, Apel e Rorty). Contudo, difícilmente poderíamos colocar Davidson no grupo de seus grandes interlocutores. Mas, apesar de constituir um debate menor, ele nos mostra mna grande divergencia que espelha diferentes tradi9oes em filosofía da linguagem e que toca em um assunto bastante complexo, a saber, a relac;:ao entre lioguagem e mundo. Certamente, trata-se de um debate que nao teve tempo de ser travado e que se resume a alguns apontamentos de Habermas. Serao analisados, aquí, tres textos do pensador alemao: a) Teoria do Agir Comunicativo, vol. I ( 1981 ), sobretudo o interlúdio primeiro, dedicado a teoría analítica da a9ao e do significado; b) Verdade e Justificac;ao (1999), onde Habermas retoma a quesHio da significayao e da representas;ao; e) Agir comunicativo e razao destranscendentalizada (2001), texto em que o filósofo alemao dirige-se mais diretamente a Davidson. O presente texto tem tres objetivos principais: (1) apresentar a leitura que Jürgcn Habennas fez do pensamento de Donald Davidson, deDutra. L. H. de A. e Mortari. C. A. (orgs.). 2005. Epistemología: Anais do I V Simpósio /memacional. Principia- Pm·te l. Florianópolis: NELIUFSC. pp. 191-211.
Marco Antünio ele Sousa Alves
192
talhando as críticas que o filósofo alcmao dirigiu ao pensador americano; (11) exibir um quadro básico do pensamento habermasiano, mostrando sua base herrneneutica; e (III) avaliar críticamente a leitura e as críticas habennasianas. 1 De forrnac;:ao alema, Habennas inicia seu percurso intelectual no interior da Escola de Frankfurt, envolvendo-se em um longo e rico debate com a herrncneutica de Gadamer, saindo em defesa da teoría crítica. Também partindo de uma visao marcada pela hermeneutica, seu colega Karl-Otto Apel foi um dos primeiros a descobrir as convergencias entre as posic;:oes de Heidegger e Wittgenstein e a se reaproximar da tradic;:ao analítica (Apel 1973a: 265-445; 1973b: 33-11 0). Seguindo suas pegadas, o interesse de Habermas pela tradi.yao analítica surge quando se percebe um déficit no conceito herrneneutico de linguagem, a saber, a ausencia de uma teoría da significac;:ao (theory of meaning) mais elaborada. Como observa Habermas (1998: 74): a ausencia de mna análise convincente da fun9ao representativa da linguagem, e portanto das condi96es de referencia e verdade dos enunciados, permanece sendo o calcanhar de Aquiles de toda tradi9ao henneneutica.
Segundo Habennas (200 1: 7 6), um vasto campo se abrí u para a filosofía da linguagem a partir da crítica de Frege ao psicologismo (ao aiTemessar o pensamento para além dos limites das toiTentes de vivencias dos sujeitos pensantes e mostra-r sua estmtura proposicional invariável que permite que expressoes lingüísticas possam manter o mesmo significado para diversas pessoas em situac;:oes diversas). Porém, em linha geral, Habem1as acredita que a tradic;:ao analítica centrou-se cm demasía exatamente naquilo que faltava a hcrmeneutica, ou seja, na análise da funs;ao cognitiva da linguagem e das condic;:oes de referencia e verdade dos enunciados. ' Eles se limitaram a um modelo
1
Habermas crítico de Davidso11
J
193
atomista da ayao, que descuida dos mecanismos de coordenayao (mediante os quais se estabelecem relayües interpessoais) e concebe as arroes sob um pressuposto ontológico de um mundo de estados de coisas existentes (Habermas 1981: 3 52). A semantica fonnal desenvolví da por Frege isola a funyao comunicativa da linguagem da análise lógica, estudando apenas a funr;ao cognitiva (ou designativa, expositiva, representacional) da linguagem. 2 As demais funyoes (expressiva e comunicativa) sao consideradas aspectos pragmáticos do uso da linguagem, que devem ser analisados empíricamente. Assim, ao contrário do que ocorre com a sintaxe e a semantica, a pragmática nao era determinada por um sistema geral de regras, daí a necessidade que o pensador alemao sentiu de ampliar o enfoque da semantica fonnal e desenvolver urna pragmática universal (Habennas 1981: 380).3 Recentemente, Habetmas (2001 :76) dividiu as correntes pósfregeanas da teoría da significayao na tradi9ao analítica em dois grupos: enguanto uma vía pretendeu reconstruir a nonnatividade da prática do entendimento mútuo ( um grupo de inspirayao wittgensteiniana, que conta eom Dummett e Brandom e se caracteriza por ressaltar o aspecto intersubjetiva), outro grupo se dcdicou ao estudo da normatividade característica da linguagem sob premissas empíricas, com referencia aos sujeitos capazes de linguagem e ayao em relayao ao mundo (aqui estao Russell, Carnap, Quine e também Davidson). Também chamado por Habermas ( 1999b: 164; 2001: 91) de "ramo empirista da tradiyao fregeana", esse segundo grupo teria dado maior importancia a quesUio da referencia e ~ relayao linguagem/mundo, acentuando exageradamente a fun¡yao cognitiva da linguagem em detrimento das demais. Para Habermas, Davidson, como membro desse grupo, desenvolveu uma análise empírica da linguagcm, assimilando o ato de compreensao de um interlocutor a intcrpreta¡yao teórica de um observador, o que nao concede o devido valor ao universo social de sentido corporificado na linguagem e intersubjetivamente partilhado.4 O filósofo alemao parte de uma distin9ao entre o ponto de vista do pa1ticipante (da racionalidade performativa) e o ponto de vista do observador (da
194
Marco A/1/ónio ele Sousa Al ves
racionalidade observacional). Os participantes, ou seja, aqueles que desempenham papéis dialogais, enguanto falantes e ouvintes de urna comunica<;ao, assumem uma perspectiva de primeira pessoa, enguanto os observadores, que assumem urna postura objetiva, de intérprete neutro, que nao está diretamente envolvido na situa<;ao, estao associados a perspectiva de terceira pessoa. Essa arquitetónica é acompanhada de um dualismo metodológico entre compreender (hermeneuticotranscendental, como estudo do sentido a partir de dentro, que corresponde ao ponto de vista do participante que adotou urna atitude perfOlmativa) e observar (empírico, que olha de fora e corresponde ao ponto de vista daquele que observa do exterior os objetos no mundo). Ao ponto de vista do participante está associada a hermenéutica, e ao ponto de vista do observador está associado o objetivismo. Assim, segundo Habennas (2001: 76-7), a decisao metodológica de Davidson pendeu para urna perspectiva objetivista de natureza empírica, na qual o intérprete observa a conduta de alguém e procura um esclarecimento nomológico para o comportamento estranho. A racionalidade nao emerge, no esquema davidsoniano, da intera<;ao (ou da suposi<;ao de racionalidade considerada performativamente pelos participantes), mas ela é introduzida como um principio metodológico, o chamado "principio de caridade," que impoe ao intérprete a obrigayao de supor que os falantes observados se relacionam, em regra, racionalmente. Como res salta Habermas (200 1: 79), esse principio metodológico imputa racionalidade ao falante estrangeiro a partir de urna perspectiva observacional. Contudo, a imposi<;ao de racionalidade nao é apenas um pressuposto da interpreta<;ao radical, mas também um pressuposto transcendental para a comunica<;ao entre membros de urna mesma comunidade de linguagem, pois, do contrário, sem essa suposi<;ao de racionalidade recíproca, nao encontraríamos urna base para o entendimento (Habermas 2001: 80). Para Habermas (200 1: 83), o entendimento lingüístico e os padroes de racionalidade pressupostos por Davidson nao caíram do céu e necessitam de mais esclarecimentos.
Habermas crítico de Davidson
195
Na visao do filósofo alcmao, a interpretas:ao radical, calcada no princípio de caridade, nao basta para tornar comprecnsívcl como o próprio intérprete aprendeu a falar, o que também nao é resolvido na suposis;ao de uma situas:ao de aprendizagem triangular, na qua! dois organismos igualmente reagem ao mundo e entre si.5 Para Habe1mas, a triangulas;ao davidsoniana é demasiadamente objetivista, pois a avalias;ao de que se tratam de reas:oes semelhantes diante do mesmo nao é verificada pelos próprios participantes, mas por um observador nao participante. Deveria caber aos próprios participantes observar internamente essa semelhans:a de reas;ao referente ao mesmo impulso ou objeto (como diz Wittgenstein, poder seguir uma regra6 ). Segundo Habermas (1998: 83): Desde o inicio, Davidson assimila o ato de compreensao de um interlocutor a interpretayao teórica de um observador e chega, por fim, a urna concepyao nominalista da linguagem, que concede primazia aos ideoletos de falantes individuais sobre o universo social do sentido corporificado na linguagem e intersubjetivamente partilhado.
Na visao habermasiana, apenas uma reas;ao, urna resposta do faJante, pode confirmar ou rever conceps;oes nas quais ambas as partes devem poder confiar no decorrer de sua interas;ao. Nao estaría claro, em Davidson, como se sabe se intérprete e interpretado reagem aos mesmos objetos, pois ambos devem, diantc do outro, descobrir se tem em mente os mesmos objetos, ou seja, devem se entender sobre isso. Assim, eles só podem estabelecer urna comunicas;ao se se dirigirem um ao outro como parceiros, sendo obrigatório que se comuniquem entre si sobre o que exatamente despertou a reas;ao (Habennas 2001 : 85). Segundo Habem1as (200 1: 87), nao é suficiente a mera constatas;ao, por um observador nao participante, de que as reas;oes sao semelhantes. Os diferentes sujeitos devem poder assegurar intersubjetivamente as semelhans:as objetivas, ou seja, os próprios pmticipantes devem perceber urna semelhans;a da reas;ao referente ao mcsmo objeto. O intérprete eleve, portanto, ultrapassar o que está disponível a u m observador ex temo, pois, do contrário (como acontece com a tese da triangulas:ao ), ele enfrenta o problema da
196
Marco Autúuio de Sousa Alves
triangulayao), ele enfrenta o problema da identificayao dos estímulos comuns. Davidson, apesar de sublinhar o aspecto social da linguagem, concebe essa sociabilidade a partir da perspectiva de um observador (equipado só com disposis;oes de comportamento semelhantes) e nao de um partidário que se encontra com outros em um modo de vida partilhado e que tem ao menos uma consciencia intuitiva dessa concordancia (Habermas 2001: 88-9).
II Em posi<;:ao contrária ao objetivismo, Habennas situa a hermeneutica filosófica, sustentada por Gadamer e partilhada, nesse ponto, por ele. As comunicas:oes repousam no contexto de suposis:ocs de fundo compartilhadas, em uma hannonia de opinioes e intenyoes relevantes para a as:ao, sendo talhadas no reconhecimento intersubjetiva (Habermas 1999b: 172-3). Habennas joga Gadamer contra Davidson em um ponto: a suposicyao de racionalidade efetuada performativamente pelo intérprete de Gadamer (que supoe, da perspectiva de um parceiro de conversas:ao, que este se cxpressa racionalmente, segundo os padroes de racionalidade comuns) é diferente da imputacyao da racionalidade objetivante que o intérprete de Davidson imputa ao estrangeiro, a partir da perspectiva de um observador (que se orienta segundo as suas próprias normas de racionalidade) (Habermas 2001: 91). Segundo Habermas ( 1998: 79): ( ...) no lugar da perspectiva do observador, da qual os objetos sao percebidos, entra a do intérprete, que toma compreensível para si o sentido dos proferimenlos e contextos de vida de outras pcssoas.
O importante papel desempenhado pela nor;ao de mundo da vida (Lebenswelt) no pensamento habermasiano mostra claramente sua herans:a hcrmeneutica. O mundo da vida é definido como o horizonte contextua! dos processos de entendimento que pem1anece inacessível a tematizas:ao. Ele se at1icula em um saber implícito, de fundo, intuiti-
Habermas crítico de Davicl.fOJI
197
vamente adquirido e holisticamente estruturado, que goza de primazia sobre o saber explícito, fruto de urna argumentayao (Habermas 1981: 178-9, 430- 1; 1999a: 19). As certezas do mundo da vida nao sao "sabidas," urna vez que nao podem ser criticadas ou fundamentadas, sendo sempre pressupostas como um saber de fundo. Se, por um lado, a noyao de mundo da vida parece cumprir um importante papel (explicando a possibilidade do entendimento), por outro, e1a é muito perigosa, pois parece levar ao contextualismo das diferentes aberturas do mundo. A cada forma de vida parece corresponder " um mundo objetivo intransponível a partir de dentro do próprio horizonte" (Habermas 1999a: 25, 27). Em outras palavras, as regras transcendentais se tomam a expressao de formas de vida culturais, situadas no tempo e no espa¡yo, que, com seus valores, interesses e formas de a¡yao, definem os modos correspondentes de experiencia possível. Habermas tenta se safar, porém, das conseqüencias contextualistas e relativistas que a noyao de mundo da vida parece introduzir, criticando constantemente a concepyao heideggeriana da linguagem7• Para Habermas ( 1996b: 240), o contextualismo estrito seria u m análogo, no paradigma da linguagem, daquilo que o ceticismo foi no paradigma da consciencia. Enquanto o ceticismo nasce da dúvida sobre a realidade do mundo exterior (urna vez que a noyao de subjetividade e o caráter privado da certeza introduziam um dualismo entre interno e externo), o contextualismo nasce do fato de toda explicayao, no paradigma lingüístico, ter origem no uso interpretativo de uma linguagem pública de urna dada comunidade, o que parece permití~ urna variayao espacial e temporal deste uso e deste horizonte comum. A leitura contextualista consiste em ressaltar essa variayao e, afirmando a impossibilidade de ultrapassar nosso horizonte lingüístico, ela relativiza a verdade. Segundo Habennas ( 1999a: 28): do pluralismo dos jogos d e linguagem niio resulta necessariamente uma multiplicidade de universos lingüísticos incomensuráveis, herméticos uns em re la9ii0 aos outros. ·
198
Marco Antonio de Sousa Al ves
Nao há, portanto, nenhum fundamento para a tese da incomensurabilidade. Em sentido contrário a ela, sustenta Habennas (2001 : 47) que os participantes da comunica~ao podem se entender por cima dos limites dos mundos da vida divergentes, porque eles, com a visao de um mundo objetivo comum, se orientam pela exigencia da verdade, isto é, da validade incondicional de suas afinna~oes. Seja adotando uma teoria discursiva (que assimila a verdade a assertabilidade ideal), seja abandonando essa definiyao epistemica e fazendo justis:a a intuis:ao realista, o filósofo alemao nunca admite a contextualizas:ao da verdade.8 De acm·do com o filósofo alemao, seria absurdo duvidar da acessibilidade do mundo, pois, enquanto agentes, imersos em uma práxis cotidiana, nao podemos deixar de aceitar um pano de fundo inquestionável de convics:oes intersubjetivamente partilhadas e praticamente comprovadas. Segundo Habennas ( 1996a: 129), o saber lingüístico que nos abre um acesso ao mundo é testado continuamente, devendo resistir a prova na práxis bem-sucedida. Recentemente, Habermas (1998: 93-4) vem acentuando a resistencia do mundo, sustentando que deceps:oes no trato com o mundo objetivo suposto como idéntico e independente manifestam um fracasso performativo difícilmente contestável, colocando em colapso práticas habituais e ativando uma revisao de suposis:oes e expectativas que podem tocar o próprio saber lingüístico. Apesar de dar mais espas:o a intuis:ao realista, o filósofo alemao nao abandonará aquilo que ele acredita ser o grande ganho da virada lingüística: a noc;ao de que a linguagem é o mediwn intransponível de nossa relac;ao com o mundo. Estando vedada a possibilidade de qualquer acesso direito a uma realidade nao-interpretada, Habermas vai buscar nao no pólo objetivo (o mundo) a garantía do mesmo, mas no pólo intersubjctivo, ou seja, na pragmática formal da conversas:ao, que realc;a os aspectos universalistas do processo de entendimento mútuo. Reconhecendo as conseqüencias relativistas e contextualistas da visao
199
Habermas crítico de Davidson
hermeneutica e procurando defender a possibilidade de um universalismo no nível pragmático-comunicativo, Habem1as, seguindo a proposta apeliana de um " Kant pragmaticamente transformado," crgue-se contra o contextualismo dos jogos de linguagem de Wittgenstein,9 contra o idealismo da abertura lingüística do mundo de Heidegger e contra também a reabilita¡yao do preconceito de Gadamer. 10 Contudo, mesmo recha¡yando a postura contextualista, ele nao abandona sua heran¡ya henne neutica e a concep¡yao da linguagem de Humboldt. Assim, o enfrentamento que Habermas tem com a hermeneutica é apenas pontual, pois ele nao abandona o projeto como um todo. Como entusiasta da virada linguística, o filósofo alemao ve na hermeneutica uma aliada, pois também ela critica a conccp¡yao objetivista ingenua de um contato direto com o mundo, defendendo que nossa relayao com a realidade é sempre lingüísticamente mediada.
111 Apcsar do esfor9o de Apel e Habermas ero reaproxirnar a versao analítica e a hermeneutica da virada linguística, ressaltando a semelhanc;a entre Heidegger e Wittgenstein e sustentando a tese de que as duas versoes seriam mais complementares que conconentes, a crítica de Habermas a Davidson mostra que a diferen9a talvez seja rnais profunda. Em um interessante traball1o que procura mostrar a diferen9a entre a versao analítica e hermene utica da virada linguística, Cristina Lafont ( 1993) ressalta que a hipo~ta s ia9ao da linguagem realizada por Heidegger, bern como suas conseqüencias contextualistas e relativistas, é resultado da cornbina9íio de urna teoría balista da significayao com urna teoria da referencia que dá preeminencia ao significado sobre a referencia. Na hermeneutica, o significado (que é intersubjetiva, ou seja, cornpatiilhado pelos falantes), funcionaria como urna cspécie de mecanismo que petmite falarmos das mesmas coisas. Nessa imagcm, é a identidade do significado que garante a identidade da referencia (Lafont 1993: 16). Usando o vocabulário da hetmeneutica, diríamos que o
200
Marcu Alllónio de Sousa Alves
" modo de ser dado o designado" é visto como condi~ao de possibilidade de accsso ao referente, ou scja, o referente é mediado pe lo sentido a partir do qua! ele é compreendido. Ainda que as duas vcrsoes da virada linguistica ressaltcm o papel constitutivo que a linguagem tem em nossa rela<;:ao com o mundo, na tradi<;:ao henneneutica essc papel é entendido como urna abertura ao mundo (We/tersch!ie/}ung) atTavés da constitui<;:ao de sentido, que antecede e garante a idcntidade da referencia. Assim, o saber do significado proporciona o marco da referencia e os falantcs que compat1ilham essa abertura do mundo lingüística podcm referir-se a um mundo igualmente unitário. Como conseqüencia, a linguagem se toma a instancia detenninante de toda experiencia intramundana possível, o que traz consigo urna problemática destranscendental izac;:ao, ou semitranscendentalizac;:ao, uma vez que as linguagens historicamente dadas aparecem no plural e executam de modo diferente sua func;:ao constitutiva, havendo tantos mundos quanto sao as linguagens. A pluralidade de aberturas lingüísticas ao mundo coloca um sério problema quanto a unidade do mundo sobre o qua! os falantes se comunicam (o falar sobre o mesmo). Segundo Lafont (1993: 17), a pesar das tentativas de Humboldt e Habe rmas, a pretensao de defender uma perspectiva universalista apoiando-sc na versao henneneutica do paradigma da linguagcm é ilosória. A idéia heideggeriana de abertura do mundo só pode garantir a intersubjctividade da comunicac;:ao dentro dos limites de uma detenninada abertura lingüística, o que provocaría um contextualismo similar ao solipsismo exjstente no paradigma da consciencia. A incomensurabilidadc das aberturas lingüísticas do mundo relativiza tanto a referencia como a verdade, impossibilitando qualquer perspectiva universalista ( cf. Lafont 1993: 228). Se no nívcl pragmático (no uso comunicativo da linguagem) tentou-sc preservar a universalidade, no nível semantico, associado a fun<;:ao cognitiva da linguagem, aceitou-se, cm Humboldt, o pat1icularismo da abertura lingüística ao mundo. Ainda que Habermas critique o contextualismo da tradi<;:ao hermcncutica, sua tcoria cm nada altera isso e apenas apela para a possibilidade de um universalismo na análi-
Habermas critico de Davidsun
20 1
se pragmática da fun~ao comunicativa da linguagem. Demonstrando sua clara herant¡:a henncneutica, o dominio cognitivo (que trata da referencia ao mundo) co ntinua entregue ao particularismo de uma fonna de vida 11• A pesar de procurar reabilitar recentemente a intui~ao realista, dando maior importancia ao pólo objetivo e a neccssidade de referirmos ao mesmo mundo (se queremos evitar as inaceitáveis conseqüencias relativistas e contextualistas), Habermas carrega ainda consigo o peso da tradis;ao henneneutica e só consegue preservar o realismo como uma intui9ao presente cm nosso mundo da vida que está assentada em nossa práxis. Como deixa claro Habennas ( 1996a: 127): Na medida em que os sujeitos que agem comunicativamente se entendero a rcspeito de algo no mundo objetivo, eles se movem sempre no horizonte de seu mundo da vida. Por mais alto que subam, o horizonte recua, de modo que nunca podem trazer integralmente para diante de si o mundo da vida e abarcá-lo com um só olhar, como se se tratasse do mundo objetivo. (. .. ) Desse modo, o mundo da vida, que se articula, ele mesmo, no medium da linguagem, abre para seus mcmbros um horizonte de interpretac;ao para tudo o que eles podem experienciar no mundo, tudo aquilo a propósito do que se podem entender e com o que podem aprender.
Como ressalta Lafont ( 1993: 247), a idéia de um mundo da vida constitutivo dos processos de entendimento concede muito a hermeneutica, e, dcpois, Habermas nao consegue frear suas conseqüencias. A busca de um· alcance universal da razao, motivo da elaboras;ao de toda sua teoría da a~ao comunicativa e de sua crítica a bermeneutica, parece naufragar devido a um rant;:o he1meneutico (de uma certa concep~ao de linguagem) que ele nao consegue abandonar. Em suma, observamos que a aceitas;ao da versao henneneutica da virada lingüística levanta a questao da comensurabilidade das diferentes visoes lingüísticas de mundo. Essa questao foi assim fonnulad a pelo próprio Habermas ( 1998: 68):
202
t'vfarcu Antóniu de Sousa ;llves
Mas corno é entao possível que membros de diferentes comunidades lingüísticas, a despeito da diferen9a de suas perspectivas lingüísticas a cada vez coletivamente partilhadas, olhem para o mesmo mundo, que, em todo caso, !hes aparece objetivamente?
Podemos ainda acrescentar: será que o universalismo é possível, se aceitamos a versao henneneutica da virada lingüística? Lafont ( 1993: 229) acredita que o único corretivo para evitar as conseqücncias contextualistas e relativistas da versao henneneutica da virada lingüística, centrada na abertura do mundo, está no redescobrimento da importancia da funt;ao cognitiva ou designativa da linguagem.1 2 Nesse ponto, voltamos ao chamada " ramo empirista da tradit;ao analítica" e, mais precisamente, em Davidson. O filósofo americano mostra que a indetenninat;ao da tradut;ao nao pode ser total, de fom1a a pennitir que existam linguagens intraduzíveis, que estariam fundadas em bases ontológicas ou num pano de fundo (background) totalmente diferente do nosso. Essa postura típica do re lativismo foi duramente criticada por Davidson. 13 Davidson analisa as condis;oes de possibilidade para que qualquer interpretas;ao linguistica seja possível, aproximando-se do projeto da pragmática fonnal de Habermas. Contrariando a leitura habermasiana, acredito que Davidson está descrevendo a lógica de como funciona qualquer interpretas;ao possível, nao os passos do aprendizado linguístieo (a visao de um observador externo). O pensamento de Davidson assume o mesmo percurso de uma reconst:rus;ao transcendental, que procura entender as condis;oes de nossa competencia linguistica. Habermas insiste em atribuir a Davidson uma postura insensata que ve tudo de fora , mas o que de fato Davidson faz é antes uma fonna de reconstrus:ao racional (assim como a que ele mesmo propós). A diferens:a é que a reconstrut;ao de Davidson privilegia o uso cognitivo da linguagem, mostrando como seria impossível urna linguagem insensível ao mundo (no sentido mais objetivo possível). O que parece incomodar Habermas é o fato de Davidson mantera intuir;ao realista de forma radical, o que poderia contrariar a virada
Habermas crítico de Davidson
203
lingüística e a idéia de que a linguagem constituiría o mundo. Mas, apesar de mantero realismo, o filósofo americano nao é insensível ao caráter intersubjetiva da linguagem. Ele apenas quer mostrar que um aspecto (intersubjetiva) nao pode ser separado com sentido do outro (objetivo), sob pena da linguagem se tornar impenetrável, impossível de ser aprendida. A visao da linguagem de Davidson parece fugir definitivamente da primazia do significado sobre o referente, pois o conteúdo linguistica nao é determinado por um significado intersubjetivamente estabelecido, mas tanto conteúdo quanto significado nascem juntos num processo ao mesmo tempo intersubjetiva e objetivo. Habermas insiste em acreditar que suas intui~oes hermeneuticas devem ser mantidas, que todo entendimento depende de um pano de fundo linguístico intersubjetivamente compartilhado, de um mundo da vida. Mas, sem uma perspectiva sensível ao uso cognitivo da linguagem e ao aspecto essencialmente objetivo da mesma, ficaremos sempre presos a urna imagem de linguagem contextualizada e as suas conseqüéncias relativistas. O que falta a Habermas é urna teoría que explique nao como o discurso levanta pretensoes racionais universais, mas como podemos esperar que tais pretensoes possam ser preenchidas. Se cada mundo da vida for incomensurável, nao adianta discutirmas. Estaremos cada um preso em seu sistema de referencia. Aliás, nada garante que possamos até mesmo nos entender. Se nao podemos garantir o entendimento, a possibilidade da comunicas;ao desaparece, e, com ela, a possibilidade do discurso e de qualquer apelo universalista. Concluindo, acredito que Habermas exagerou o aspecto objetivista de Davidson, talvez para poder criticá-lo mais facilmente a partir da henneneutica de Gadamer. Pois, ainda que confira importancia ao pólo objetivo, Davidson nao negligencia a natureza eminentemente social da linguagem e o aspecto intersubjetiva na triangulas;ao 14 • Apesar da parcialidade da leitura habennasiana e da injusti~a de sua crítica, pretendo concluir mostrando que há uma diferen~a importante entre aqueles que procuram dar lugar ao mundo (ao pólo objetivo) e aqueJes que negam seu espa~o e centram-se apenas no dominio social
.
)
204
,'v/arco Amónio de Sousa Alves
e intersubjetiva. A grande diferenya entre Habermas e Davidson está no fato de o filósofo americano dar maior destaque ao pólo objetivo, sustentando que o que toma possível que tenhamos conceitos como os de objeto externo e eventos no mundo é o fato de estarmos causalmen15 te relacionados com tais objetos e evcntos.
Referencias bibliográficas Apel, K. -0. 2000 [ 1973a]. Transformar;iío da filosofia 1: filosofia analítica, semiótica, hermenéutica. Traduyao de Pauto Astor Soethe. Sao Paulo: Loyola. [la publicayao: Transformation der Philosophie. Band 1: Sprachanalytik, Semiotik, Hem1eneutik. Frankfu1i am Main: Suhrkamp, 1973]. - . 2000 [1973b]. Transformar;iío dafilosofia /l: O a priori da comunidade de comunicas;ao. Traduyao de Paulo Astor Soethe. Sao Paulo: Loyola, 2000. [ 1a publicas;ao: Transfor-mation der Philosophie. Band II: Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973]. Davidson, D. 1984 [1974]. "On the very idea ofa conceptual scheme." lnquiries into truth and interpretation. Oxford: Oxford University Press, 1984: pp. 183-98. [1 a publica<;:ao: Proceedings and Addresses ofthe American Philosophical Association 47, 1974]. - . 2004 [1995]. The problem of objectivity. In: Problems of Rationa/ity. Oxford: Oxford University Press: pp. 3-18. [la publica<;:ao: Tijdschrift voor Filosofie, Leuven, June 1995, pp. 203-20]. Gadamer, H.-G. 1999 [1960). Verdade e Método: trar;osfundamentais de uma hermenéutica filosófica. Tradu<;:ao de Flávio Paulo Meuer. 3a ed. Petrópolis: Vozes. [1 a publica<;:ao: Wahrheit und Methode: Gmndzüge einer philosophischen Hetmeneutik. Tübingen, 1960.] - . 1977 [ 1967]. "On the scope and function of be1meneutical reflection." Traduyao de G. B. Hess e R.E. Palmer./n David E. Linge ( org.), Philosophical hermeneutics. Berkeley: University of Cali-
Habermas critico de Davidson
205
fornia Press 18--43, t 977. [ 13 publica~ao: Rhetoric, Hermeneutik und Ideologiekritik. In: Kleine Schriften I. Tübingcn: J.C.B. Mohr, pp. 113- 30, 1967]. Habermas, J. 1987 [ 1981 J. Teoría de la acción comunicativa l : Racionalidad de la acción y racionalizació11 social. Traduyao de Manuel Jiménez Redondo. Madrid: Taurus. [ l" publicayao: Theorie des kommunikativen Handels. Band I. Frankfurt: Suhrkamp]. -. 2004 [ 1996a]. "Racionalidade do entendimento mútuo: exp1ana96es sobre o conccito de racionalidade comunicativa segundo a teoría dos atos de fa la. In: Verdade e Justiflcar;ao: ensaios filosóficos. Sao Paulo: Loyola, 2004, pp. 99- 132. [ 1" publica9ao: "Sprechakttheoretischc Erlauterungen zum Begriff der kommunikativen Rationalitat." Zeitschrift für philosophische Forschung 50, 1996: 65- 9 l; rcimpresso cm Wahrheit und Rechtfertigung: Philosophische Aufsatze. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1999.] - . 2004 [ 1996b]. "Verdade e Justifica9ao: a virada pragmática de Richard Rorty." Verdade e Justiflcar;iío: ensaios filosóficos. Sao Paulo: Loyola: 227-65. [1" publicayao: Rorty's pragmatische Wende. Deutsche Zeitschriftfiir Philosophie, 44, 1996, pp. 71541; reimpresso em Wahrheit und Rechtfe rtigung: Philosophischc Aufsatze. Frankfurt am Main: Suhrkamp Ver lag, 1999 .] - . 2004 [ 1998]. Filosofia hermeneutica e filosofia analítica: duas versoes complementares da virada lingüística. Verdade e Justiflcar;ao: cnsaios filosóficos. Sao Paulo: Loyola, pp. 63-98. [ 1• publica9ao: Hermeneutische versus analytische Pbilosophie, Zwci Spielarten der linguistischen Wende. Karl Jaspers Lecture, Oldenburg University, 3 de junho de 1998; reimpresso cm Wahrheit und Rechtfe rtigung: Philosophische Aufsatze. Frankfurt am Main: Suhrkamp Vcrlag, 1999.] - . 2004 [1999a]."Introduyao: realismo após a virada da pragmática linguística." Verdade e Justiflcar;iío: ensaios fi losóficos. Sao Paulo: Loyola, 2004: 7-60. [ 1• publicayao: Realismus nacb dcr sprachspragmatischcn Wende. In: Wahrheit und Rech((ertigung:
206
Marco António de Sousa Al ves
Philosophische Aufsatzc. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1999a, pp.7-64.] - . 2004 [ l999b]. De Kant a Hegel: a pragmática lingüística de Robcrt Brandom. In: Verdade e Jus tificar;cio: ensaios filosóficos. Sao Pauto: Loyola: 135-1 82. ( 13 pub licayao: Von Kant zu Hegel: Zu Robert Brandoms Sprachpragma tik. In: Wahrheit und Rechtfertigung: Philosophischc Aufsatze. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1999b, pp.l38-85.] - . 2002 [200 1]. Agir comunicativo e raziio destranscendentalizada. Traduyao de Lúcia Aragao. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002. [ 13 publicayao: Kommunikatives Handeln und detranszendentalisierte Vemunft. Frankfurt: Suhrkamp, 200 l]. Lafont, C. 1993 . La razón como lenguaje: una revisión del 'giro lingüístico' en la filosofia del lenguaje a lemana. Madrid: Visor. Vattimo, G. 1987 [1985]. O fim da modernidade: niilismo e hermencutica na cultura pós-moderna. Lisboa: Presenya, 1987. [ 13 publicayao: La fine del/a modernita: Nihilismo ed ermencutica nella cultura postmoderna. Milano: Garzanti, 1985]. Verheggen, C. 1997. Davidson's Sccond Person. Phi/osophical Quarterly 47: 361-9.
Marco Antonio Sousa Alves Mestre em Filosofia pe la UFMG Professor das Faculdades Promove e 'tvt:ilton Campos marcofilosofia@yahoo.com. br
Notas 1
Segundo a teoria de Humboldt, esposada por Habermas, a língua é um medium intransponível que nao pode ser considerada apenas um mcio de representa~ao de objetos ou fatos. A linguagem possuiria tres func;:oes: a cognitiva ou designativa (que representa fatos, apresenta estados de coisas), a expressiva (que exprime sentimentos e vivencias) e a comunicativa (que comunica
Habermas crítico de Dm·idsou
207
algo e estabelece rela<;:oes com os ouvintes, criticando ou concordando). Essas fun<;:oes da linguagem levam as pretensoes levantadas em cada ato comunicativo: a prctensiio a verdadc daquilo que é dilo, a sinceridacle daquele que faJa e a corre<;:iio do ato mesmo que se executa. 2 A semantica de enunciados, servindo-se dos meios da lógica, teria se entregado a um modo empírico de observa<;:iio, ressaltando a rela<;:iio entre proposit;:iio e fato. No Tractatus, por exemplo, Wittgenstein ratifica a virada lingüística de Frege ao atribuir a linguagem um caráter formador de mundo, ressaltando também a dimensiio da representat;:iio (ou figura<;:iio do mundo). Com a sintaxe lógica de Carnap e as bases da semantica referencial, abre-se o caminho para a análise forma l da funr;:iio cognitiva da linguagem. Segundo Habermas ( 1981 :353-354), mesmo a teoría semantica veritativa (que associa o significado de urna oras;iio as suas condi<;:oes de verdade), fundada por Frege e desenvolvida por Wittgenstein até Davidson, dá importancia apenas a relas;iio entre orat;:iio e estado de coisas (entre linguagem e mundo), analisando todas as ora<;:oes segundo o paddio das oras;oes assertóricas. 3 A pragmática formal parte da questao de que significa entender uma orat;:iio empregada comunicativamente (uma emissiio) e responde dizendo que entendemos um ato de fala quando sabemos o que o faz aceitável, tomando a aceitabilidade nao em sentido objetivista {desde a perspectiva de um observador), mas a partir da a.yiio perfonnativa de um participante na comunica.yiio (Habennas 198 1: 381-2). A teoría dos speech acts desenvolvida por Austin e Searle foi o primeiro passo em relar;:iio a urna pragmática formal, mas, na opiniiio de Habermas, ela pennaneceu atrelada aos estreitos pressupostos ontológicos da semiintica veritativa. 4 Para Davidson, uma vez que nao temos como observar diretamente as atitudes proposicionais (crent;:as, desejos, etc.) do interpretado, elevemos nos guiar pela observa.yiio comportamental (incluindo aí proferimentos verbais). Através dessa observa<;:iio vai-se, aos poucos, tendo acesso ao que significa e pensa o falante. Como tempo e le aprende a individualizar os eventos 'e objetos da massa comum do mundo assim como as senten<;:as e palavras, interpretando proferimentos e relacionando comportamentos com o mundo. 5 Em Davidson, o conhecimento do mundo e da linguagem nasce no mesmo caldeiriio interpretativo, sendo a linguagem a mais objetiva possível. A idéia de triangular;:iio é essencial em Davidson para explicar como, desde o inicio, tudo se apresenta interligado na linguagem, e as tres esferas (intersubjetivo, objetivo e subjetivo) dependem mutuamente uma da outra. Sem essa rca<;:ao compartilhada a estímulos comuns, o pensamento e a fala nao teriam qualquer conteúdo. Atribuir significado aos proferimentos e cren.yas pressupoem um mundo compartilhado e rea.yoes racionais e interpretáveis nesse ambiente.
208
Marco Antonio de Sousa Ah•es
Sem um nao temos o outro. Nao há pensamento proposicional sem comuniintersubjetiva ou sem rcla~ii.o como mundo. Subjetivo, intersubjetiva e objetivo sao mutuamente dependentes. 6 Comportamentos guiados por regras tem um caráter social. Ninguém pode seguir uma regra solipsisticamente, apenas para si, sendo exigível a participa~ao em urna prática familiar, na qual os sujeitos já se encontram. Há, assim, um reconhecimento intersubjetiva implícito das regras seguidas (Habermas 2001: 94). 7 Heidegger investiga a estrutura prévia do compreender, ou seja, a articula~ao lingiiística da compreensiio prévia d o mundo a luz dos projetos, expectativas e antecipa~oes cotidianas, em cujo horizonte alguma coisa come~a a se tornar compreensível para nós como alguma coisa. Ele subordina o "como predicativo"ao "como henneneutico", de modo que só podemos atribuir ou negar determinadas propriedades a determinados objetos depois que eles se tornam acessíveis nas coordenadas categoriais de um mundo aberto pela linguagem, ou seja, depois que sao dados como objetos já interpretados. A pertinencia de um predicado a um obj eto é um fenómeno derivado que depende da "possibilita~ao de verdade", no sentido de uma prévia abertura ao mundo. Assim, a henneneutica filosófica desconhece o direito autónomo da fun~ao cognitiva da linguagem e o sentido próprio da estmtura proposicional do enunciado, estando os falantes "presos na casa de sua língua" (Habem1as 1998: 79-82). 8 Até a década de 80, Habermas distinguía ajustijica9iio da verdade tomando como critério a diferen~a entre wn enunciado meramente justificado de acordo com critérios inerentes a uma dada comunidade de comunica~ao, e um enunciado verdadeiro, que poderia justificar-se em todos os contextos e pressupunha urna idealiza~ao das condi~oes de justifica~ao. Atualmente, ele submeteu essa concep~ao a uma revisao: " retrospectivamente, vejo que o conccito d iscursivo de verdade se deve a uma gcneraliza.¡:ao excessiva do caso especial da valldade de normas e juízos morais. (... ) Mas, se queremos fazer justis;a a intuis:oes realistas, o conceito de verdade enunciativa nao pode ser assimilado a esse sentido de aceitabilidade racional sob condis:oes aproximativamente ideais" (Habermas 1999a: 15). Para o Habermas atual (1999a: 24), "a objetividade do mundo e a intersubjetividade do entendimento mútuo remetem uma a outra". A conexao interna entre verdade e justificas:ao permanece, mas ela deixa de ser uma questao epistemológica e passa a se assentar em uma práxis, em uma exigencia funcional de nossos processos de entendimento mútuo, que nao podem funcionar sem que os envolvidos se refiram a um único mundo objetivo (Habermas 1996b: 243, 245; 1999a: 42). Na transi~ao do agir para o discurso, o ter-por-verdadeiro ingenuo se liberta do ca~iio
1/abermas crilico de Davidsun
209
modo da certeza de a~ao e toma a forma de um enunciado hipotético. Assim, o discurso depende de uma orienta~ao pela verdade cujas raízes alcanc;am o realismo do cotidiano, que fomece o ponto de referencia que fon;:a os interlocutores a suposic;ao de condic;:oes ideais (Habermas 1996b: 249-50, 257- 8). Tem-se, assim, uma situac;ao paradoxal , na qual a meta de toda justificac;ao é encontrar uma verdade que ultrapasse todas as justificac;oes, presente apenas no contexto da ac;ao (Habermas 1999a: 49-50). 9 O Wittgenstein tardío pode ser lido como um contextualista (e assim foi lido por Kripke, Rorty, Apel e Haberm~ dentre outros), uma vez que o nosso conhecimento está limitado pela natureza contingente de nossas formas de vida. As propriedades no rmativas da linguagem se restringem ao acordo de nossa comunidade, ou seja, as propriedades objetivas de correc;ao e verdade siio identificadas com propriedades culturalmente relativas. Ao transferir a espontaneidade fom1adora de mundo para a variedade dos jogos de linguagem e fonnas de vida históricos, Wittgenstein teria relativizado o status transcendental da linguagem (como aquilo que constituí o mundo) no sentido de um pluralismo de jogos de linguagem como fatos descritíveis. Isso o conduz a uma concepc;iio pluralista e relativista dos jogos de linguagem, que constituem formas de vida monadicarnente fechadas, sendo cada jogo de linguagem descritível apenas com base em uma participac;ao nele (nunca baseado sornente em uma observac;ao externa). Só aqueJe que participa do jogo de linguagern está ern condic;oes de descreve-lo, pois, do contrário, caso o observasse apenas de fora, nunca poderia ter certeza de que as regras supostas por ele em sua descric;iio sao identicas as que de fato sao seguidas no jogo de linguagem. 10 Em Gadamer, a linguagem (ou ainda a língua historicamente determinada) funciona corno mediac;iio total da experiencia, sendo impossível transcendela. Na leitura de Habermas ( 1998: 86- 8), Gadamer sustenta que a re ferencia objetiva do diálogo deve sernpre se dar no solo de um consenso prévio, sendo o processo de interpreta~iio possível apenas sobre o solo de um contexto tradicional comurn que abarca desde sempre os dois lados. A hermeneutica fi losófica acentua a nossa finitude, a falibilidade de nosso conhecimento, a tradic;iio, a impossibi lidade de compreensao livre de todo pré-conceito, nosso paroquialismo histórico e cultural, a nossa incapacidade de transcender o diálogo que nós somos, nossa historicidade e a impossibilidade de pretensoes universalistas nos moldes da Aujkliirung, uma vez que a raziio está fundada em tradic;oes particulares e só existe como real e histórica (Gadamer, 1960: 4 15; 1967: 29, e Vattimo 1985: 109). 11 Se observarrnos a estrurura de u m ato de fa la (conteúdo proposicional + forc;:a ilocucionária), vemos de um lado o aspecto cognitivo e de outro o as-
210
Atareo Antonio ele Sousa Alves
pecto comunicativo. Enquanto a semantica formal estuda o conteúdo proposicional de um enunciado, a pragmática formal, tal como a desenvolvida por Habennas, investiga a fors;a ilocucionária (ou seus pressupostos). Para explicar o conteúdo dos enunciados, Habermas é obrigado a apelar a uma esfera anterior com poder constitutivo do significado e, portanto, dos processos de entendimento (como o background deSearle). 12 Segundo Lafont, devemos romper com Humboldt e com a teoría semantica de inspiras;iio fregeana para sustentar urna teoría da referencia direta, que nao se assente em uma teoría da significas:ao (em uma constituic;:ao prévia do sentido que garantiría a unidade do mundo). Segundo a teoria da referencia direta, a explicac;:ao do referir nao depende do compartilhamento do significado, que nos permitiría identificar o designado. O referir nao é assimilado ao identificar, mas é visto como urna designas;ao direta ou rígida (como diz Kripke). Para nao cair no relativismo, é preciso que o poder constitutivo da linguagem ande junto com a esfera objetiva. 13 A tese da incomensurabilidade está baseada numa distins;iio bastante ~o mum, mas equivocada: aquela entre esquema conceitual e componente empírico (o primeiro surgindo da linguagem e o segundo da experiencia, ou do mundo). Segundo Davidson ( 1974: 198): " In giving up dependence on the concept of an uninterpreted reality, something outside all schemes and science, we do not relinquish the notion of objective truth-quite the contrary. Given the dogma of a dualism of schem e and reality, we get conceptual relativity, and truth relative to a scheme. Without the dogma, this kind of relativity goes by the board. Of course truth of sentences remains relative to language, but that is as objective as can be. ln giving up the dualism of scheme and world, we do not give up the world, but re-establish unmediated touch with the familiar objects whose antics make our sentences and opinions true or false". 14 Davidson também possui uma visao social da linguagem, uma vez que para se ter uma linguagem é preCiso ter crenc;:as, o que requer o conceito de verdade objetiva, e a posse desse conceito e da linguagem requer uma interac;:iio lingüística interpessoal. Sem interagir com outra pessoa, o próprio falante nao sabe sobre o que está faJando ou pensando. Apenas quando " triangulamos" com alguém podemos ter razoes para pensar que ele possui urna linguagem e ter esperanc;:a de saber sobre o que ele está faJando (Verheggen, 1997: 361-5; Davidson, 1995: 1O, 17). Como diz claramente Davidson (1995: 18): "Ail propositional thought, whether positive or skeptical, whether of the inner or o f the outer, requires possession of the concept of objective truth, and this concept is accessible only to those creatures that are in communication with others. Knowledge of other minds is thus basic to all thought. But such
1/abcrmas critico de Davidso11
211
knowledge requires and assumes knowledge of a shared world of objects in a common time and space. Thus the acquisition of knowledge is not based on a progression from the subjective to the objective; it emerges ho listically, and is interpersonal from the start". 15 Temos, assim, uma premissa naturalista ausente em 1-labennas, que convĂŠm ao externalismo davidsoniano (no qual a linguagem estĂĄ ancorada causalmente no mundo).
lrracionalidade: enigma da racionalidade Maria Cristina T. Sparano Universidade Federal do Paraná
Etrc désespéré rnais avee espéranee... Avec élégance (Can~ao de G. Roman cantada por J. Brél)
Considera~oes
preliminares
Apresentar a irracionalidade como um enigma é um recurso que visa, antes de tudo, mostrar mais seu caráter velado do que propriamente ambíguo. Ao percorremos a literatura, os autores que nos servem de referencia na análise do texto "Paradoxos da Irracionalidade" de D. Davidson tem respostas que continuam a manter nossa inquietas;ao. M. Cavell, no seu texto, Reason and the Gardener, apresenta a irracionalidade como urna "puzzling form da racionalidade," confundindo o sujeito, que, sem meios suficientes para encontrar urna resposta coerente no conjunto das respostas, nao terá como avaliar suas as;oes. Isso porque, ao agir, terá desconsiderado. urna parte de suas razoes, deixando de lado urna parte da totalidade das razoes que conhece ou pode conhecer, ou seja, deixando escapar urna pes;a do jogo da racionalidade. D. Laurier, no texto ''Nature sans raison n'est que ruine de la conscience," diz que a inacionalidade surge, quando o agente produz um comportamento contrário a seus princípios, produzido de maneira acidental, porque os dispositivos cognitivos nao funcionaram como deviam. Assim como o agente age de maneira deliberada numa ops;ao racional, pode agir acidentalmente de maneira irracional. A conseDutra. L. H. de A. e tvlorta ri. C. A. (orgs.). 2005. Epistemologia: Anais do IV Simpósio lntem acíonal, Principia- Parte l . Florianópo lis: NELIUFSC. pp. 213- 226.
2 14
Maria Cristina T. Sparano
qüencia d.isso é que a fraqueza de vontade, uma das respostas a irracionalidade, presente no texto dos Paradoxos da lrTacionalidade, deve ser reconsiderada. J. Lacan, assim como S. Freud, colocam a irracionalidade ao lado da falta, da carencia, o que acaneta para a interpreta9ao psicanalítica a dimensao de julgamento ou juízo de valor sobre as a96es do sujeito, pois a falta é revelada pelo que ecoa dela, aparecendo como culpa, covardia, fraqueza moral. No entanto J. Lacan, retomando S. Freud a respeito do recalque, situa a falta no afeto deslocado. No texto Tclevisao, tendo como base sua máxima de que ''o inconsciente é estmturado como linguagem," apresenta a irracionalidade como "carencia para orientar-se no pensamento." Situa a falta a partir do pensamento, pois é pensamento que o afeto descarrega no corpo. Todo desconserto desse pensamento se mostra nos atos psíquicos considerados como "irracionais." Em S. Freud, no caso da neurose, o enigma da racionalidade é que o síntoma tem sentido e razoes, senda uma forma de reconcilia9ao de desejos conflituosos submetidos a repressao. A teoría do conilíto neurótico e suas modalidades tende a confundir-se com a própria teoda psieanalítica e tem suas raízes na história infantil do sujeito. Quando comportamentos que tem sua origem nessa dimensao sao tomados como irracionais, revelam apenas a expressao desse conflito. Finalmente, D. Davidson, no texto Paradoxos da Inacionalidade, ao apresentar a lógica da inacionalidade e valendo-se de exemplos da psicanálise, fala de um breakdown da racionalidade, uma falha no sistema da racionalidade, que promove a96es incoerentes e inconsistentes, mas justificadas pelas cren9as do sujeito. Apesar de todas essas considera9oes, persiste o enigma da racionalídade e quando essas situa96es aparecem na clínica psicanalítica, revela-se o tra90 da neurose "que nasceu no dia em que a anatomía patológica encarregada de explicar a doen9a pela altera9ao dos órgaos, encontrou-se diante de um número de estados mórbidos cuja razao de ser lhe escapava." 1
lrracionalidade: enigma da radonalidacle
215
Filosofia e psicología Toda racionalidade visa conciliar elementos implicados e utilizados no funcionamento da racionalidade na vida. Urna boa racionalidade ao nivel da epistemología se pretende com enunciados justificados que proporcionam consistencia e cocrencia intema ao discurso. Em filosofía, a racionalidade, de urna certa forma envolve todas nossas relas;ocs com o mundo e fora deJa parece nao haver alternativas para as contradis;oes quando aparecem como intervens;ao da razao no funcionameoto da vida, revelando-se como irracionalidade. Muitas vczcs o homem procura "panacéias," protestando contra toda intervcns:ao da razao no funcionamento da vida, buscando desenvolver patamares de equilíbrio contra suas ansiedades, certos "álibis," que, a médio prazo, se mostradio insuficientes provando apenas, com isso, que nao consegue um modo de conciliar urna intervens;ao racional na vida cm sociedade. A arte da racionalidade estará em descobrir conexoes entre ela e a vida. Vemos entao, o quanto importante seria descrevermos o funcionamento da racionalidade aplicada a nossos fazeres , que incluem nossas mclhores intens;oes, nossas crens;as e desejos. O que é visado é a protes;ao dos sujeitos e grupos, pois o único objetivo da racionalidade na cultura é proteger um mundo no qual todos possam viver bem, ser felizes e buscar satisfas;ao. Mas como caracterizar a racionalidade? Pelo tipo de enunciado que utilizamos. Os descritivos sao os enunciados da ciencia e o processo . de justificas;ao que os acompanha os legitima para encontqmnos aí a produs;ao de vcrdadc científica; já os enunciados prcscritivos nao se comprovam faci lmentc dentro das tendencias científicas e dizem respeito as normas e ao funcionamento das leis morais. A filosofía trabalha nesses dois níveis. O que devemos perceber como fundamental é que teorías da a9ao nao tem nenhum sentido, sao inviáveis sem uma teoría da ciencia. As teorías da ciencia significam exatamente o desenvolvimento dos processos de justificayao do conhecimento humano que se constituem nos instrumentos necessários das teorías da a9ii0 (... ) Abstratamente nao há oposi9iio excludente
216
Maria Cristi11a T. Spara11o
entre teorias da ciencia e teorias da ayao, mas ao contrário, existe uma rela<;:i'io de complementaridade. ambas as teorías visam dar conta da racionalidade do comportamento humano. 2
Quanto a psicología, enguanto disciplina, comes:a com a história do "behaviorismo" que rouba a cena no início do século XX e é definida como ciencia experimental, cujo conteúdo empírico porta exclusivamente sobre o comportamento observável do homem reagindo as mudanvas de seu meio físico. Na contra miio dessa psicología, podemos falar de uma filosofia da mente que contra o behaviorismo concebc o comportamento como avües, isto é, comportamento intencional. Nessa perspectiva, descrcver um compo1iamento como uma as:ao sensata ou intencional é postular a presens;a na caixa preta do behaviorismo, de estados mentais tais como, desejos, crens;as, intens;oes e outras atitudes pelas quais se explica e prediz o comportamento. Assim é possível descrever um fenómeno num vocabulário intencional, como é o caso de uma avao e explicá-lo apelando a causas fisiológicas. Mas como ultrapassar a observas:ao do simples movimento para perccber ou inferir o que sao avücs, diferentemente da descrivao de nossos movimentos ? Para melhor situar essa possíbilidade, diríamos que nao é possível alguém levantar o bravo sem ter razoes para isso, quando o agente deseja assim faze-lo, acreditando que com este gesto mobiliza os meios para alcans;ar algum fim. É por isso que dependendo do movimento, dizemos que é uma as;ao e que tem caráter intencional quando a tomamos "sob uma detenninada descris;iio. " 3 A idéia chave é que uma aviio intencional difere de um simples movimen:to ou do comportamento na medida em que é concebido ou percebido pelo agente e a quem se dirige. Qualquer que seja a origem desse esquema (da capacidade e do estatuto dos elementos pressupostos) para que a avao seja obtida um esquema mental que incluí, crens:as e desejos é igualmente pressuposto, um complexo de pensamentos e sentimentos consistente e coerente, racional , segundo o próprio D. Davidson, que atua sob o "Principio de Platao": "agir em razao de todas as crens;as consideradas e segundo scu melhor interesse.'>4 Para que possamos
lrracionalidade: enigma da raci01wlidade
217
ligar todos os elementos implicados: crenc;as, desejos e intenc;oes, numa tessitura lógica, corn encadeamento causal, vemos que a identificac;ao de uma ac;ao pressupoe urna noc;ao fundamental , a de racionalidade, vista como propriedade exclusiva da psicología do senso cornum . Este esquema lógico conccitual é o informante da psicología do senso comum, com seus conceitos, propriedades e lcis "aprendidos no colo da vovó," nas palavras de J. Fodor. A psicología do scnso comum representa a matéria prima dos estudos filosóficos da mente. A resposta a problemas de ordem epistemológica e ontológica, assim como os desvíos, as derrapagens da racionalidade, da consciencia, da intencionalidade, sao tratados dentro dessas duas disciplinas inseparáveis Teoría da acyao e Filosofia da mente, sendo a Psicología do senso comum um capítulo da Teoría da a~ao. A interpretac;ao de um comportamento como ac;ao, para D. Davidson, é a consagracyao de propriedades intencionais a um movimento e repousa sobre o "principio de caridade," que diz que se considere a racionalidade de urna ac;ao ou de urna crencya no conjunto de outras crcnc;as, desejos e emoc;oes do agente. Assim em bloeo, as ac;oes sao interpretadas e nao podem ser separadas e isoladas como pedem as leis que regem o funeionamento do comportamento físico. Eis porque nao é possível colocar os eventos sob leis detenninistas quando descritos em termos intencionais e sob urna determinada dcscric;ao, embora sua interac;ao seja causal. Quando alguém ere em algo, isso faz com que aceite o~tras crenc;as que se conectam logicamente, o que nao é feíto sem o uso de normas na condw;:ao do pensamento, sejam elas dedutivas ou indutivas. Compreendemos alguém quando interpretamos o que pensa segundo normas da racionalidade, dessa fonna, sao as nonnas que dao coercncia e consistencia as ac;oes, afirmando seu papel. Em contrapartida o agente irracional é aqueJe que nao se conforma espontaneamente as crenc;as e desejos e a lóg ica interna na produc;ao da ac;ao, abrindo urna fenda no processo da racionalidade, provocando, ao mesmo tempo, urna distorc;ao da racionalidade.
2 18
Maria Cristiua T. !>i>araun
S. Freud -A causa inconsciente O ser humano. o agente. o falante. quando exposto ao mundo, sob o princípio de realidade, !ida com uma vari edade de emo<;oes e conflitos psíquicos onde necessidades de satisfn<;ao, estabilidade, "paz de espírito" podem ser perturbados por impulsos e desejos, valores e cren<;as, adotados ao longo de sua existencia. Os conflitos mais importantes ocupam um espa<;o no inconsciente, fora do alcance da percep<;ao, e ficam impedidos de aplicar os meios da razao ou do senso comum. Dessa forma os artifícios da personaliclade planejados para servir de defesa contra emoc;oes fortes e insuportáveis podem se desorganizar, esses processos de defesa podem ser bloqueados ou desv iados, constituindo-se num poderoso desencadeador de doen<;a. as neuroses. Para a psicanálise a realidade psíquica do paciente compreende seu sistema de cren<;as, de desejos e lembran<;as. O conteúdo de um desejo ou de uma cren<;a e, em conseqüencia, o conteúdo de uma a9ao, tem um lugar e uma fun9ao na rede de estados mentais que sao levados em conta numa análise. Há uma liga<;ao estreita entre os pensamentos, os estados mentais do paciente e o mundo exterior que o analista considera na perspectiva de uma intera9ao causal. A análise procura acolher o esquema conceitual do paciente dando crédito e "escurando o inconsciente." Repressao e defesas proveni entes da divisüo do ego tem aí papel importante agindo e produzindo efeitos - síntomas. A psicanálise desde seu início vem se preocupando com as inquieta<;6es, contlitos e inúmeras outras manifesta96es expressas na cultura. que tomam a forma de mal estar e vao tecendo variados sí ntomas. S. Freud procurou detectar o erro que no nível das neuroses toma um aspecto moral, de julgamento. Quando o psicanalista aplica a regra fu ndamental da associa<;ao livre como guia da interpreta<;ño analítica quer com isso evitar a censura do pensamento dos pacientes que originalmente já sao censurados, isto é, submetidos a repressao. Ao possibi litar ao paciente o acesso a elos associativos e fragmentos do discurso. o analista levanta as crenc;as do paciente e conseqüentemente os moti vos de determinadas a<;6es. A
lrracionalidade: enigma da racionalidatle
219
regra fundamental consiste para o paciente em se libertar do peso do falta, do erro, possibilitando o tratamento, buscando a causa de seus desejos reprimidos. O paciente pode, entretanto, calar-se, dissimular, mas mesmo assim, S. Freud insistiu em descobrir o porque, a causa dessa provoca9ao. Doente de suas interdi96es, o paciente ao aceitar o processo de cura poderá agir a partir da falta/erro. O interessante é que a falta/erro, apresentada sob a forma de culpabilidade, causa do sofrimento do paciente, é produto do combate entre leí e sexo, que ao se impor ao sujeito como repressao do desejo se mostra e se justifica por razoes incompreensíveis para o paciente. Como médico e psicanalista, S. Freud, buscou a cura para a o mal do erro, inconsciente e incoerente sob o aspecto da racíonalidade, e nao da falta moral do qual o erro é signo. Entretanto, nao há manifestas;ao inconsciente que nao traía a falta, por mais reprimida que esteja; cxprímindo-se como pode, revelar-se-á nos lapsos, nos enganos, nos gestos, nos sonhos, ísto é, nas formas;oes do inconsciente. As manifestas;oes expressas pela angústia e pelos síntomas revelam - se nas estruturas da personalidade psíquica, uma delas é o ego. S. Freud observa em Neuropsicoses de defesa: O eu do sujeito ao confrontar-se com uma experiencia, uma representa9ao ou um sentimento que suscitaram um afeto muito aflitivo, rejeita, decidindo esquecer, esse afeto inaceitável como defesa, pois nao confia em sua capacidade de resolver a contradic;:ao entre a representac;:ao incompatível e intolerável e a coisa mesma.
Diz ainda: quando chamamos a aten<;:iio para a representa9iio primitiva, de natureza sexual, recebe do paciente a seguinte resposta- isso nao tem nada a ver comigo. Nunca pensei muito nisso.5
Essa objeyao tao freqüente integra uma prova de que a representas;ao obsessiva constituí-se num substituto ou um sub rogado da representa-
220
.lfaria Cristina 1: Sparano
ção sexual intolerável c se acha substituído na consciência . Essas situações produtos da repressão ou rccalcamento, imagens, pensamentos, recordações, ligadas a uma pulsão, ocorrem nos casos em que a satisfação da pulsào, suscetível por si mesma de proporcionar prazer provoca desprazer. No lugar do erro então reprimido, o desejo, no lugar da fantasia c do sonho, o rea l do sexo, seu aroma: Quando o odor da peste invadiu Tebas, o bom rei Édipo procura o culpado, pois se a cidade cheira mal, a crença dos tebanos é que " isso" só pode vir de fora - do estrangeiro (irracional). Ora, o estrangeiro é Édipo, o que cheira mal, o culpado, inclusive do sexo incestuoso. Quando descobre o irracional, não coerente, inconsistente, dentro dele fura os próprios olhos e se reli ra. Vitória da racio. da cidade, que inocentada admite novas leis.
Em psicanálise o processo da cura começa por fazer ceder a repressão, baixar as defesas. O interessante é que ao levantar o véu da repressão o paciente o substitui por uma tela para ver através dela, guardando sua identidade - o cu -, pois a identidade do suje ito é o que o coloca no corpo social. 6 S. Frcud em "Divisão do ego c processo de defcsa" 7 se questiona sobre o que ocorre com um sujeito que tem suas exigênc ias de satisfação contempladas mas que, sub itamente, é atingido por uma experiência que mostra que a continuidade da satisfação traz consigo um perigo rea l praticamente intolerável. Terá que decidir- se: ou bem rcco.nhccer o perigo, ou bem renunciar à satisfação instintiva, negando- a, para poder continuar com sua satisfação. O dilema entre a exigência do instinto c a proibição por parte da realidade provoca essa fenda ou divisão no ego. A so lução é que o suj eito não vai por nenhum desses cam inhos, mas os tom a si multaneamente. O s uje ito responde ao confli to com duas reações contrárias, mas as duas válidas e eficazes. Com ajuda de certos meca nismos, rechaça a realidade c se recusa a aceitar qualquer proibição ao mesmo tempo em que reconhece o perigo e o medo subseqüente, produz indo sintomas, tentando, dessa forma , livrar-se do medo, que é apenas um sinal do perigo que realmente o
lrraciollalidade: euigma da racioualulcule
221
atinge. S. Frcud diz ser es ta, uma so lução muito engenhosa. A conduta dos pacientes é de rechaço à realidade, conduta que na neurose é a mesma que encontramos na psicose, mas com uma diferença, pois não se trata apenas de contrad izer suas percepções c crer na percepção aluc inatória. Do ponto de vista da explicação teórica, na verdade, o sujeito só realizou um des locamento. Do ponto de vista clínico isso demonstra que há no sujeito urna divisão que podemos exprimir como uma divisão do desejo: entre o desejo de se curar de um lado e por outro o desejo de não se curar de seus si ntomas, foi o que S. Freud denomi nou como fu ga para a doença, com todos os bene fí cios e ganhos secundários. Evita-se a situação conflitual geradora de angústia e encontra-se na fom1ação de sintomas uma redução da mesma.
D. Davidson -Atuar por razões O Dr. G. Reach, endocrino logista especializado em diabetes em seu livro Pourquoi se soigne-t-il? (2005) ao tentar responder essa pergunta busca apoio nos conceitos desenvolv idos pela filosofia da mente, na medida em que esta permite uma descrição lógica e não apenas psicológica do papel dos diferentes estados mentais como crenças, desejos e intenções. Quer entender, finalmente, o processo do agir, quando rea lmente queremos nos tratar, ou não. Ao expor suas dúvidas pergunta: "Escolhemos uma solução cuja recompensa não é imediata no lugar de uma satisfação imediata? Qual é o priflcípio que rege nossas ações quando aceitamos o tratamento? Evidentemente o princípio de racionalidade." No entanto, examina o problema através da " nãoobservância terapêuti ca," ressaltando que todas etapas do tratamento não são negligenciáveis, mas dentro de todos elementos da saúde considerados, história da própria v ida, da vida do paciente, sua capacidade de observação, constatação de me lhora ou cura, por alguma razão abandona ou negligencia o tratamento prescrito. Quando um médico no final de uma consulta prescreve um tratamento ao doente ele supõe que este irá seguir suas recomendações c tomar o medicamento pres-
222
Maria Crt.\1/lla T. Sparanu
crito. Ora, a experiênc ia mostra que nem d e longe esse é o caso. O doente pode parar o tratamento em poucos dias embora esti vesse previsto para um mês. Ele pode até mesmo nem comprar o medicamento, sejam e les reembolsados ou não pe lo seguro social. Outras recomendações não são seguidas, apesar das bem iotcncionadas promessas do paciente e das repetidas exortações do médico, mesmo assim o paciente não as segue, não pára de fumar ou faz um regime. A conclusão é que o médico tinha razões ao tàzcr suas prescrições, mas se o paciente não as segue, deve também ter razão ou quem sabe muitas, isso quer dizer que as razões j us ti ficam as ações, isto é, lhes dão sentido desde o ponto de vista do agente c tomam valor casual c encadeamento lógico. O mais chocante é que não se trata de casos isolados, admite-se g lobalmente que metade dos pacientes não segue à risca as prescrições c conselhos que os médicos lhes prescrevem. O mais interessante é que isso não é exclusividade dos pacientes, há muitos médicos obesos que fumam e não se tratam quando estão doentes ... O diagnóstico de D. Davidson a esse problema, numa resposta ao j á c itado artigo de M. Cavei!, Reason and the Gardener, sobre os paradoxos da rac ionalidade, diz que M. Cavcll concentra sua interpretação não sobre a irracionalidade, mas sobre uma "puzzling forma da racionalidade. " Sugere que muitos casos de iiTacionalidadc envolvem situações nas quai s um estado mental causa um outro, mas não é uma razão para isso, tomar desejos por rea lidade s ou " fantasiar" é um simples exemplo. Mas nem sempre tais esforços para integrar desejos, emoções, convicções e hábitos tot~lm ente racionais e coerentes entre si refletem o sentido de como cet1as decisões verdadeiramente difíceis são cxpericnciadas como dificuldades. Continua, o paradoxo é o seguinte: " nada no domínio do que possamos esperar ou desejar é mais importante do que uma escolha, quando, às vezes, isso abre a uma profunda c itTcversível mudança em nossas vidas e finalmente afeta o tipo de pessoa que som os: mudar de vocação, abandonar um projeto mudar - se para outro país, envolve um exercício de racionalidade. " D . Davidson afi rma que, tomar desejos por realidades, "fantasiar," envolve o que chama de "atos intencionais maduros" (fu/1-jledged
222
Maria Cristina
1: Sparanu
crito. Ora, a experiencia mostra que nem de longe esse é o caso. O doente pode parar o tratamento em poueos días embora estivesse previsto para um mes. Ele pode até mesmo nem comprar o medicamento, sejam eles reembolsados ou nao pelo seguro social. Outras recomendas;ocs nao sao seguidas, apcsar das bcm intencionadas promessas do paciente e das repetidas cxortas;ocs do médico, mesmo assim o paciente nao as segue, nao pára de fumar ou faz wn regime. A conclusao é que o médico tinha razoes ao fazer suas prescris;oes, mas se o paciente nao as scgue, deve também ter razao ou quem sabe muitas, isso quer dizer que as razoes justificam as as;oes, isto é, lhes dao sentido desde o ponto de vista do agente e tomam valor casual e eneadeamento Lógico. O mais chocante é que nao se trata de casos isolados, admite-se globalmente que metade dos pacientes nao segue a risca as prcscris;oes e consclhos que os médicos lhes prescrevem. O mais interessante é que isso nao é exclusividade dos pacientes, há muitos médicos obesos que fuma m e nao se tratam quando estao doentes ... O diagnóstico de D. Davidson a esse problema, numa resposta ao já citado artigo de M. Cavell, Reason and the Gardener, sobre os paradoxos da racionalidade, diz que M. Cavell concentra sua interpretas;ao nao sobre a irracionalidade, mas sobre uma "puzzling forma da racionalidade." Sugere que muitos casos de irracionalidade envolvem situas;oes nas quais um estado mental causa um outro, mas nao é uma razao para isso, tomar desejos por realidades ou "fantasiar" é um simples exemplo. Mas nem sempre tais esfors;os para integrar desejos, emos;oes, convics;oes e hábitos tot~lment e racionais e coerentes entre si refletem o sentido de como certas decisoes verdadeiramente dificeis sao experienciadas como dificuldades. Continua, o paradoxo é o seguinte: "nada no dominio do que possamos esperar ou desejar é mais importante do que uma escolha, quando, as vezes, isso abre a uma profunda e irreversível mudans;a em nossas vidas e finalmente afeta o tipo de pessoa que somos: mudar de vocas:ao, abandonar um projeto mudar - se para outro país, envolve um exercício de racionalidade." D. Davidson afinna que, tomar desejos por realidades, "fantasiar," envolve o que chama de "atos intencionais maduros" (fu!!-jledged
!rracionalidade: enigma da racionalidcule
223
intencional acts), baseado na crenya de que posso ser mais feliz se agir no presente com a evidencia que sustenta meu desejo. Fantasia é basicamente um caso onde desejos, mesmo os nao racionais, causam mna ayao. lsso permite que a "timtasia" cause uma ayao que promove a cren9a. Atuar por razoes quer dizer que o que voce ere, que o que voce deseja, causa o que voce faz." Diz ainda, "O que acho mais interessante na questao é como trayar a linha divisória entre atos intencionais maduros, situayoes ondeas pessoas tem razoes e nao tem dificuldade de dar as razoes quando questionadas e casos onde está claro que a pessoa tem razoes para agir e é o que faz com que estas razoes, sem dúvida, causem a ac;:iiG, mas ela niio tem consciencia nem pode dizer porque fez o que fez. " 8
Já para M . Cavell, o agente ao por de lado sua razao, deixa de enlas:ar uma parte do que conhece na totalidade das razoes. D. Davidson sugere que há num mesmo espírito fors:as que interagem no nível mental influenciando e provocando ayoes para as quais nao há razoes ou as razoes dadas nao as explicam. A coerencia está parcialmente ligada a um subsistema e nao a totalidade do sistema racional considerado. Logo, há aspectos do mental que se entrecruzam e causam as:oes definidas como inacionais por causa dessa interferencia. D. Davidson em seu texto "Paradoxos da Inacionalidade" dizque a divisao do espírito ou da mente, para ele é puramente funcional e que os conceitos operatórios sao os de razao e causa analisados sob urna ática descentrada, mas sob um fundo de racionalidade. Assim, as as;oes que tem urna explícas:ao dita irracional devem estar submetidas a uma compreensao de segunda ordem, aqueta do mundo dos desejos, das crens:as e dos valores. E precisa que sua explicayao nao é a explicayao freudiana. Quanto a S. Freud, foi acusado de dividir o espírito ou a mente em partes independentes, "id," "ego, " e "super ego," que agiriam umas contra as outras, provocando as;oes que o agente nao podería controlar, havería no agente sub-sistemas autónomos, como personalidades, com poder mental (homunculi). A acusas:ao a S. Freud nasce do fato que no
224
Maria Cristina 1: Sparano
inicio de sua teoría, por vezcs, dá um aporte mecanicista e uma explicas:ao causal ao funcionamento mental, aproxima mesmo essa explicac;:ao as leis da medinica, seus exemplos, sao exemplos da hidráulica e da eletricidade, outras vezes, na explicac;:iio de seus casos, dá uma explicac;:ao antropomórfica e intencional ao inconsciente. De fato , a explicas:ao freudiana do inconsciente nao se situa nem do lado da esfera da intencionalidade, nem da causalidade cega. As forc;:as que se entrecruzam no espirito, "id, " ''ego," e "super ego" e as ac;:oes submetidas a essas forcras nao tem uma explicacrao racional, suas razoes sao necessárias, mas nao suficientes e a explicas:ao intencional é inapropriada. Enigma da racionalidade? Para D. Davidson, os eventos mentais quando descritos em tennos físicos se explicam por urna lei e revelam urna relas:ao causal, mas os eventos mentais, como os atos intencionais, os desejos e crencras, nao sao submetidos a leis estritas ou explicados por elas, sao compreendidos e interpretados. Antes de serem descritos como eventos mentais levam sua marca de liberdade rompendo a relacrao causa - efeito, por essa razao, nao podem ser sempre explicados e justificados, mas interpretados dentro do padrao da racionalidade. Ali onde D. Davidson ve um processo lógico de contradicrao entre as acroes de um individuo, porque desejos e crens:as nao entraram em consideracrao na análise de suas atitudes, mas ainda assim, razoes que nao sao causas, causaram urna acrao, S. Freud, ao analisar o mecanismo da neurose, baseado na divisao do ego e na influencia das outras instancias do espirito, admitiría o paradoxo da irracionalidade, onde mna falta ou falha no sistema da racionalidade acarreta ac;:oes peculiares ao sujeito, sem esquecer, bem entendido, a dor ou sofrimento de que o sujeito padece.
lrmciona/idade: enigma da rudona/idade
225
Referencias bibliográficas
1
Anscombc, E. 1991. Intención. Trad. A. I. Stellino. Barcelona: Paidós Ibérica. Cavcll, M. 1993. The P:;ychoanalytic Mindfrom Freud to Philosophy. Cambrige, Mass.: Harvard University Press. - . s.d. Reason and the Gardener. [S.T. :s.n.] Davidson, D. s.d. Reply to M Cavell. [S.l.:s.n.] -. 1993. Actions et événements. Paris: Presses Universitaires de France. - . 1984. "Paradoxos da irracionalidade." http:lwww.gcocitics.com/marcotk2/davidson.htm. Trad. Marco Antonio Frangiotti. Fisette, D. e Poirier, P. 2002. Philosophie de/' esprit. Psychologie du sens commun el sciences de /'esprit. Paris: Vrin. Freud, S. 1981 a. Obras Completas!. Las neuropsicosis de dejesa. Die abwehr-neuropsychosen,J894. Madrid: Biblioteca Nuva. - . 1981 b. Obras Completas 1!1. Escision Del Yo Em El Proceso de Defesa. Madrid: Biblioteca N~1eva. Lacan, J. 1993. Televisiio. Rio de Janeiro: Zahar. - . 2002. " lrracionalidade." in Lalande, A. (org.), Vocabu/aire technique et critique de la philosophie. París: Quadrige. Laplanche, J. 1992. Vocabulário da Psicanálise. Sao Paulo: Martins Fontes. Laurier, D. 2005. "Natu re sans raison n ' es! que ruine de la consci.ence." http://www.philo.umontreal.ca/textes/Laurier_NATURESANSRA ISON. Univcrsité de Montréal. Ncuberg, M. (org.) 199 1. Théorie de /'action. Liege: Margada. Rcach, G. 2005. Pourquoi se soigne-t-on? Paris: [s.n.]. Sparano, M. C. T. 2003. Linguagem e Significado. O Projeto Filosófico de D. Davidson. Porto A legre: Edipucrs. Stcin, E. 1987. Paradoxos da Racionalidade. Porto Alegre: PYR.
226
Maria Cristina T. Sparano
- . 1999. "A De scon stru~iio do Eu: A Zcrlegung de freud e a Auslegung de Heidegger." Yerítas 44 ( 1). S./a. 1994. "Una Conversación con D. Davídson." Descartes 9 (13).
Notas 1
Axenfeld, A., Traité des névroses, Genner Bailliere et Cíe, 1883, in Laplanche, J., Vocabulário da Psicanálise. 2 Stein, E. , " Paradoxos da Racionalidade." 3 Segundo E. Anscombe, lntentions. 4 Davidson, D., "Paradoxos da irracionalidade." 5 Freud, S., Obras Completas. 6 Segundo E. Stein, "A desconstru~ao do eu, numa versao heideggeriana," o eu servirá como anteparo diante da morte. 7 Freud, S., Obras Completas. 8 Davidson, D., " Reply to M. Cavell."
Naturalismo e constru~ao da verdade
1
Maria Cristina Sparano Eduardo Vicenzi Silvia Maria Monteiro Patrícia Pereira Universidade Federal do Pm·aná
Na filosofia contemporanea um dos temas que suscitam muitos debates, inclusive o que deu margem ao presente artigo, é o naturalismo. O programa de naturalizas:ao cm filosofia tem como posis:ao epistemológica urna descris:ao de estados fisicos que o define em tennos de ciencia natural como a biología, ou a física. Partindo de urna imagem científica de mundo, aí estao presentes, pa1iículas físicas , campos de fors:as, relas:oes causais e leis naturais. Os debates mais importantes que dao for«;:a a essa conceps:ao filosófica decorrem de duas plataformas ideológicas bem definidas, realismo e anti-realismo, que cstao presentes no trabalho de P. R. Margutti (2004), soba perspectiva da lógica e da linguagem por ele denominada de realismo metafísico em lógica (de iospiras:ao fregeana) e transcendentalismo lógico (de inspiras:ao witgenstciniana). No que diz respeito a linguagem, a primeira posis:ao apela ao fom1alismo lógico dos primeiros filósofos da linguagem, que negam a linguagem natural, e a segunda, que nao se funda em essencias, mas cm convens:oes "a sombra pragmática da gramática," nas palavras do autor. Os pressupostos naturalistas que dao suporte a crítica sistemica feíta por Maturana e Varela (2001), a nos:ao de objctividadc na ciencia moderna e á dicotomia cartesiana entre mente e corpo, também fundamentam as críticas a outras dicotomías tradicionais, seja na perspecDutra. L. H. de A. e Mortari, C. A. (orgs.), 2005. Epistemologia: Anais do IV Simpúsio Internacional. Principia - Parte l. Florianópolis: NEL/UFSC. pp. 227- 240.
228
Maria Cristina T. Sparano el al.
ti va epistemológica ( com a distin~ao a priori/ a postcriori); seja na perspectiva lógica (com a distin~ao ncccssário/ contingente); seja na 2 perspectiva semantica (coma distinvao analítico/ sintético). A visao dos seres humanos como "unidades autopoiéticas," sistemas auto-organizados e operacionalmente fechados, que se encontram cm interavoes causais com o ambiente gera conseqüencias filosóficas frutíferas e contextualiza tanto a Epistemología Naturalizada de Quine3 como a abordagem nao-metafísica da linguagem e da lógica, qua! seja, o "kantismo naturalizado" sugerido por Margutti (2004). Em oposi~ao ao realismo metafísico em lógica, e ao transcendentalismo lógico emerge o alcance do naturalismo, em sua formulavao epistemológica e uma formula~ao ontológica em pretendida construvffo da verdade. A perspectiva naturalista pode ser ilustrada pela tese central de A árvore do Conhecimento de Maturana e Vareta (2001: 33): Vive1nos no mundo e por isso fazemos parte dele; vivemos com os outros seres vivos, e portanto partilhamos com eles o processo vital. Construímos o mundo em que vi vemos ao longo de nossas vidas. Por sua vez, ele também nos constrói no decorrer desta viagem comum.
Para Margutti, essa tese é compatível com o conceito de "emulavao eficiente," e, num nível mais abrangente, a idéia do "kantismo naturalizado." Tanto a teoría de Margutti (2004) quanto a teoría de Maturana e Vare la (200 1) alinham-se a· concepyao epistemica naturalista ao compartilharem em maior ou menor grau as seguintes teses: /" Nossas sensa<;oes niio possuem conteúdo proposicional. mio fornecendo dados que constituiriam o conteúdo das expressoes lingiiísticas; 2" linguagem está de algum modo fechada em sí mesma, wna crenr;a só é pode serjustificada por outra crenr;a; 3" As rela<;:oes cognitivas entre ser humano e mundo envolvem intera<;:oes causais. (Margutti 2004: 20-1)
Naturalismo e cons /ruqáo da verdade
229
Norteado pelas tres teses, este artigo visa abordar a questao da construyiio da verdade a partir de urna perspectiva naturalista, cotejando Quine (1960, 1969, e 1995), Maturana e Varela (2001) e Margutti (2004). Para isso será essencial a definiyiio de conceitos como "constituiyao anatómica do significado," "objeto físico," "emula.yao," "contabilidade lógica" e "meio ambiente." Por fim, o presente artigo examinará a compatibilidade entre a epistemología naturalista a tese de Davidson (1992) de que a justifica.yao da cren9a se dá num sistema de cren9as e em termos causais, no qual toda conexao causal é ordinária e contingente e também observável e extrínseca.
1. Constitui~ao anatómica do significado Para Quine ( 1995), cabe a análise da linguagem identificar e compreender as variáveis que interagem no comportamento dos falantes além da maneira como se dá a deteimina9iio de urna resposta, ou, a constitui.yao anatómica de um significado. A análise da linguagem deve apoiar-se na observa9iio do comportamento dos falantes. Seu naturalismo epistemológico é expresso na convic9ao de que as teorías sobre a linguagem sao passíveis de verificac¡:ao empírica, urna vez que tratam de fenómenos naturais e observáveis: o discurso, os atos lingüísticos, as r~spostas que estes provocam em seus ouvintes, os processos de aquisi9ao da linguagem. Estímulo e resposta sao categorías associadas ao meio social e ao comportamento dos indivíduos, ambas devem estar íntimamente interrelacionadas. Quine dá como exemplo da inter-rela.yao a aquisiyao das palavras por urna crianya. Quando a crian9a enunciar "vennelho," é porque terá sido instigada por estimula9ao a enfatizar a cor do objeto. Além da aquisi.yao do comportamento verbal por meio da observayiio, da imita¡yiio de adultos, das outras crian9as e por meio da manipulayao dos dados externos, conforme a concep¡yao behaviorista, supoe-se que
230
Maria Crislina T. Sparano et al.
o dispositivo mental da crianya possui determinados mecanismos analíticos de proccssamento de dados ou principios indutivos dementares, como os principios de associa9ao, os principios de generaliza9ao e os principios taxonómicos de segmentayao e de classificayao. Na inter-relayao dá-se a constituiyao anatómica do significado. De ac01·do com esta perspectiva, a língua é vista como urna coleyao de palavras, locu9oes e senten9as; um sistema cujos hábitos sao adquiridos e explicados no meio externo. A aquisi9ao da linguagem, a formulayao de conceitos e o próprio conhecimento seriam o resultado de urna construyao gradativa que ocorre primordialmente pela experiencia. Quine ( 1969: 132) dizque: "a linguagem é urna arte social que nós todos adquirimos em circunstancias publicamcntc reconhecíveis [ ...]," o que é compatível com a noyao de Dewey (1958: 179) de que "o significado nao é urna existencia psíquica; é antes urna propriedade do comportamento." O fato de o significado ser constHuído, na perspectiva naturalista, de um modo anatómico - e socialmente anatómico - é detenninante na compreensao da intersubjctividade como fundamental no critério de decidibilidade entre teorías, bem como no processo de aquisi9ao de significado dos predicados da ciencia.4 O percurso estimulatório pode ser diferente para o lingüista e para o indígena5, mas nao anula a afinidade quanto ao nivel da exterioridade e da sinonimia. É possível apreender a situa9ao perceptiva dos outros, mesmo ignorando os mecanismos patticulares postos em marcha em suas experiencias perceptuais. Quine ( 1969) propoe que u m enunciado de observa9ao é bom para um grupo se é bom para cada um de seus membros. Diz também que cada um está de acordo em dar ou recusar seu assentimento quando é testemunha das circunstancias da enuncia9ao desse mesmo enunciado. Isso só é possível quando se supoe que um ser pode se colocar no lugar do outro, sem necessidade de estímulos partilhados. Ainda sobre o caráter social da aprendizagem, Quin e ( 1960) diz que o sujcito depende estritamente do comportamento aberto em situ-
Narurafismo e consrrur;clo da verdade
231
avoes observáveis para aprender a língua, principalmente do comportamento, da observas;ao e do refors;o dos outros. Maturana ( 1990), do mes mo modo que Quine, adota urna posis;ao ''externalista" para definir a maneira como se dá o processo do "ensino." Nas suas palavras, ensinar é: "Desencadear mudans:as estruturais, desencadear perturbavoes. E como fazemos isso? Em coordenavoes de coordenas:oes de as:oes. Ou seja: vivendo juntos." Professor e aluno, ao participarem de um mesmo espas;o de convivencia, passam a ser "co-ensinantes" e "com-viventes." É o professor quem guia a crias:ao do espayo de convivencia onde além dele participará o aluno, um espas:o que promove mudanvas em ambos.
2. O problema da referencia A perspectiva quiniaoa da ioescmtabilidade da referencia e a indeterminas:ao da tradus:ao deixam transparecer o problema da representas:ao6, o qual é abordado de maneira surpreendentemente simples na conceps:ao da matriz biológica do conhecimento de Maturana e Varela (200 1). Margutti adota o po:nto de vista des tes autores para fundamentar sua descris:ao do que seria a emulas:ao eficiente. Segundo ele, "A perceps:ao surge como a constms:ao de um mundo por parte do ser vivo dotado de sistema nervoso, a partir de estimulavoes causadas nos nervos aferentes" (2004: 3). O cooceito de "emulas:ao" vai contra a idéia de que o conhecimento se daria através de represel)tas:oes acuradas do mundo. Margutti continua dizendo que: "O importante, do ponto de vista da sobrevivencia do ser vivo, está em que este mundo constmído deve ao menos permitir interas:oes bem sucedidas com o mundo exterior." O ser vivo utiliza-se de um modelo que nao se resume a urna cópia mais ou menos acurada da realidade, e sim, a "[ ...] urna estrutura conjetural capaz de emular mais ou menos adequadamente o comportamento de urna regiao do meio ambiente." Além disso, segundo o autor, "[ ...] urna estmtura emuladora nao precisa
232
Maria Cn~<tina T. Sparano et al.
possuir isomorfismo estrutural com o objeto que ela está emulando" para ser bem sucedida. 7 Mas, supondo que o sistema nervoso nao funciona com representas;oes do mundo que nos cerca, como enUio poderia ser explicada a extraordinária eficácia operacional do homem e dos animais em sua imensa capacidade de aprendizagem e manipula9ao do mundo? A solus;ao encontrada por Maturana e Varela (2001: 32) foi a de manter uma contabilidade lógica que equivale a nao perder de vista que: "tudo o que é dito é dito por alguém." Uma mesma unidade pode ser vista em dominios diferentes, a depender das distinc;oes a serem feítas. Assim, por um lado, pode-se considerar um sistema no domínio de func ionamento de seus componentes, no ambito de seus estados internos e modifica96es estruturais. Pa1tindo desse modo de operar, para a diniimica interna do sistema, o ambiente nao existe ou é inelevante. Por outro lado, pode-se considerar uma unidade segundo suas interac;oes com o meio e descrever a história de suas inter-relac;oes com ele. Nessa perspectiva, na qua! o observador pode estabelecer relac;oes entre certas características do meio e o comportamento da unidadc, a diniimica interna desta é irrelevante. Nenhum desses dois dominios possíveis de descric;ao é problemático em si. Ambos sao necessários para o pleno entendimento de mua unidade. É o observador quem os conclaciona a partir de sua perspectiva externa. O problema comes;a quando se passa, sem perceber, de um dominio para o outro, e se comes;a a exigir que as correspondencias que podem ser estabelecidas entre eles, pois podem ser vistos ao mesmo tempo, fac;am de fato parte do funcionamento da unidade: nesse caso, o organismo e o sistema nervoso. Se a contabilidade lógica do observador for mantida de forma clara, essa complicas;ao se dissipará. Nao mais se toma necessário recorrer as representas:oes nem negar que o sistema nervoso funciona num meio que lhe é comensurável, como resultado de sua história de acoplamento estrutural.8 Como forma de ilustrar a concepc;ao da matriz biológica do conhecimento, Maturana e Varela utilizam um exemplo imaginário. Suponha-se que uma pessoa sempre vivera dentro de um submarino, sem
N(l(uralismu e coustru{'lio da •·erdade
233
nunca te-lo deixado, sabia operar todos os seus aparelhos com habilidadc. Ao aproximar-se da praia com perfci<;ao alguém lhe parabcniza por ter evitado os recifes e por ter vindo a tona com muita elegancia com manobras perfeitas. O tripulante, por sua vez, responde que nada sabe sobre " recifes" ou sobre "vir a tona," mas somente sobre "mover alavancas, girar botoes e cstabeleccr cettas rela<;oes entre os indicadores de urnas e de outros na seqücncia prescrita" (200 1: 152) . Ou seja, para o piloto do submarino, as representa<;oes de mundo feítas pelo observador externo nao sao compatíveis com as suas, o que nao afeta o modo como ele se comporta. Segundo Maturana e Varela, pode-se constituir uma analogía entre o "submarino" e os "seres vivos," sendo que estes também nao precisam compartilhar as mesmas representa<;oes do mundo externo para se comportarcm de modo satisfatório.
3. lntcrsubjetividade, cren<;a e modelos de emula~ao eficientes
Margutti (2004) entende o conhecimento como provisório e como resultado de emula<;oes eficazes. É neste sentido que a verdade, ao invés de ser " descoberta," a verdade é "construída" pelo ser vivo, dentro de um sistema de cren<;as. Diz Margutti (2004: 9) que: O caráter provisório das nossas cren9as e das teorías científicas parece um fato muito bem.estabeleciclo, que nao pode ser explicado pela no9a0 de verdade como representac;ao acurada do reaL Com efeito, se alcanc;armos algum día uma represen1a9ao desse tipo, e la terá de ser definitiva e nao poclerá ser suscetível de qualquer correc;ao, contradizendo esta constatat;:ao.
De ac01·do com a no<;ao de provisoriedade do conhecimento, a validade de uma teoría está atrelada ao seu poder de emula<;ao. Coisa semelhantc poderia ser dito de uma teoría cientíi'ica qua lquer, como a mecanica newtoniana, o marxismo ou a psicanálise. Elas nao constituem cópias mais ou menos acuradas da realidade, mas sim estruturas emuladoras desta mesma realidadc, com diferentes graus de sucesso.
234
Maria Cristina T. Sparano et al.
O mesmo se daría em todos os ambitos do fazer humano, entre eles, a arte e a lógica . Para se pensar um modelo de emulas:ao eficiente no caso da arte, pode-se recorrer ao pcrsonagem que, rivalizando com Édipo, mais possibilitou análises, interprcta¡yoes, lcituras, montagens, cursos, discussoes, e servirá, inclusive nestc caso, como ilustra¡yao para o modo como se constrói e se validada urna verdade: Hamlet, o melancólico príncipe da Dinamarca. "Ser ou nao ser, cis a questao." É interessantc notar que esta tao famosa e antiga pergunta levantada por Hamlet continue tendo um lugar de grande destaque na cultura ocidental. Contudo, nao parece ha ver nada de inédito numa história sobre a cólera de um nobre que ve seu legado amea9ado por um usurpador e precisa vingar-se. Os historiadores nao cansam na sua tarefa de afirmar isso, mostrando semprc de ondc veio a idéia original de Shakespeare e como ele por duas vezes articulou a mesma idéia. Mas a personalidade de Hamlet (final e nao do seu primeiro Ur-Hamlet)9 vive o dilema por um lado, sua posiyao de príncipe e, de outro lado sua condi¡yao de sujeito, falível e nem um pouco nobre . Talvez esta personalidade, ela m esma tenha revelado com a obra uma outra dimensao do "humano. " Hamlet emula eficientemente uma característica muito particular presente na sociedade, a saber, a dúvida entre o dever m oral e o dcsejo individual. Hamlet extrapolou as inten¡yoes de seu criador. Assim como todo o conhecimento verdadciro e eficiente, perdurou além do que scu engendrador poderia prever. H arold Bloom, um dos mais reconhccidos estudiosos da obra de Shakespeare, define da seguinte mancira a importancia de Hamlet: [ ... ] Hamlct está para os outros personagens literários assim como Shakespeare está para os outros autores: uma personalidade única, diferenciada pela grandeza cognitiva e estética. O príncipe e o poetadramaturgo sao os genios das transforma¡yoes. Hamlet, como Shakespeare, é agente e nao instrumento d e transfom1a¡yoes ( 1998: 513 ).
Naturalismo e constru{:áo da verdade
235
A maneira como o humano é expresso através do personagem Hamlet parece ser um caso muito bem sucedido de emulayao, tanto que faz a obra de Shakespeare perduJar durantes séculos como uma das obras artísticas mais importantes da cultura ocidental. Isto se deve, em grande parte, ao que Harold Bloom (1998) chamou de "invenyao do humano," pois, segundo seu ponto de vista, Shakespeare foi responsável pela inven.yao da maneira como se compreende o humano contcmporaneamente, como um ser em constantes conflitos, um ser contraditório que vive a tensao da luta entre seus desejos e seus deveres morais. Se de um lado a tragédia é capaz de emular tao eficientemente o que seria "o humano," no outro extremo tem-se, em um grau muito maior de generalidade, a Lógica. Isto porque a Lógica é um modelo que, a exemplo de outros, tem sua validade na interayao bem sucedida com o meio, nao querendo dizer com isso que este modelo espelhe a estrutura do real. Margutti (2004: 12) propoe mna compreensao da Lógica como sendo um modelo emulador extremamente eficaz, o que é contrário a mna visao apriorística da Lógica, como sendo um reflexo de uma verdade já dada. O autor explica que: É certo que a implica<;:ao material funciona porque preserva a verdade. Mas este fato fica muito mell10r explicado se supusennos que a verdade que ela preserva é emula<;:iio e nao espelhamento ontológico. Além disso, o apelo a implica<;:iio material incluí uma série de conseqüencias mais ou menos indesejáveis, como, por exemplo: a) uma proposi<;:ao verdadeira é implicada por qualquer proposis;ao; b) uma proposi<;:ao falsa implica q ualquer proposi<;:ao; e) se uma proposi<;:ao é verdadeira, entao a disjun~ao entre ela e outra proposi<;:ao qualquer é também verdadeira (se p, entao ou p ou q - lei de adis;ao). Sabemos que essas propriedades nao sao em si mesmas paradoxais, pois nao passam de conseqüencias da ado<;:ao do operador de Filo. Sabemos também que , apesar dos pesares, elas funcionam adequadamente nos sistemas formais que as adotam.
O "ser ou nao ser" de Hamlet admite a contingencia de suas reflexoes, assume a verdadc do nao ser . Hamlet aceita a apari.yao de um fantas-
Maria Cris rina T. Spara110 el al.
236
ma, fatos observáveis, a expressao de culpa do tio, a sua própria rcflcxao dolorosa como eventos de mcsma significa~ao. Todos tem o mesmo estatuto. E indiscernívcl o qu e o move, embora na maioria das vezes esteja paralisado. Shakespeare desvia-se do modelo trágico nao só por inserir cenas de comédia a suas tragédias mas também ao centralizar a peya nao mais em dilemas indissolúveis como Olimpo/Pólis, Homens/deuses, mas também por centrar sua narrativa no caráter do personagem, nao mais na sua sortc ou des6no. Hamlet refletc, pondera, e de tanto buscar a verdade nao age. Paralisa diante das possibilidades e das conseqüéncias de scus atos, e por isso, todo um reino padece. Se o grande personagem de Shakespeare nao tivesse considerado que: ou se é assim, ou nao se é assim, ou seja, se ao contrário de urna disjunyao, o personagem apresentasse uma como "Ser e nao ser," nao havcria quesU'io, nem dúvida. O personagem teria uma resposta, teria encontrado uma verdade definitiva. Diante da mesma experiencia, ele pode "ser ou nao ser." Se nosso poeta dramaturgo nao tivesse assim construído Hamlet, provavelmente, sua personalidade nao tivesse sido tao atraentc. Talvez Hamlet nao servisse a grandes fin s, ou talvez mesmo nao teria sobrevivido até o terceiro ato.
4.
Co ns idera~oes
finais
Após s~rem apresentados conceitos como "emula~ao," "contabilidaqe lógica," "constituiyao anatómica do significado," "meio ambiente," "objeto fisico," "unidades autopoiéticas," conceitos imprescindíveis para a compreensao da perspectiva naturalista de constru9ao da verdadc, toma-se possível aproximá-la das consideras:oes davidsonianas sobre a justificas;ao da verdadc. Segundo Davidson: "Deixando de lado os casos aberrantes , o que mantém unidos, verdade e conhecimento é o significado. [ ... ] Meu lema é: correspondencia sem confrontas;ao. Dada uma epistemología carreta, podemos ser realistas." 10 (1992: 73-4)
Naturalismo e cunslrll(;c7o da \'erdade
237
Segundo Davidson, a justifícayao de uma cren9a se dá num sistema de cren9as e cm tennos causais, onde toda conexao causal é ordinária e contingente mas também observável e extrínseca (e também lógica). Além disso, para ele: Se a coen!ncia é uma prova da verdade, a conexao com a epistemologia é direta, já que temos razocs para pensar que muitas de nossas cren9as sao coerentes com outras, o que por sua vez nos proporciona razoes para pensar que muitas de nossas cren9as sao verdadeiras. 11 (1992: 79.)
A construyao da verdadc depende do acordo entre os falantes. Ao compartilharem uma mesma cren9a, a tornam verdadeira. Sendo assim, para a perspectiva naturalista, a verdadc nao é ideológica, metafísica ou bascada em imagens, muito menos dada a priori. 12 Assumir tal postura exige uma mudan9a significativa no modo como se pensa tradicionalmente a quesü'ío da verdade. Nao sao incomuns as rearyoes de desconforto de alguns frente a impossibilidade de um acesso "puro" e " neutro" do que convencionalmente se chama "rcalidade." S usan Haack percebe este fato com destreza ao afirmar que os cientistas boje possuem "[ ... ] urna profunda intolerancia coma incerteza e uma falta de vontade em aceitar que menos perfeito é bem melhor do que rigorosamente nada."
. Referencias Bibliográficas Bloom, H . 1998. Shakespeare: a invem;:iio do humano. Río de Jane iro: Objetiva. Davidson, D. 1992. "Uma teoría de la coherencia." Mente, mundo y acción. Barcelona: Paidós. Dewey, J. 1958. Experience and Nature. Citado inQuine W. V. (1969) Relatividade Ontológica e Outros ensaios. In Cole9ao os Pensadores. Sao Paulo: Abril.
238
Maria Cris1i11a T. Sparana el al.
Haack, S. A espera de uma resposta: O processo desnorteado de !alear a verdade. In : http ://www.cfh .ufsc.br/-wfillhaack. htm Margutti Pinto, P. R. 2004. Lógica e Linguagem. [Texto apresentado no Xl 0 Encontro de Filosofia da ANPOF, Salvador, Bahia]. Martinitb, A. P. 2002. Ensaio Filosófico: o que é, como se faz. Sao Paulo: Loyola. Maturana, H. 1990. [Aula de encerramcnto do curso Biología delConocer, Universidad de Chile, em 27 de julho]. In http: www.profrios.hpg.ig.eom.br/htm/artigos/o_que_e_ ensinar Maturana, H. R. e Vareta, F . J. 2001. A árvore do conhecimento: as bases biológicas da compreenséio humana. Sao Pauto: Palas Athenas. Quine, W. V. 1995. Filosofia e Linguagem. Porto: Asa. Quine, W. V. 1969. " Relatividade Ontológica." Relatividade Ontológica e Outros ensaios. Cole9ao os Pensadores ( 1980) Sao Paulo: Abril Cultural. Quine, W. V. 1960. Word and Object. Cambridge, Mass: The MIT Press. Sellars, J. 1963. "Empiricism and the Philosophy ofMind.' Science, Perception and Reality. Londres: Routledge and Kegan Paul/Nova York: Tbe Humanitics Press.
Prof. Dra. Maria Cristina Sparano, Eduardo Viccnzi (mestrado em lingüística, UFPR) Silvia Maria Monteiro e Patricia Pereira (gradua9ao cm Filosofia, UFPR)
Naturalismo e Collstnu;tio da l'erdode
239
Notas 1
Este artigo é fruto do trabalho realizado no primeiro semestre de 2005 pelo Grupo de Pesquisa do em Filosotia e Psicamílise (CNPq), coordenado pela Prof. Dra. Maria Cristina Sparano. 2 Estas distinyoes podem ser encontradas em Martinith (2002). 3 Nol(iio de "objeto físico num mundo físico." Cinco marcos do empirismo in Quine (1995). 4 A perspectiva naturalista da linguagem renuncia a imagem do discurso como museu, onde as palavras e sentenvas de urna linguagem tem seu significado detenninado, ou seja, como tendo garantía de detenninayao. Para o naturalismo, segundo Quinc ( 1969) a pergunta sobre se duas expressoes sao sernelhantes ou nao quanto ao significado só tem urna resposta detenninada na medida em que tal resposta é decidida ern principio pelas disposiyoes das pessoas ao discurso, conhecidas ou desconhecidas. Quine ainda diz que, Se, por estes padroes, há casos indetenninados, tanto pior para a terminología do significado e da semelhanva de significado. 5 Vide o "caso Gavagai," em Quine (1969: 141). 6 Tem-se neste trabalho " representayao" no sentido pragmático, onde equivale a noyaO de construyiiO. Nesta perspectiva, cabe a cogni<;:iio construir ou representar o mundo, como um mapa representaría uma cidade. Nao se aceita o sentido radical de representaviio em que um sistema atua confom1e representavoes intemas. Nessa lógica realista, a cognivao representa as características de um mundo pré-estabelecido e, depois, resolve problemas com base nessas representa96es. Maturana e Varela (2001) assimilam a crítica de que a "autopoiese" substituiu a noyiiO de representaviio por uma alternativa fraca: o externo como mera perturbaviio. Essa substituiviio pode levar a uma interpreta<;:iio solipsista, ao se considerar perturba9ao aparte de "regularidades emergentes de urna história de interavoes" do organismo. Para e les, o domínio cognitivo nao se constituí nem intemamente (q que autorizaría o so1ipsismo), nem extemamente (o que autorizaría o pensamcnto representacionista tradicional), mas se constirui a partir da reciprocidade histórica, que passa a ser "a chave de uma co-defini9ii0 entre sistema autónomo e meio." Os autores chamaram esse ponto de vista de "enavao." Para a perspectiva enacionista, a cogniviio é urna atuaviio, ou seja, uma história de acoplamentos estrururais cujo efeito sistemico é a produvao de um mundo. 7 Para mais, ver Margutti (2004: 8), ao apresentar o exemplo do computador Deep Blue (que emula o comportamento de um enxadrista humano). 8 A unidade de um ser vivo é dada pelo conjunto da sua estrutura química e relacional (nao viva) com a s ua "organizavao." O processo que viabiliza a organizayiio metacelular maniendo as interayocs entre células individuais
240
Maria Cristina T. Spm·ano el al.
através da história é chamado por Vareta e Maturana (2001) de "acoplamento estrutural." O acoplamento estrutural leva organiza~oes e estruturas de uma ordem de complexidade e autonomia até níveis mais elevados, que aumentam a conserva~ao da existencia do ser vivo. 9 Shakespeare, antes de montar a versao de Hamlet como do modo como é conhecida, havia escrito mua mesma tragédia tratando deste personagem. 10 Tradu~ao dos autores. 11 Tradu~ao dos autores. 12 Para mais, ver Sellars (1967).
1
A estrutura lógica do diagnóstico hipocrático Regina A. Rebollo Universidade de Siio Pauto
¡ Aprescnto e comento neste trabalho os elementos que compoem a estrutura do diagnóstico médico relatados nos tratados que compoem o Corpus hippocraticum (CH), em especial no Sobre a dieta nas doem;as agudas, em Predir;oes 1 e ll, no Prognóstico e no Epidemias. Ao receber o doente em sua oficina (iatreion) ou visitá-lo em casa, o médico hipocrático segue, com maior ou menor rigidez, um modelo de conduta técnica e ética previamente estabelecidos. O encontro médico-paciente, o qua! eneerra o ato clínico propriamente dito, tem por objetivo conhecer o doentc e sua doenya para o estabclecimento de um programa terapeutieo. Diagnosticar para os médicos do Corpus Hippocraticum é reconhecer a doenya, identificá-la. O verbo diagign6skein que dá origem ao termo diagnosis pode ser traduzido por "discernir," "distinguir" ou ainda por "eonhccer e reconheccr atravessando ou percorrendo." O diagnóstico nao é o propósito principal do médico hipocrático. Ele é tao somcnte uma ferramenta para a elaborayao do prognóstico, meta ou objetivo primeiro da clínica hipocrática. O juízo diagnóstico diz qua! é a doenya; o juízo prognóstico conjectura sobre o que ocorrerá com o doente. A obtenvao do diagnóstico permite ao médico hipocrático a claboravao do prognóstico, num certo sentido, verdadeira demonstrayao de um saber especializado e prova de maestría e controle da doenya. É preciso lembrar que o médico hipocrático é antes de tudo, um technites, um a1tesao da arte de curar. Para tal médico o verdadeiro diDutra. L. H. de A. e Monari. C. A. (orgs.). 2005. Epis{(:mulugia: Auais do 11' Simpusw luterna· ciunal. Principia- Parle l . Florianópolis: NELIUFSC, pp. 2-l l- 248.
242
Regina A. Rebollo
agnóstico é um prognóstico, urna vez que a arte de curar nao se restringe ao plano do conhecimento ou saber teórico (episteme), mas é urna técnica (techné), um saber fazer de grande repercussao social e que em última instancia garante a boa reputa¡yao do médico e a continuidade de seu trabalho (Rebollo 2003). O diagnóstico hipocrático é também urna expressao da philia entre o médico, o doente e a natureza, isto é, um tipo de amizade técnica que surge no ato ou encontro clínico entre o médico e o paciente e que se realiza por meio de urna explorar;ao sensorial e lógica que redundará no juízo diagnóstico, cujo resultado final é o conhecimento ou a identificar;ao da doenr;a. Além disso, o diagnóstico hipocrático é fundamentalmente urna atividade sensorial-cognitiva. No entanto, ele se opoe a simples empeiría ou conhecimento empírico comum, porque apresenta a radio do "por que o médico faz o que faz" ou age de tal forma. No sentido aristotélico, o médico desvela por meio do diagnóstico o lagos oculto da natureza (physis) e tal desvelamento implica numa demonstra¡¡:ao das causas ou razoes dos diversos estados fisiológicos. Ao longo do CH quatro instancias teóricas (que correspondem no plano ontológico a quatro "camadas do ser") explicam a fisiología da saúde e da doen¡¡:a. Pela ordem de sua detennina¡¡:ao causal: ( 1) a instancia exterior maior, o ambiente (esta¡¡:ao, temperatura e clima) e a geografia (regiao, cidade, moradia); (2) a exterior menor, o temperamento do paciente (idade, sexo, peso e complei¡¡:ao); (3) a camada interior, os humores e por fim (4) a exterioriza¡¡:ao (sinais e síntomas) do dinamismo ou estado dos humores (elementos e dynameis). Quatro camadas do ser ou instancias teóricas: a exterior maior, o ambiente (esta9iio, temperatura e clima) e a geografia (regiao, cidade, moradia) a exterior menor, o temperamento do paciente (idade, sexo, peso e complei9iio) a camada interior, os humores e a exterioriza9ii0 (s inais e síntomas) do dinamismo ou estado dos humores (elementos e dynameis) (4 reflete 3)
A esrrurura lóg ica do diagnósrico hipocrárico
243
O processo diagnóstico será feíto levando-se em considera9ao tais camadas no sentido inverso de sua determina9ao, ou seja, de baixo para cima. Ele tem início com uma explorayao sensorial: (i) o médico hipocrático verifica se o aspecto ou a aparencia do paciente pode ser caracterizado como morboso, isto é, se a physís do paciente está alterada pela physis da doen9a; (ii) em seguida, o médico analisa a natureza dessa alterayao, se ela pertence a uma necessidadeforc;osa (ananke') ou é ocasional (tyché); (iii) após os dois primeiros passos, o médico busca cstabelccer o ''logos da doenya" partindo de uma leitura constituída de quatro elementos: o aspecto ou a aparéncia do doentc e da doens:a (katástasís, trópos, idée); a explicayao da katástasís cm humoral, elemental ou dinamica; a ordena9ao no tempo e a causa etiológica. Após a investiga9ao dos tres elementos logo acima apontados, o médico pode proferir o diagnóstico (que é uma demonstra9ao do interrelacionamento das quatro camadas) e em seguida o prognóstico. Etapas do processo diagnóstico Sao ou doente?
Ananké ou tyché?
Katástasis, tropos e eidos
Explicas;ao da katástasis em humoral, elemental ou dinamica Ordenas:iio temporal da katástasis
comparas:iio dos sinais e síntomas para a verificas;iio das anormalidades presentes. necessidadeforr;osa (ananké) ou ocasional (t);ché). O médico deve conhecer os sinais das doens;as ou estados fatais para abster-se nos casos incuráveis, pois em tais casos ele nao deve intervir. Sinais observados e síntomas relatados; espécie morbosa ou tipos de adoecimento; variedades típicas das espécies morbosas, forma da doenr;a no sentido de forma clínica. humores, elementos e qualidades/dynameis
crueza, cocs;i'io e resolus;ao ou crisis
244
Regina A. Rebollo
Detenninayiio causal
duas causas aitia, urna externa, o ambiente e outra dispositiva, o terreno; e urna causaprophasis, a imediata, considerada o fator desencadeante.
Vejamos cada um dos elementos separadamente: (i) O médico hipocrático verifica se o aspecto ou a aparencia do paciente difere do seu aspecto e aparencia normais. Aqui a observayao é feíta comparando-se sinais e síntomas e verificando-se as anormalidades presentes. É um exame das semelhanyas e diferenyas entre os estados de saúde e doenya (ef. o exemplo da descriyao da facies hipocrática em Prognóstico 2). (ii) em seguida, o médico analisa a natureza dessa alterayao, se ela pertence a urna necessidade forr;osa (ananke') ou é ocasional (ryché). As doenyas mortais e incuráveis pertencem a ordem da necessidade, e aqui nada pode ser feíto, pois contra a physis universal nenhuma arte é capaz de intervir ou alterar. O médico deve conhecer os sinais das doenyas ou estados fatais para abster-se nos casos incuráveis, pois em tais casos ele nao deve intervir, sob pena de ser considerado incompetente (cf. Sobre a arte médica). As doenyas evitáveis e govemáveis em geral sao doenyas do acaso. No CH a classificayao das doenyas é feíta da seguinte maneira: existem doenyas tongas e mortais; Iongas e sem perigo; agudas (curta durayao) e m01tais; agudas e sem perigo. (iii) após os dois primeiros passos, o médico busca estabelecer o "logos da doenya" partindo de urna leitura constituida de quatro elementos: l. o aspecto ou a aparéncia do doente e da doenya (katástasis, trópos, idée); 2. Explicayao da katástasis em humoral, elemental ou dinamica; 3. a ordenayao no tempo e 4. a causa etiológica (cf Entralgo, 1982). O aspecto ou a aparencia do doente e da doenya é constituído pela katástasis: aquilo que pode ser observado no doente. Os sinais observados e os síntomas relatados ou o quadro sintomático ocasional de
·-
A estmwmlúgica do diagnóstico llipocrático
245
cada e idos, por exemplo, febre baixa 3 7,5°constantes, obtidos por meio da observaryao e da anamnese; o eidos: a espécie morbosa ou o tipo de adoecimento, por exemplo, tuberculose, construido a partir da analogía indutiva que pressupoc um catálogo dos tipos de adoecimento; o tropos: variedades típicas das espécies morbosas ou forma da doem;a no sentido de fonna clínica, por excmplo, o modo febril , obtida a partir de urna analogía indutiva ou das semelhanc;:as entre os pacientes. Seis pontos de observa~ao servem para o estabelecimento das semelhanc;:as : sintomático; patocronicidade (docnc;:as agudas ou crónicas); topográfico ; etiológico (mesma causa); prognóstico (desenvolvimento temporal futuro) e constitucional (terreno) (Entralgo, 1982). A explicac;:ao da katástasis ao tongo do CH teve tres tipos de tratamento distinto: uma explicac;:ao humoral, concebida como a ausencia de harmonía entre os humores (sangue, fleugma , bílis amarela e bílis negra) ou a sobreposic;:ao de um deles sobre os outros; a elemental, como um desequilíbrio causado pelas partículas elementarcs que compoem os humores; e a dinamica, como um desequilíbrio entre as qualidades ou dynameis dos humores. A ordenac;:ao no tempo buscava a observac;:ao da aparencia visível de um estado ocasional da physis do doente no curso temporal. A doenrya foi dcssa maneira concebida como um processo com comec;:o, mcio e fim, ou crueza, cocr;iio e resolzu;:iio, a famosa crisis da medicina medieval-galenica. Um dos sentidos do diagnóstico era a ordenaryao (temporal) racional da docnc;:a. A determinac;:ao causal da doenrya era feita considerando-se dois tipos de causa: a ailia, causa geral, externa e dispositiva (terreno) e a prophasis, causa concreta, imediata e próxima (causa desencadeadora da doenc;:a). No CH tres causas gerais sao apontadas como geradoras das doenc;:as: duas aitia, urna externa (o ambiente) e outra dispositiva (o terreno); e uma prophasis, a causa imediata, considerada o fator descncadeante das doenc;:as. Os recursos utilizados pelo médico hipocrático na obtcnc;:ao do diagnóstico foram ( 1) os sentidos (aísthesis), (2) a comunicaryao verbal
246
Rcgi11a A. Rebullo
(lagos) e (3) o raciocínio (logismós). Quanto a explora9ao sensorial, no Sobre a dieta lemos que com os o lhos, o ouvido, o nariz, a língua, a boca, o tato e as vías do pneuma [o hálito], o médico chcga aoconhccimento da doenya. A cxplorar;ao sensorial permite a reconstrur;ao dos fenómenos observados na physis individual do doentc e na physis universal (isto é, as camadas acima apontadas). Quanto a comunica<;:ao verbal ou o uso da palavra, a anamnese é ao mesmo tempo reconstru<;:ao histórica e temporal dos sinais e síntomas e diálogo explicativo, cuja fun<¡:ao social faz parte da ética e da conduta médica hipocráticas . Diagnosticar é explicar o estado do paciente para ele e sua familia e estabelecer um vínculo de compromisso entre eles. Urna espécie de colabora<;:ao conscicntizada da situa9ao. Por último, o raciocínio (logismós) ou a experiéncia razoada explicados da scguinte fom1a: a katástasis (caso singular de um eidos e um tropos) e o entorno cósmico ou o ambiente (fatos ou fenómenos observados pelos cinco sentidos) funcionam como urna base de dados sensoriais; a atcn<¡:ao e a mcmória do médico sao dirigidas para a compara<¡:ao ou analogía com casos semelhantes. Dois tipos de memória sao utilizados no processo: a memória própria do médico, adquirida a partir de sua experiencia pcssoal e a memória alheia ou coletiva da comunidadc de médicos, na forma de descri<;:ao oral ou escrita de um mestre. O raciocínio: logismós ou experiencia razoada. katástasis como base de dados sensoriais
a atenc;ao e a memória do médico sao dirigidas para a comparac;iio ou analogía com casos semelhantes.
Seis pontos de observac;iio para o estabclecimento das semelhanc;as: sintomático; patocronicidade (doen~as agudas ou crónicas); topográfico ; etiológico (mesma causa); prognóstico (desenvolvimcnto temporal futuro) e constitucional (terreno). a memória própria do médico, adquirida a partir de sua experiencia pessoal e a memória alheia ou coletiva da comunidade de médicos, na
247
A estrutura lógica do diagnóstico hipocrático
fonna de descri¡yao oral ou escrita de um mestre.
Na passagern VI do Epidemias o autor nos explica o processo da scgtlinte forma: Fa¡ya-se um resumo da genese e do início da doen¡ya, de sua aphorme [ponto de partida, oportunidade], e mediante múltiplos discursos e explorayoes minuciosas, reconhecem-se as semelhan¡yas entre si, e logo as diferen¡yas entre as semelhanc;:as, e por fim novas semelhan¡yas entre as diferen¡yas, até que destas resulte uma semelhan¡ya única: tal é o caminho.
Interpretando tal passagem ternos quatro passos essenciais do raciocínio lógico: l 0 ordenar;:ao dos sin tomas numa katástasis 2° comparavao com outras katástasis 3° estabelecimento das semelhan9as e difercnr;:as 4° explicar;:ao da observar;:ao sobre o doente, a docnr;:a e o entorno ambiental Os médicos de Cós e Cnido, desde o século V a.C., procederam a urna catalogar;:ao minuciosa das observa¡;:oes dos sinais e síntomas de urn número significativo de doentes, com isso realizando urna taxonomía das doen¡;:as humanas que serviu até os primórdios do século XVIII como modelo d~ obscrvavao clínica. A compara¡;:ao entre os quadros sintomáticos e o estabclccimento das semelhanr;:as e diferenr;:as inaugura o processo indutivo que dará respaldo a um conhecimento preditivo e, portanto, terapeutico, considerado base da clínica médica. Por fim, a explicar;:ao da observar;:ao sobre o doente, a doen¡;:a e o entorno ambiental, meta do diagnóstico e do prognóstico hipocrático coroa o raciocínio ou a sua lógica, dando prava de conhecimento e maestría do médico hipocrático.
248
Regina A. Rebollo
Referencias bibliográficas Entralgo, 1982 (1970]. P. L. La medicina hipocrática. Madri: Alianza Universidad. Gourevitch, D.; Gnnek, M. e Pellegrin, P. 1994. De /'artmedical de Hippocrate de Cos. Paris: Libra1ie Général Franyaise. Gua!; Nava; Férez e Alvarez. 1983. Tratados Hipocráticos. Trad., introd. e notas de C. G. Gual; M. D. L. Nava; J. A. L. Férez e B. C. Alvarez. Madri : Gredas (B iblioteca Clássica Gredos.) Jones, W. S. 1992 [ 1923]. HIPPOCRATES. Trad., introd. e coment. de W. S. Jones. Londres: Harvard University Press, 2 v. (The Loeb Classical Library.) Jouanna, J. 1992. Hippocrate. Paris: Fayard Jouanna, J. e Mag nelaine, C. (orgs.) 1999. Hippocrate: l 'art de la médecine. París: GF FlammarioJJ. Littré, E. 1839- 1861. OEuvres cotnpletes d'Hippocrate. Trad., introd. e notas de E. LITTRÉ. París: Baillere, 10 v. Sobre a dieta nas doem;as agudas;Predit;:oes 1 e 11; Prognóstico; Epidemias. Lloyd, G. E. R. 1978. Hippocratic writings. G. E. R. Lloyd (org.) Harmondswoi1h: Penguin. Lorenzana, C. J. 1988. La Estructura del conocimiento científico. Buenos Aires: Zavalia Editor. Rebollo, R. A. 2003. "Considerayocs sobre o estabelecimento da medicina no tratado hipocrático Sobre a arte médica." Scientice Slftdia 1 (3):275- 97. Vegetti, M . 1976. Opere di lppocrate. Trad., introd. e notas de M. Vegetti. Turin.
Regina Andrés Rebollo Pós-doutoranda, Dcpto. Filosofía F.F.L C.H.IU.S.P. hani ger@usp.br
A natureza da linguagem na filosofia de Nietzsche e su as convergencias com o nominalismo Renato Nunes Bittencourt Universidade Federal do Rio de Janeiro
Introdu~ao
Usualmente se considera PlaHio como um dos grandes filósofos a iniciar uma proposta de reflexao sistemática acerca da natureza da linguagem, considerada nas suas mais importantes possibilidades de investigas;ao, tais como a relas;ao entre a palavra denominadora e o objeto denominado, o estudo da etimología dos nomes, dentre outras questoes afins. Confonne veremos ao longo da presente exposis;ao, a conceps;ao platónica se caracteriza por preconizar a existencia de um vínculo intrínseco entre o objeto existente e o nome pelo qua! se intitula o mesmo, de modo que a linguagem, segundo essa perspectiva, teria a plena capacidade de representar satisfatoriamente a essencia das coisas. Após Platao, Aristóteles se dedicaría também a investigar, nalguns dos seus tratados de lógica, a quesUio dos conceitos aplicados as coisas com as quais nos deparamos na ex¡:Mlñ~ipostcrionncnte, ao longo da Idade Média, ocorreria a célebre "qucrela dos universais," 1 o polemico embate teórico entre os defensores de diversas perspectivas acerca da natureza das Idéias (conccitos) e, por conseguinte, das palavras: realistas (platónicos e aristotélicos); conceitualista s2 e nominalistas. 3 Podemos considerar que csse polemico conflito de opinioes e hipóteses, que nao obteve historicamente qualquer vencedor, serviu consideravelmente de estímulo de para as reflexóes sobre a natureza da linguagem e da sua amplitude dcscritiva realizadas por um dos mais Du tra. L. H. de A. e Mortari. C. A. (o rgs. ). 2005. t¡Jistemo fugia: Anais do 11' Simptisio fnten l(l· ciunal. Principia - Parte 1. Florianópolis: NELIUFSC. pp. 249 266.
250
Reno/o Ntmcs Binencourl
importantes fllósofos do período moderno, Nietzsche. Ao se propor a contestar os grandes temas metafisicos da teoría platónica, sobrctudo o problema da divisao entre o mundo scnsível e o mundo inteligível,4 Nietzsche, obviamente, nao deixará de se opor aos fundamentos da perspectiva platónica acerca da linguagem, decorrcnte justamente da comprccnsao metafisica de mundo. A crítica de Nietzsche em relas;ao a esta referida conceps;ao consiste na defesa da tese de que as palavras e a própria cstrutura da linguagem nao represcntam uma esscncia intema, subsistente por si mesma, independente, portante, do próprio ser humano. Dcssc modo, ao pretender destruir os alicerces teóricos daquilo que denomina como a " metafísica da gramática", Nietzsche irá considerar que a linguagem é urna mera convens;ao humana, desenvolvida para facilitar o domínio do homem gregário sobre a natureza; mais ainda, que as palavras sao apenas títulos, denominas;oes concedidas aos objetos para que se possa evitar a desordem dos discursos, sem que exista, no entanto, qualquer correspondencia lógica entre palavra e objeto, tendencia essa que aproxima o filósofo da teoría nominalista da linguagem, conforme veremos ao longo deste texto. Nietzsche causa grande inquietas;ao entre os defensores do realismo da linguagem ao considerar que, se as palavras e o aparato da linguagem nao possuem a capacidade de expressar a totalidade das coisas, as suas essencias formais, nao se poderia conceder ao estatuto da verdade um caráter atemporal, absoluto, mas somente urna axiologia condicionada pelas necessidades humanas e circunstanciais, relativas ao conjunto de valores e idéias que constitu~m a visao de mundo do grupo dominante que estabelece os códigos lingüísticos. Desse modo, como superas;ao da teoria do realismo da linguagem na aceps:ao da metafísica platónica, Nietzsche propoe o desenvolvimento de uma espécie de perspectivismo nominalista da linguagem, considerando que, urna vez que os códigos lingüísticos que utilizamos sao convencionais, nao poderíamos falar sobre temas tais como discursos incontestáveis ou verdades absolutas, mas apenas sobre interpretas;oes particulares e singulares de dados eventos, de acorde com a perspectiva valorativa empregada pelo indivíduo que busca o conhecimento.
A nature;:a da linguagem na jilosojia <le Nietzsche
Linguagem,
conven~ao
251
e verdade
De acordo com a interpretayao de Nietzsche, a linguagem seria mais uma das criayoes históricas elaborada pelo homem, a patiir do momento em que este abandona a vida nómade, marcada pela constante movimentayao por territórios, passando entao a se estabelecer em locais rígidamente circunscritos. A linguagem se desenvolve, nos seus primórdios, para tomar possível o estabelecimento de relayoes sociais que ampliassem o poder de ayao do próprio homem, o qua!, nesse momento, se encontrava inserido num meio ambiente terrivelmente desconhecido, que requería, para sua melhor dominayao, o aprimoramento das suas relayoes de foryas. Desse modo, em nome de sua conservayao, o homem se encontrava na extrema necessidade de estabelecer diálogo com os demais homens que deparava ao seu redor. Esse diálogo, por sinal, deveria partir de um fio condutor comum, de maneira que todos os membros envolvidos nessa redc de contato tivessem a possibilidade de compreender adequadamente os signos lingüísticos pronunciados. Para tal finalidade, esses homens estabeleciam denominayoes para as coisas a partir de seus próprios critérios valorativos, critérios esses que, segundo as investigay6es de Nietzsche acerca da problemática da linguagem, nao obedeceriam a um parametro lógico de cunho impessoal, independente da própria intervenyao humana no ato de criayao dos conceitos. A existencia desses signos, potianto, dependía diretamente d~ arbitrariedade da classe dos indivíduos legisladores que desenvolviam essa relayiio artificial entre objeto e denominayao, desprovida de qualquer correspondencia real entre ambos. A leitura nietzscheana acerca desta questiio salienta que, no período da fonnayao das primeiras organizayoes sociais, para que estas pudessem ser dcscnvolvidas adequadamente, necessitavam do cstabelecimento desse código de linguagem compartilhado entre os membros de um espayo social comum. Podemos entiio dizer que o caráter gregário do ser humano e a fonnayiio primitiva da linguagem seriam
252
Ren(l(o Nunes Bi11encour1
eventos praticamente simultaneas, uma vez que cada um surge e se fundamenta em fun9ao do outro. Por mcio da cxplana9ao precedente, podemos esclarecer a polemica que surge em torno da possibi lidade da palavra, do signo lingüístico, representar adequadamente a essencía do objeto designado. Conforme díto anteríonnente, Nietzsche considera que a palavra surge em decorrencia da necessidade de se suprir urna carencia humana, sendo desenvolvida por meio do artificio do intelecto como maneira de se estabelccer um nível de contato que favore9a a associa9ao dos homens, cm prol de um objetivo comum, a conserva9ao da própria existencia. 5 Afina!, ligados entre si pela linguagem, os borneos inseridos na vida em sociedade se tornam aptos a empreender a96es que contabilizam o somatório de for9as da coletividade, situa9ao essa que favorece a supera9ao das adversidades cotidianas. Associados mutuamente, esses homens adquiriam a capacidade de vencer os problemas impostos por urna natureza, a qual, considerada na limitada compreensao individual, se manifesta como hostil. Por conseguinte, podemos dizer que a linguagem é um dos principais meios de coesao de um grupo, posto que, por meio dela, os membros de uma sociedade se agregam em tomo de um espa9o fisico comum, garantindo assim a cria9ao de valores culturais intrínsecos aos membros dessa comunidade. De acordo com as coloca96es precedentes, podemos entao afirmar que uma dada linguagem nao possuiria, de forma alguma, um caráter independente da experiencia, pois cada estrutura lingüística se desenvolve mediante circu~stancías específicas, referentes as peculiaridades históricas relativas ao modo de ser de um povo e de sua respectiva fom1a9ao cultural. Ao defendermos essa perspectiva, elevemos ressaltar que a hipótese de existencia de uma pretensa universalidade da linguagem cai por tena, pois cssa perspectiva nos leva a considerar que a linguagem surge de mna raíz comum, da qual se derivaría todos os demais códigos, negando assim a singularidade das diversas estruturas da linguagem elaborada a partir do contato do homem com o mundo. Urna vez que a linguagem nao possui esse grau de universalidade, conseqüentemente, ela também nao pode ter a capacidade de representar a essencia dos objetos, o sentido lógico e
A uature:a da liug uagem na jilusujia de Nil•t::sche
253
representar a essencia dos objetos, o sentido lógico e preciso das coisas, pois, existindo a pluralidade de línguas, e apenas uma suposta esscneia das coisas, dever-se-ia postular que somente uma determinada linguagem poderia ter a capacidade de representar adequadamente cssa essencia, concep9ao essa que seria um grande absurdo. Desse modo, a linguagem podcria apenas servir de denom ina9ao externa em rclayao a um dado objeto. Por eonseguiote, podernos refutar a tese que defende a universalidade apriorística da linguagem, a partir do momento que nos damos conta da existencia de uma multiplicidade de estruturas lingüísticas, desenvolvidas historicamente segundo possibilidades particulares de cada sociedade. Se porventura acreditarmos que urna dada Iinguagcm possui a capacidade de representar a essencia das coisas, capacidade essa que negamos as demais, poderíamos nos perguntar: qual critério devemos utilizar para afim1ar que determinada Iinguagem representa intrínsecamente a esseneia, a natureza dos objetos, enquanto outra, por sua vez, nao teria essa eapaeidade? Depreende-se que essa situa9ao é deveras polemiea, pois, urna vez sendo aceita, manifesta a presen9a de outro problema associado ao uso da Iinguagem na rela9ao adequada entre palavra e objeto denominado: a verdade. A partir do momento em que detenninada linguagem arroga representar logieamente a essencia das coisas, existe a tendencia de se pretender cristalizar o va lor de imutabilidade da verdade, pois, ao se pronunciar um juízo de adequa9ao entre o objeto e a denomina9ao, dir-se-ia que existe uma verdade interna nessa rela9ao. Por sua vez, a lingu ag~m que porventura fosse imputada como incapaz de represei:Jtar a adequa9ao entre o nome e a coisa, reeeberia o estigma de falaciosa, imperfeita, inferior, pois nao expressaria adequadamente essa pretensa relas;ao lógica. Essa questao entrelas;a consigo urna relas;ao hierárquica de fors;as, pois uma sociedade que detém o poder dirá que o seu código de Iinguagem representa logicamente o vínculo entre palavra e coisa, o que tornaría possível o alcance da verdade. Esta questao polemica, po11anto, estaría diretamente vinculada com a pretensa eapacidadc da linguagem representar adequadamente essa associa9ao entre palavra e objeto, posto que, se porventura os enunci-
254
Renato Nwu:s Billencourt
ados lógicos sao reali zados a partir dcssa relas:ao, quando se pronunciasse detem1inada sentens:a, podcr-sc-ia conceder o caráter de veracidade aquilo que foi dito. Contudo, cssa ¡)l·oposta denota a presen¡ya do anseio humano de se legitimar como vcrdade aquilo que é representado por essa suposta relas:ao adequada entre palavra e coisa, verdade essa que o homem pretende elevar ao estatuto de universalidade, para que possa viver apaziguado com o seu próprio animo. Afina!, essa vontade de verdade decone do sentimento do homem de basear a sua prática de vida em padimetros cstáveis, sólidos, negando portanto o caráter fundamental do mundo, ou seja, o seu estado de contínua transforma<;ao. O homem, imerso na dimensao da racionalidade, vislumbra a presen¡ya da vcracidade na sua vida, como garantía de existencia de um substrato metafísico que transcenda os seus limites pessoais, fazendo com que sua própria v ida seja justificada. Todavía, ele dcsconhece o carátcr imanente presente na elaboras:ao da idéia de verdade, confonne destaca Nietzschc.6 A lógica da linguagem se caracteriza por pretender negar o múltiplo, o fluxo criativo de perspectivas.7 Nessas condi<;:oes, devemos ainda ressaltar que próprio ato de nomear urna coisa dccone do anscio humano em conceder unidade para um conjunto de forc;as que, inseridas no mundo, se cncontram em constante transformac;ao. 8 Nietzsche considera que o homem, ao desenvolver a trama da linguagem no seu mcio de vida, pretendía estabeleccr precisamente o caráter global das palavras, de modo ~e cada individuo pudesse adotar essa estmtura artificial sem que se desse vazao a confusoes de interpretac;ao semantica de mna dada coisa. Esses homcns, ao depararem empíricamente com a pluralidadc de objetos, estabeleeiam critérios arbitrários para que se possibilitasse a formac;ao da unidade discursiva, evitando assim que um mesmo objeto possuísse diversas denominas:ocs discrepantes. Nietzsche salienta que no ato de denominac;ao das coisas, esses homens utilizam recursos meramente arbitrários, sem considerar qualquer hipótese de adequac;:ao com urna suposta essencia presente nesse objeto.9 No entanto, csses homens eram cientes de que um determinado objeto, intitulado como "folha", por cxemplo, ainda
;1 11ature:a dali11guagem 11ajilusujia de Nietzsche
255
que denominado de tal modo, possuía diversas características singulares, únicas, em ralac;;ao aos demais objetos que eram intitulados também pelo tem1o "folha". 1 Contudo, atentar para o fato de que se porventura cada um desses objetos, aparentemente semelhantes, recebesse urna denominac;;ao distinta, nao seria possível estabelecer de forma alguma o projeto de convenc;;ao de linguagem entre os homens, mas somente uma caos semantico, sendo inexistente, portanto a formac;;ao de idéias universais, de conceitos que pudessem ser apreendidos adequadamente por todos os membros de urna comunidade. Para que esse problema fosse superado, Nietzsche salienta que esses homens se encontravam na extrema necessidade de retirar os inúmeros elementos singulares e diserepantes existentes em cada objeto percebido no cotidiano, em prol da afirmac;;ao das supostas características comuns, que se encontravam presentes em cada um destes objetos. Formava-se, desse modo, o famigerado "conceito". Essa atitude de se retirar as diferenc;;as em prol de uma pretensa identidade na análise de um determinado objeto, que se descnvolvera de modo relativamente consciente nos seus primórdios, no decorrer do tempo, a partir da transmissao desses conteúdos para as gerac;;oes vindouras, foi plenamente esquecida por estas, surgindo daí o grande problema epistemológico. Consequentemente, podemos dizer que, ao herdar essa tendencia, o homem teria desaprendido a observar as diferenc;;as, para apenas focalizar a sua atens;ao naquilo que aparentemente se manifestava como universal , como igual. Portanto, foi a partir do esquecimento do caráter ficticio dos nomes que o homem.passou a acreditar na correspondencia real entre os sinais e as coisas. Em tennos práticos, essa atitude gerou prejuízos consideráveis no relacionamento do bomem com tudo aquilo que se manifestasse como diferente, que porventura nao se mostrasse similar ao estabelecido, posta que o homem se caracteriza sobrctudo pe1a tendencia de considerar o externo como o "nao-igual", o discrepante. Dessa maneira, tudo aquilo que nao se coaduna com o uso comum em vigor numa determinada comunidade é considerado como inferior, estranho, senda desvalorizado e rcchac;;ado pelos padroes nom1ativos adotados pelos membros desse círculo fe-
°
256
Re11a1o N rmes 8ille11courJ
chado, radicalmente tradicionalista. Essa desconsidera<;ao sobre o valor da diferen<;a, aliás, se manifestaría nas mais diversas circunstancias da vida humana, implicadas sempre como pretenso sentimento de superioridadc de um núcleo de for<;as em rela<;iio ao outro. Como complemento para esta quesUio, vejamos a leitura realizada por Viviane Mosé, ao interpretar a perspectiva nietzscheana sobre o problema da denomina<;ao concedida pelos homens aos objetos: A linguagem é produto da necessidade psicológica da exclusao das diferenc;as, da vontade de nivelamento e reduc;ao, do medo da pluralidade e do conflito. Ao invés de uma convenc;ao necessária, capaz de aumentar o poder de atuac;ao do homem no mundo, a palavra se tornou o sinónimo das coisas. (Mosé. Nietzsche e a grande p olítica da linguagem, p. 19.)
A linguagem, portante, a partir do desenvolvimento da vida social, perde o seu poder criador, marcado pela transforma<;ao efetiva de seus caracteres, para se tornar um objeto cristalizado, que nega toda a novidade e a diferen<;a, pois o homem, nesse tipo de rela<;ao, teme que as suas cren<;as e verdades herdadas irrefletidamente sejam solapadas numa análise crítica. Para esse tipo de homem, é muito melhor permanecer incólume com um conjunto de valores dados, os quais, mediante o uso cotidiano, lhe fornecem urna espécie de "paz de espírito" para a sua estrutura de conhecimento ("paz" que, por outro lado, nao estimula o ato de pensar e de indagar), do que buscar superar o dogmatismo das suas própria opinioes. Acreditar no essencialismo da linguagem é urna atitude dogmática, pois retira do potencial criador do homem a sua primazia sobre a estrutura da linguagem. Essa tendencia, quando consolidada pelo uso irrefletido do bomem, motiva o desenvolvimento da "metafísica da gramática", justamente como decorrencia da pretensao humana de conceder ao objeto denominado uma essencia, de modo que a palavra, ao designar csse objeto, deveria ter a capacidade de explicitar adcquadamente a sua totalidade. Isso justifica o fato de termos citado anteriom1ente que o anscio humano pela verdade se associa coma questiio do poder representativo da linguagem, urna vez que,
A uatureza daliuguagem na jilu.mjia de Niet;sclte
1
1
257
se a palavra expressa adequadamente aquilo que cla designa, o homem poderia alcans;ar a soohada verdade, por mcio da rcde lógica dos conccitos. Portanto, a metafísica, ao tratar das essencias das coisas, entrela9ada com a dimensao da linguagcm, fornece o substrato gramatical que garante a equivalencia entre a coisa e o scu respectivo nome. Essa tese, ainda que um tanto sedutora, nao condiz, na perspectiva nietzscheana, coma situac;ao concreta da dimensao da linguagem, uma vez que a metafisica, sendo urna ilusao gnosiológica criada pelo homem para que ele se reconforte psicologicamente na idé ia de permanencia e estabilidade, nao poderia, sendo um artificio criado pelo próprio homem (ainda que esquecido por este), ter qualqucr participas:ao efetiva na designas;ao dos nomes. Portanto, se o homem acredita no substrato metafísico da linguagem, essa crenc;a decorre de seu próprio esquccimcnto no ato de criayao de valores. Na concept;:ao de Nietzsche, a palavra seria apenas um modo convencional descnvolvido pelo artificio do homem para se denominar um determinado objeto de tal forma que todos os membros da comunidade pudessem compreender adequadamentc o sentido lógico desse conceito. Desse modo, nao havcria vínculo essencial entre a palavra e a coisa denominada, mas apenas uma relas;ao artificial, em prol da conservac;ao do próprio homcm no meio ambiente. Contudo, como o homcm se aliena de sua própria criat;:ao, ao longo do te mpo ele passa a acreditar que os objetos do mundo possuem um significado próprio, independcnte da própria considerat;:ao humana e do seu ato doador de sentido sobre as coisas, de mane ira que caberia .ao homem desvelar o sentido oculto que se encontra por detrás dos objetos, evidenciando, por meio da linguagem, o scu significado autentico, numa busca metafísica pelas origens.11 Legitima-se, por esse meio, a teoría realista que prcga a existencia de um fío condutor ontológico entre o objeto e a sua denominas;ao, que representaría adcquadamente a coisa existente. Essa oposis;ao entre denominas;ao arbitrária e denominas;ao nccessári a na relac;ao entre palavra e objeto fora tema de discussao de um dos mais importantes diálogos de Platao, Crátilo, na qual o filósofo se propoe a investi gar se porventura existe um nexo lógico e ontológico
258
Ren(l(o Nunes Billencourt
entre o objeto e a sua denomina~ao, a partir da justeza dos nomes em rela<;ao as coisas. 12 Tanto para personagem título da obra como para o personagem Sócrates, porta-voz das teses platónicas, as palavras seriam capazes de representar adequadamente as coisas, pois existiria esse pretenso vínculo esseneial entre o nome e o objeto, ou seja, o nome expressa, na sua própria forma lógica, a esseneia da eoisa. 13 Como contraponto a esta perspectiva, devemos destacar a interpreta<;ao de Hermógenes, que preconizava a inexistencia de um vinculo natural entre o objeto e a sua denomina<;ao, considerando que essa rela~ao seria convencional, de modo que o nome do objeto decorreria diretamente da escolha daquele que detém o poder de intitular as coisas, o legislador. 14 Essa perspectiva pretende portanto dizer que, quando o homem concede um nome para um determinado objeto, ele nao estaría pensando na associa<;ao lógica entre os dois pólos, mas apenas numa denomina~ao que descrcva o obje to tal como ele aparece para o homem que concede o nome para as coisas, como urna espécie de etiqueta denominativa. Inclusive, em vista daquilo que foi apresentado, podemos considerar a perspectiva de Hermógenes muito similar com a que Nietzsche adota na sua perspectiva da linguagem, conforme exposto anteriormente. No entanto, com a predominancia da visao de mundo platónica no desenvolvimento da filosofia ocidental, a perspectiva acerca da linguagem que prevaleceu foi a de Crátilo, compa1tilhada pela máscara de Sócrates. 15 Afina!, a filosofia socrático-platónica, ao preconizar a existencia da dicotomia sensível-inteligível, do singular e do universal, da cópia e da Idéia, retira do mundo físico o seu teor de veracidade, transladando o seu sentido essencial para urna esfera metafisica, dimensao perfeita e plena do real. Desse modo, na intcrpreta<;ao sobre a linguagem desenvolvida por Platao, a palavra deve ter a plena capacidade de representar a essencia do objeto, urna vez que ela trata nao do singular, do concreto e perecível, mas do universal, da Idéia pura, abstrata e eterna. A partir da leitura do Crátilo, podemos ainda perceber o esforc¡:o de Sócratcs-Platao em justificar a pretensa possibilidade da palavra, do nome, de representar adequadamentc a esséncia das
A na111re:a dalingllagemnafilosojia de Niclzsche
259
coisas. Nao podemos, contudo, negar que o método de exposiyao utilizado por Sócrates é rnuito elaborado, de f01ma que, por meio de suas seguras argumentayoes, ao término do diálogo, sua perspectiva prevalecería. No entanto, devemos destacar que a preocupa9ao maior de Sócrates seria a de simplesmente justificar a tese de que o nome concedido para as coisas representa efetivamcnte as mesmas. Numa das partes mais importantes da obra, Sócrates analisa minuciosamente os nomes dos deuses gregos, considerando que cada um deles possui um nome que corresponde diretamente aos seus atributos. Por cssa estrita perspectiva, Sócrates nao dcixaria de ter razao, uma vez que scu empreendimento, na verdadc, apenas se Iimitava ao ato de comprovar se o nome que é dado aos deuses pelo legislador se relaciona com suas características manifestadas. Contudo, a crítica da linguagem elaborada por Nietzsche alcans:a aquilo que passara despercebido pelo olhar socrático-platónico : a própria formas:ao original dos nomes das coisas. Afina!, enguanto Sócrates se prcocupava cm comprovar se o nome " Apolo" correspondía essencialmente aos atributos do deus Apolo, 16 Nietzsche, por sua vez, no seu projeto de desmistifica¡yao da metafisica da gramática, se propunha a interpretar a própria etimología das palavras, considerando enUio que estas sao apenas designas:oes arbitrárias concedidas pelo homem no ato de denominas:ao do objeto. Consequentemente, qualquer tipo de nome, de palavra, quando elaborada pelo homem como forma de representar semanticamente uma dada coisa, nao mantém VÍJ1Culo com a sua esscncia, cuja nos:ao, na perspectiva nietzsch~ana , é urna mera ilusao gcrada pela racionalidade humana, na pretensiio de encontrar termos gerais, comuns, entre os objetos do mundo. Por conseguintc, poderíamos considerar que urna palavra, "pedra", por cxcmplo, que representa semanticamcnte um objeto composto de mincrais, de acordo com as circunstancias daqueles que estabeleceram os códigos de linguagem, poderia possuir qualquer outra denominas;ao. Nietzsche certamcnte pensaria que o grande problema surge quando acreditamos que o objeto " pedra" possui esse nomc em virtude de sua
260
Renato Nunes Bitfencourt
essencia, como se esta manifestasse, de fom1a explícita ou nao, o seu próprio sentido originário.
Nietzsche, nominalista? Nietzsche, ao defender a perspectiva de que a linguagem é urna denominacyao convencional criada pelo homem para designar os objetos, manifesta urna considerável semelhancya coma tese nominalista, cujos termos gcrais, apresentados no início do trabalho, serao agora tratados de forma mais diligente. O nominalismo surge como contraponto sobretudo ao realismo platónico da linguagem, por negar a realidade dos universais, das ldéias, como entidades indcpendentes da mente humana. Na perspectiva de Guilherme de Ockham, por exemplo, os universais sao apenas nomes, nao urna realidade, tampouco algo com fundamento na realidade. Essa proposta, portanto, excluí de um detenninado objeto a existencia de urna suposta essencia, a Idéia, 17 assim como refuta a validade de se retirar as características díspares de um dado objeto, para que se evidencie apenas aquilo que supostamente existe de igual entre os objetos considerados do mesmo genero. 18 Desse modo, nao existiría o universal, mas apenas a multiplicidade do individual. Nietzsche, por sua vez, quando empreende suas críticas ao entrelacyamento entre a metafísica e a lógica da linguagem, alcancya resultados scmelhantes ao de Ockham, ainda que motivado por outras questoes valorativas, sobrctudo pelo fato de Nietzsche considerar a própria idéia de indivíduo como urna cspécie de ilusao forjada pela consciencia para se conquistar conforto a partir do momento em que o homem conhecc o fluxo de forcyas que se movimentam continuamente no mundo, compreendendo que ele mesmo faz parte desse processo. Este tema supera extraordinariamente o problema da linguagem na vida humana, implicando a crítica ao ideal de subjetividade presente na tradicyao filosófica , a pretensa existencia de um "eu" como principio de organizas:ao racional do mundo, dentrc outras questoes convergentes.
A na/llre:a dalinguagemnajilosofla de Niet:sche
261
Portante, tanto no nominalismo medievo, quanto na perspectiva nietzscheana, podemos perceber o projeto de supressao da visao metafisica de mundo, caracterizada por denegar a importancia do singular em prol de supostos caracteres universais. Ambos consideram que semente existe a pluralidade, o múltiplo, como expressao do singular. Na melhor das hipótcses, a linguagem semente poderia realizar associatyoes e formulatyoes gerais como recurso didático, para que se desenvolve códigos adequados de linguagem compartilhados entre os homens. Todavía, o equívoco surgiría a partir do momento em que se acredita efetivamente na existencia real dessa unidade, dos universais, como elementos independentes do pensamento humano.
Conclusao Conforme vimos ao longo dcsta exposityao, a perspectiva de Nietzsche acerca da natureza da linguagem pretende demolir as ilusoes geradas pela compreensao metafisica da realidade, urna vez que a proposta contestada por Nietzsche se destaca sobretudo pela denegar;:ao do concreto, da imanencia, em prol do abstrato, do transcendente. Essa compreensao metafisica do real transfere para urna dimensao inteligível o fundamento daquele que denominamos usualmente de mundo sensível. A metafísica, portante, é a grande promotora da perspectiva que afirma o realismo da linguagem, urna vez que, para que ela exista, necessita incondicionalmente da cren9a entre o vínculo adequado e lógico entre a coisa e sua respectiva denominayao. Contudo, Nietzsche, com sua investigayao profunda do jogo de perspectivas presente na dimensao da linguagem, contribuí de forma precisa para a compreensao imanente da vida, pois se propoe a excluir do carpo da linguagem os seus pretensos elementos metafísicos, independentes do próprio ato de valorayao inerente ao homem. Portante, ao defender a arbitrariedade na relayao gramatical entre nome e coisa, Nietzsche resgata o poder criador de valores manifestado nas mais diversas circunstancias de sua existencia, olvidado, no entanto, através
262
Ren{l(o Nzmes Biuencourt
da interferencia da metafísica no scu ato legislador sobre as coisas. O ato de elaboraryao da linguagem evidencia o poder criativo do hornero, no scu projeto de ampliar a sua próprio potencia ao longo de sua interaryao com o mundo. Po1ianto, confo1me a bcla expressividade de Zaratustra, podemos pensar Como é agradável que haja palavras e sons! Nao sao as palavras e os sons os arco-iris e as pontes ficticias ligando aquilo que está eternamente separado? Nao foram os nomcs e os sons dados as coisas, para que o homem se recreasse com elas? É uma linda doidice a fala; gra9as a ela, o homem danya por cima de todas as coisas. Que aprazíveis sao toda a fa la e a mentira dos sons! Com os sons, o nosso amor dan9a sobre arco-íris multicores. (Nietzsche. Assim fa lava Zaratustra, lll, "O Convalescentc," § 2.)
Após lermos essc discurso de Zaratustra, podemos encerrar o presente trabalho dizendo que a linguagem, assim como a a11e, é urna das mais belas possibilidades do homem expressar o seu poder criador, urna extraordinária e bela ilusao que favorece a sua interarrao com os dcmais bomens, scrvindo, quando utilizada adequadamente, de instrumento afirmador da vida.
Referencias bibliograficas
Agostinho. 2000. Mestre ~De Magistro). Trad. de António Soares Pinheiro. Sao Paulo: Landy, Mosé, V. 2005. Nietzsche e a grande política da linguagem. Rio de Janciro: Civilizaryao Brasileira. Nietzsche, F. 1998. Assimfalava Zm·atustra- um livro para todos e para ninguém. Trad. de Pauto Osório de Castro. Lisboa: Relógio D'Água. - . 200 l. Crepúsculo dos Ídolos- ou como filosofar com o martelo. Trad. de Marco Antonio Casanova. Rio de Janeiro: Relume Dumará.
A narure::a do/inguagemnajilosojia de Niet:sche
263
- . 2003. A Gaia Ciéncia. Trad. de Paulo César de Souza. Sao Paulo: Companhia das Letras. - . 2000. Genealogía da Moral - Uma polémica. Trad. de Paulo César de Souza. Sao Paulo: Companhia das Letras. - . 200 l. "Introduyao teorética sobre a verdade e a mentira no sentido extra-moral." In: O Livro do Filósofo. Trad. de Rubens Eduardo Ferreira Frias. Sao Paulo: Centauro. Ockham, G. 1970. Scriptum in librum primum Sententiarum, Ordinatio. Distinciones II-111., eds. S. Brown e G. Gák, In: Opera Theologica, vol. II. Nova York: The Franciscan Institute. Platao. 2003. Crátilo. Trad. de Carlos Alberto Nunes. Belém: EDUFPA.
Porfirio de Tiro. 2002. Isagoge. Trad. de Bento Silva Santos. Sao Pauto: Attar Editorial. Rocha, S. P. V. 2003. Os abismos da suspeita - Nietzsche e o perspectivismo. Rio de Janeiro: Relume Dumará.
Mestrando em Filosofia - UFRJ Professor substituto do Departamento de Filosofía da UNIRlO Membro do Grupo de Pesquisa em Filosofia Espinosa e Nietzsche (SpiN) Bolsista do CNPq
Notas 1
Porfirio de Tiro é considerado o fil ósofo que estimulou o desenvolvimento dessa polémica, ainda que por acaso, pois ele sequer imaginava que seus comentários ao texto das Categorías de Aristóteles pudessem motivar tal embate de idéias. A questao iniciadora dessa polemica consiste, no que tange aos géneros e as espécies, saber se sao realidades subsistentes em si mesmas ou se consistem apenas em simples conceitos mentais ou, admitindo que sejam realidades subsistentes, se sao corpóreas ou incorpórcas e, neste último caso, se sao separadas ou se existem nas coisas sensíveis e delas dependem. (Cf Porfirio. isagoge, lntrodus:ao, p. 35-6).
264
Re11a10 Ntmes Billencourl
Representados sobretudo por Abelardo, segundo o qual os conceitos ou universais somente existiriam, como idéias, em nosso espirito, nao possuindo nenhum objeto que lhes correspondesse na realidade, sendo, portanto, apenas instrumentos lógicos utilizados pelo intelecto humano. 3 Representados principalmente por Roscelino e Guilhem1e de Ock.ham, os partidários dessa perspectiva eonsideravam que os concei tos seriam meras entidades lingüísticas, termos gerais desprovidos de qualquer realidade externa corrcspondente, cuja fun~ao, podemos dizer, seria a de facilitar o conhecimento da realidade pelo homem, por meio da criar;ao de no~oes comuns gramaticais. ~ "O mundo verdadeiro inatingivel, indemonstrável, impassível de ser prometido, mas já enguanto pensado um consolo, wn eompromisso, um imperativo". "O ' mundo verdadeiro'- uma idéia que já nao serve mais para nada, que nao obriga mesmo a mais nada- urna idéia que se tomou inútil, supérflua; consequentemente, uma idéia refutada: suprimamo-la! (.. .)" "Suprimimos o mundo verdadeiro: que mundo nos resta? O mundo aparente, talvez?... Mas nao! Com o mundo verdadeiro suprimimos também o aparente!" (Nietzsche. Crepúsculo dos Ídolos, "Como o 'Mundo Verdadeiro' acabou por se tomar fábula", § 3, 5- 6). s Cf Nietzsche. A Gaia Ciéncia, V,§ 354. 6 A célebre indagar;ao de Nietzsche: "O que é a verdade? Uma multiplicidade incessante de metáforas, de metonimias, de antropomorfismos, em síntese, uma soma de relar;oes humanas que foram poética e retoricamente elevadas, transpostas e ornamentadas, e que, após um longo uso, parecem a um povo firmes, regulares e constrangedoras: as verdades sao ilusoes euja origem está esquecida, metáforas que foram usadas e que perderam a sua for~a sensível, moedas nas quais se apagou a impressao e que desde agora nao sao mais consideradas como moedas de valor, mas como metal." (Nietzsche. " lntrodu9iio teorética sobre a verdade e a mentira no sentido extra-moral", '§ l. In: O Livro do Filósofo, p. 69). 1 "Origem do lógico- De onde surgiu a lógica na mente humana? Certamente do ilógico, cujo dominio deve ter sido enorme no principio. Mas incontáveis outros seres, que inferiam de maneira diversa da que agora inferimos, desapareceram: e é possível que ela fosse mais verdadeira! Quem, por exemplo, que nao soubesse distinguir com bastante freqüencia o "igual", no tocante a alimenta~ao, ou aos animais que lhe eram hostis, isto é, quem subsumisse muito lentamente, fosse demasiado cauteloso na subsunr;ao, tinha menos probabilidades de sobrevivencia do que aque le que logo descobrisse igualdade em tudo o que era semelhante. Mas a tendencia predominante de tratar o que é !
A ll(tltweza dalinguagemnajilosujia de Niet:sdre
265
semelhante como igual- uma tendencia ilógica, pois nada é realmente igualfoi o que criou todo fundamento para a lógica. Do mesmo modo, para que surgisse o conceito de substancia, que é indispensável para a lógica, embora, no sentido mais rigoroso, nada lhe corresponda de real - por muito lempo foi preciso que o que há de mais mutável nas coisas nao fosse visto nem sentido; os seres que nao viam exatamente tinham vantagem exatamente tinham vantagem sobre aqueles que viam tudo "em flux o" (...)" (Nietzsche. A Gaia Ciencia, Ul, § 111). 8 Aproveitemos a contribui9ao de Silvia Pimenta Velloso Rocha, a qua!, na sua interpre ta~ao da crítica da linguagem empreendida por Nietzsche, considera que: "nomear é atribuir identidade a um mundo que só apresenta diferenyas. A palavra isola, num mundo em perpétuo devir, determinados grupos de ayoes, selecionando arbitrariamente algumas características e ignorando outras." )Rocha. Os abismos da suspeita- Nietzsche e o perspectivismo, p. 98). 9 Na Genealogía da Moral, 1, § 2, Nietzsche defende a tese de que sao os homens destacados numa sociedade, "os senhores", que portam o direito de nomear as coisas, como que, apontando para elas, dissessem: " isto é .. ." 10 Nietzsche se utiliza do célebre exemplo da folha: "Tao certamente como urna fo lha nao é jamais totalmente identica a urna outra, assim também o conceito folha fom1ou-se grac;as ao abandono deliberado destas diferenyas individuais, gra9as a um esquecimento das características, e desperta agora a representayao, como se houvesse na natureza, fora das folhas , algo que fosse a "folha", urna espécie de fonna original confonne a qual todas as folhas seriam tecidas, desenhadas, cercadas, coloridas, frisadas , pintadas, mas por maos inábeis, a ponto de que nenhum exemplar tivesse saído corretamente e com seguran9a como a cópia fiel da forma original." (Nietzsche. "Introduyao teorética sobre a verdade e a mentira no sentido extra-moral", § l . In: O Livro do Filósofo, p. 68). 11 Vejamos cntao o que Nietzsche diz a respeito do uso irrefletido da linguagem no senso comum: "Acreditamos saber algo das coisas em si mesmas, quando falamos de árvores, de cores, de neve e de flores e entretanto nao possuímos nada mais que metáforas das coisas, que de nenhum modo correspondem as entidades originais." (Nietzsche. " lntroduyiiO teorética sobre a verdade e a mentira no sentido extra-moral", § 1, p. 68.) 12 Cf Platao. Crátilo, 383a. 13 Crátilo dcfende por esse meio a tese de que o conteúdo e forma da linguagcm se associam por natureza ao objeto designado, ao considerar que "é possível dizer por meio da palavra o que é e o que nao é." (Platao. Crátilo, 385b.)
266 14
Renato Ntmes Billencourt
Eis a fala de Hermógenes: "( ...) Nenhum nome é dado por natureza a qualquer coisa, mas pela lei e o costume dos que se habituaram a chamá-la dessa maneira." )Piatao. Crátilo, 384d.) 15 "(... ) Crátilo tem raziío de dizer que os nomes das coisas derivam de sua natureza e que nem todo homem é formador de nomes, mas apenas o que, olhando para o nome que cada coisa tem por natureza, sabe como exprimir com letras e sílabas sua idéia fundamental." (Piatiío. Crátilo, 390e.) 16 Cf Platao. Crátilo, 405b-406b. 17 Refutando desse modo o realismo platónico da linguagem. 18 Refutando, por sua vez, o realismo aristotélico da linguagem.
O problema do regresso epistemico reconsiderado Rodrigo Borges Pomijicia Universidade Católica do Rio Grande do Su/
Jntro du ~ ao
O problema do regresso epistémico (daqui em diantc "(PRE)") tem sido um enigma para a reflexao epistemológica desde, pelo menos, Aristóteles. O presente artigo fará , na primeira ses:ao, uma exposis:ao geral do problema. A segunda ses:ao apresentará a sugesHio feíta por Robcrt Audi de que (PRE) deve ser reconsiderado diante da possibilidadc de identificas:ao de mais de urna fom1a desse mesmo problema. Na tcrceira e quarta ses:ao nós apresentaremos, respectivamente, objcs:oes a proposta de Audi e urna proposta alternativa de reconsidcrat¡:ao de (PRE) que mantém a alcgas:ao de Audi de que existem dois tipos distintos de (PRE) mas que identifica esscs tipos de fom1a diversa daqucla proposta pelo autor. 1 1
Rodcrick Chisholm apresenta (PRE) da seguintc fonna na primeira edit;:ao de "Theory of knowledge" Nossa evidencia para algumas coisas, quer parecer, consiste no fato de que nós temos evidencia para outras coisas. "Minha evidencia de que ele irá manter sua promessa é o fato de que ele disse que iria manter sua promessa. E a minha evidencia de que e le disse que iria manter sua promessa é o fato de que ..." Nós devemos dizer, de ludo para o
D111rn. L. H. de A. e Mortari. C. i\ . (org:s.). 2005 . Episremolugia: Anais do IV Simpósio flllenwdunul. Principia - Pam• l. Florianópolis: NELIU FSC. pp. 267- 287.
268
Rodrigo Borges
qual nós possuímos evidencia, que a nossa evidencia para essa coisa consiste no fato de que nós possuímos evidencia para outra coisa? Se nós tentamos fonnular socraticamente nossa justificas;ao para qualquer alegac,;ao de conhecimento particular ("Minha justificac,;ao para pensar que eu sei que A é o fato de que B") e se nós somos naopiedosos no nosso questionamento ("e a minha justificac,;i'io para pensar que eu sei que B é o fato de que C'), nós iremos chegar, mais sedo ou mais tarde, a um tipo de ponto de parada ("mas a minha justificac,;ao para pensar que eu sei que N é simplesmente o fato de que N'). Um exemplo de N pode ser o fato de que eu parec,;o lembrar ter estado aquí antes ou o fato de que algo agora parece azul para mim. 2
Em scu artigo "Two types of foundationalism," William Alston caracteriza (PRE) da seguinte forma Suponha que nós estejamos tentando determinar se S está mediatamente justificado ao crer que p. Para que esteja justificado dessa forma, ele precisa estar justificado ao crer em outras proposir;oes, q, r, ... que es tao adequadamente relacionadas a p (de forma a constituir apoio adequado a p). Digamos que nós tenhamos identificado um conjunto de tais proposic,;oes e que S ere em cada uma de las. Entao, ele está justificado ao crer que p somente se ele está justificado ao crer em cada uma dessas proposir;oes. E, para cada uma dessas proposic,;oes q, r, ... que ele nao está imediatamente justificado ao crer, ele está justificado ao crer nela somente se ele está justificado ao crer em algumas Otttras proposic,;oes adequadamente relacionadas a ela. E para cada uma dessas últimas ... 3
(PRE) difícilmente poderia ser colocado de fonna mais direta do que o fizeram Alston e Chisholm. Entretanto, a digressao feíta nessa primeira parte deve se mostrar útil para urna compreensao mais detalhada do problema. Nós nos voltaremos a fonnulas:ao de (PRE) desses autores mais adiante (ses:ao U) quando elas vao ser analisadas desde um ángulo específico. O predicado "x é justificado" designa urna propriedade avaliativa ou normativa onde a variável "x" varia sobre o conjunto de estados (atitudes) proposicionais de tipo doxástico. Exemplos de estados de
269
O problema do regresso epislémiC'U recousiderCido 4
tipo doxástico sao crcnc;:a, descrenc;:a e suspensao de juízo. O que torna a propriedade da justificaryao epistémico um impor1antc desiderata é o fato de que o estado doxástico que possui cssa propriedade distingue-se daqueles estados doxásticos que nao a possuem por estar mais próximo da verdade do que dafa/sidade. Justificac;:ao cpistemica é, nessc sentido, conducente á verdade, ou, indicativa da verdade: se um estado doxástico possui justificac;:ao epistt~mica, cntao seu conteúdo proposicional é (grosso modo) provavelmente verdadeiro. 5 É geralmente aceita a tese de que a propriedade normativa da justificac;:ao epistemica é urna propriedade sobreveniente de propriedades nao-epistemicas (nao-normativas ou descritivas). Isso significa que, se dois estados doxásticos, c.g., A e B, possuem as mesmas propriedades nao-epistemicas (nao-normativas), entao, se A possui a propriedade epistemica (normativa) G, B também a possui. 6 As propriedades subvenientes, das quais as propriedades epistcmicas sobrevem, sao designadas por predicados e rcla¡¡:oes como "x é verdade", "x é causado por y", "x é deduzivel de y" e "x é provável". 7 Além disso, nós dizemos que um determinado estado doxástico, e.g., a crenc;:a de que p, pode possuir a propriedadc da justificac;:ao de duas maneiras. Primeiro, a crenc;:a de que p pode possuir a propriedade da justificac;:ao devido as relac;:oes que essa crenc;:a mantém com outros estados doxásticos do mcsmo sujeito. A crenc;:a de que p , portanto, possui a propricdade da justificac;:ao media/amente: a crenc;:a de que p é mediatamentc justificada se os outros estados sobre os quais a crenc;:a est.á baseada sao eles mesmos justificados para o sujeito e sao.suficientes para tornarem ela provavelmente verdadeira. 8 A segunda maneira com que uma crenc;:a pode ser considerada como justificada acorre quando essa crenc;:a possui essa propriedadc independentemcnte de suas relac;:oes inferenciais com outros estados doxásticos do sujeito. Ncsse sentido, a crcnc;:a é tida como imediatamente justificada: se a vcrdade do conteúdo da crenc;:a é tornada provável por algo diferente de outros estados doxásticos do mesmo sujeito.9 Um candidato tradicional á justificador nao-doxástico sao os "dados da experiencia." 10
270
Rodrigo Borges
Sob a luz do que foi dito, considere o seguintc cxcmplo. Suponha que Joao é aluno de um curso básico de lógica e que depois de dois meses de aulas ele ere que r e r é a proposiyao expressa pela sentenya declarativa "eu (Joao) tenho tido dificuldade em resolver os exercícios de lógica". Suponha que a crenc;a de que r é justificada para Joao. Dias depois de vir a crcr que r, Joao é informado por um colega que eles deverao fazer uma prova de lógica no final do mes e que os exercícios da prova serao bastante semelhantes aqueJes praticados em sala de aula. Tendo ouvido a notícia, Joao forma a crenc;a de que p (''eu nao irci bem nessa prova") tendo como base a sua crens;a injustificada de que q ("o professor nao gosta nem um pouco de mim"). Repare a situac;ao epistémica cm que Joao se cncontra: Joao possui urna crenc;a que seria capaz de tomar provável a sua crens:a de que p se Joao tivesse baseado essa última sobre ela. Joao possui justificar;ao para crer que p, mas Joao nao eré justificadamente nisso pois ele baseia sua cren9a nao sobre urna indicas:ao possuída de sua verdade mas sim sobre uma outra crens:a que nao é indicativa da verdade de p. Logo, nós podemos 11 dizer que Joao ere que p pelas "razocs erradas. " Se nós aceitamos a expressi'io " razao" como compreendendo os estados doxásticos e nao-doxásticos (e.g., estados experenciais) de um sujeito, entao nós podemos tomar precisa aquela que parece urna condi¡yao necessária a dcfmic;ao de quando um sujeito S ere justificadamente em urna proposis:ao p. (CJ) S ere justificadamente que p em t só se (i) ~ possui urna razao r para crcr que p em t, (ii) S ere que p, em t, baseado cm r e (iii) r torna provável a verdade da proposic;ao de que p. Como o exemplo do estudante de lógica mostrou, nao é suficiente que se tenha "posse cognitiva" 12 de urna razao r e que cla de fato tome provável a proposic;ao de que p se crer justificadamente está em jogo: a crenc;a de que p deve estar baseada em r. Urna discussao detalhada sobre o que envolve a nos:ao de "rclac;ao de baseamento" e urna especificac;ao de quando cssa rela¡yao ocorre adequadamente está fora do
O problema do regresso epistémico reconsidemclo
271
escopo do presente m1igo. Nao obstante, urna adequada rela<;iio de baseamcnto (do tipo que é suficientemente boa para que oco na a transmissao de justifica<;iio) parece incluir um componente causal de fonna que uma razao r transmite j ustifica9ao para a crenc;;a de que p através da rela<;iio de baseamento B só ser ajuda (em parte) a explicar porque a eren ya de que p é mantida. Se a cren<;a de que p é justificada para um sujcito S e ela está baseada sobre a razao r, entao r é parte do que explica porqué S veio a crer que p. 13 Se nós incluímos a (CJ) as no96es de cren<;a imediatamente justificada e de cren<;a mediatamente justificadas, nós teremos o seguinte: (ICJ) A cren9a de que p é imediatamente justificada para S em t só se (i) S possui urna razao r para crer que p cm t, (ii) S ere que p, em t, combase em r, (iii) r é justificada para S em te (iv) nao é o caso que r é um outro estado doxástico de S em t. (MCJ) A cren<;a de que p é mediatamente justificada para S em t só se (i) S possui urna razao r para crer que p e m t, (ii) S ere que p , em t, com base em r, (iii) r é justificada para S cm t e (iv) r é um outro estado doxástico de S em t. Dito isso, nós estamos aptos a compreender com maior precisao (PRE). Dado que existem apenas duas maneiras em que cren<;as sao tomadas como justificadas (para toda cren<;a x, ou x é imediatamcnte justificada ou x é mediatamente justificacia), 14 (PRE) só pode surgir de uma forma: ele surge quando nós buscamos dete1minar de que forma aquilo que serve de base para uma crem;a media/amente justificada adquiriu a propriedade da justifica<;iio, pois, se a atitude doxástica que serve de base é também mediatamente justificada, entao nós devemos determinar de que forma esse último estado doxástico possui a propiiedade da justifica<;iio e, se e le é mediatamentc justificado, enHio ... O conjunto formado pelos justificadores da primeira cren<;a que buscávamos determinar como justificada terá como membros (i) somente justificadores imediatamente jus tificados, (ii) somente justificadores
272
Rodrigo Borges
mediatamen!e justificados ou, (iii) ambos, justificadores imediatamente justificados e justificadores imediatamente justificados.
n Em seu artigo "The foundationalism-coherentism controversy: hardened stereotypes and overlapping theories," Robert Audi busca distinguir duas formula~oes de (PRE). Na presente se~ao nós apresentaremos as razoes que o filósofo oferece para a aceita~ao de tal distin~ao. Audi denomina uma das formas do problema do regresso de a "forma dialética" e a outra de a "fonna estrutural". O principal argumento ofcrecido pelo filósofo em favor da corre~ao dessa distin~ao é apresentado na seguinte passagem: Para que se veja como as duas formas do problema do regresso diferem, nós podemos pensar nelas como surgindo de diferentes maneiras de se perguntar "Como voce sabe?". Ela pode ser perguntada comfor90 célico, como um desafio a pessoas que ou alegam saber algo ou (usuahnente) pressupoe que urna crenc;;a que elas mantém confiantemente representa conhecimento. Aqui a pergunta é grosso modo equivalente a "Mostre-me que voce sabe". Ela também pode ser perguntada comjor9a informacional, como onde alguém simplesmente deseja saber por qua! caminho, tal como observac;;iio ou testemunho, nós viemos a saber algo. Aqui a pergunta é grosso modo equivalente a "Como é que voce sabe?". A forma eética da pergunta niio pressupoe que a pessoa em quesUio realmente possui qualquer [item de] conhecimento e, feita dessa maneira nao-comprometida, a pergunta tende a gerar a forma dialética do regresso. A forma informacional da pergunta típicamente pressupoe que a pessoa tem a proposic;;ao em questao como 15 um item de conhecimento.
Audi alega que "a falta de clareza - e a esteriotipagem inadvertida - sobre fundacionalismo e coerentismo vai além daquilo que nós esperaríamos da diversidadc tenninológica e filosófica." 16 Dessa forma, dado que a maior motiva~ao de ambos fundaeionalismo e coerentismo é (PRE), a sua distin~ao entre fonna dia/ética e estrutura/ do proble-
,, .,
O problema do regresso episuJmico reCOII.l'iderado
1
..
ma (daqui em diantc "(FD)" e "(FE)", respectivamente) faz com que fundacionalismo e cocrcntismo sejam "melhor entendidos". 17 Primeiro, nós podemos olhar mais uma vez para as citar;:oes de Chisholm e Alston e tentar entender de que fonna cada urna delas se relaciona com a proposta de Audi. Comccemos com Chisholm. Ele sugere que "Se nós tentamos fonnular socraticamcnte nossa justifica<;:ao para qualquer alega<;:ao de conhecimento patticular [ ...) nós iremos chegar, mais sedo ou mais tarde, a um tipo de ponto de parada". Colocada dessa forma, a qucstao "Como voce sabe?" é claramente equivalente a "Mostre-me que voce sabe". Além disso, a alegar;:ao de que (PRE) surgirá "se nós somos nao-piedosos no nosso questionamento" sugere que a mesma questao está sendo entendida por Chisholm como possuindo o que Audi chama de "for¡¡:a cética". Logo, de acordo com os critérios oferecidos por Audi para a identifica¡¡:ao de duas fonnas de (PRE), Chisholm pode ser considerado como apresentando (PRE) na sua fmma (FD). 18 Olhemos agora para a citar;:ao de Alston. Ao contrário de Chisholm, Alston nao faz meor;:ao a qualquer defesa argumentativa de nossas alega¡¡:oes de conhecimento. Essa constatar;:ao nos permite inferir que Alston nao tem em mente urna interpretar;:ao equivalente a " Mostre-me que voce sabe" da pergunta "Como voce sabe?". Ao longo de toda caracterizar;:ao do problema do regresso, Alston em nenhum momento considera necessário qualqucr cspécie de desafio ou de for~a cética na coloea<;:ao do problema. Por outro lado, Alston parece dar indíeios d.e que o interessc precípuo de sua formular;:ao de (PRE) é a de obter info rmar;iío sobre como uma determinada crenr;:a mediatamente justificada veio a obter cssc status positivo, isto é, a pcrgunta "Como voce sabe?" é entendida em um sentido equivalente a "Como é que voce sabe?" Logo, parece razoável que se creía que a formular;:ao de (PRE) que Alston tem em mente identifica-se com (FE) . Audi pretende que, assim que nós entendemos que (PRE) tcm sido apresentada de duas fotmas diferentes, nós veremos como coerentistas ("<
.·
..
273
274
Rodrigo Borges
e fundacionalistas diferem na sua compreensao de algumas no¡¡;oes bastante importantcs. 19 Uma dcssas distin¡¡;ocs é aqueta entre crerjustificadamente e mostrar que se eré justificadamente. Se feita com umaforrya cética, a pergunta "O que o justifica ao crer?", nos faz pensar que urna resposta adequada mostra que se ere justificadamente. De acordo com (FD), se S ere justificadamente que p, em t, entao S está disposto a (tem a capaeidade de) mostrar argumentativamente que ele ere justificadamente que p, em t. Essa condi¡¡;ao imposta a justifiea¡¡;ao epistemiea claramente implica (i) que S possui acesso cognitivo aquilo que baseia sua cren¡¡;a de que p, cm t, e (ii) a capacidade de S usar adequadamente as proposi¡¡;oes que compoe a base da cren<;:a de que p, em t, em um argumento em favor de p. A capacidade de se usar adequadamente razoes para que se mostre que se ere justificadamente é evidentemente mais fundamental que a disposiryoo de se mostrar que se ere justificadamente: nao faz sentido supor que alguém possa estar disposto a oferecer a sua cren<;:a de que, por cxemplo, "Bolos de brigadeiro sao fcitos de chocolate" em favor da sua cren<;:a de que "Este bolo de brigadeiro tem chocolate" se essa pessoa nao possui a capacidade de oferecer a primeira proposi¡¡;ao em favor da segunda em fun¡yao da rela<;:ao de seus conteúdos (logo, nesse sentido, a capacidade de oferecer "adequadamente" a primeira proposi¡¡;ao em favor da segunda) e nao apenas em fun¡¡;ao de um golpe de sorte. Segundo (FE), por outro lado, se a questao "O que o justifica ao c.rer?" é feita comfon;a informacional, entl:io urna rcsposta ad!;!quada a ela seria urna que apenas cita o que baseia a cren¡¡;a cm quesUio. Mesmo que (FE) nao implique em qualqucr tipo de defesa argumentativa da cren<;:a que é objeto da perguota, S dcve poder identificar aquilo que bascia a sua cren<;:a de que p: S deve ter acesso cognitivo aos estados que baseiam a sua cren<;:a de que p. Embora ambas (FD) e (FE) impliquem o fato de que o sujeito em questao possui acesso cognitivo aquílo que baseia sua cren<;:a, a primeira e nao a última exige que o sujeito mostre que a base de sua cren¡¡;a é adequada.
·.
O problema do regresso episrtlmico reco11siderndo
275
(FE) e (FD) diferem importantemente cm rela¡;ao a exigencia ou nao de crcn¡;a de segunda ordem para que S creía justificadamente que p. Segundo Audi, se (PRE) é pensado como (FD), cnUio uma resposta adequada a pergunta "O que o justifica ao crer que p?" deve envolver urna cren¡;a de segunda ordem (provavclmente justificada) cujo conteúdo faz referencia a adequar,:iío da rela¡;ao de baseamento existente entTe a cren¡;a que p e os estados que a baseiam. Esse fato contrasta com o fato de que (PRE), enquanto (FE), nao exige que uma resposta adequada a questao "O que o justifica ao crer que p?" envolva urna cren9a de segunda ordem sobre a adequa9ao ou nao da rela9ao de baseamento. Para (FE), urna resposta adequada a essa pergunta tende a envolver apenas cren9as de prime ira ordem do sujeito. Outro aspecto cm que (FE) e (FD) divcrgem aparece quando nós consideramos o que é necessário para que um sujeito tenha, dé e mostre urna solu9ao a questao "O que o justifica ao crer?" Se essa pcrgunta. é feíta mo!iv~da por uma for¡;a informacional, o fato de eu ter proposiyo-e~Je ~ao de fato justificadas para mim e de eu dar elas como resposta a cssa questao garantem que eu tcnha mostrado uma solu9ao. Se a mesma pcrgunta é feíta motivada por uma fon¡:a cética, entao o fato de que eu tenho proposi9oes justificadas para mim e de que eu as dou como resposta nao é suficiente para que eu tenha mostrado urna solu9ao. (FE) e (FD) difercm, ainda, cm rela9ao a outro aspecto. Dado que (FD) exige que o sujeito seja capaz de (ou esteja disposto a) estabeleccr argumcñtativamente urna resposta a quesUio ." 0 que o justifica ao crer que p?" para que cssa seja satisfatória, (FD) implica que justificayiio é sempre o resultado de um processo de justificar,:iío. Toda cren9a justificada é, nesse sentido, aqueta que surge (ou surgiria) como o resultado de um processo inferencia! bem sucedido. Contrariamente a (FD), (FE) exige apenas que o conjunto de estados que basciam a cren9a de que p de fato possuam a propriedade da justificar,:iio, que a rcla9ao de baseamento se de adequadamente, e que S cite o conteúdo dcstes estados como resposta a quesHio "O que o justifica ao crer que
280
Rodrigo Borges
que ele ere justificadamente. Como nós vimos na nossa discussao sobre (FD) (sec;:ao ll), mostrar que se ere justificadamente envolve a posse de cren.yas de segunda ordem sobre o status da cren.ya de plimei-
ra ordem em vista da
adequa~ao
ou nao da
rela~ao
de baseamento
mantida entre essa cren.ya e os estados que a baseiam. Mas, por outro lado, esse proccsso inferencia) em favor da crenc;:a de primeiro nivel só poderá ser considerado satisfatório se a cren.ya de segundo nivel for 1 e la mesma justificada. Logo, se (P) é uma condis:ao geral sobre justificac;:ao, entao ela vale também para a crens:a de segundo nivel, isto é, a crens:a de segundo nivel deve ser mantidajustificadamente. Entao, S deve ser capaz de (ou estar disposto a) mostrar que a sua cren<;a de segundo nível está justificada e isso, por sua vez, envolve uma crens:a justificada de terceiro nivel cujo conteúdo refere-se a cren<;a de segundo nível e os estados que a baseiam. E, se essa crenc;:a de tercciro nível é mantida justificadamente, entao Sé capaz de (está disposto a) mostrar através de uma cren<;a de quarto nível... Portanto, (P) 1 gera o que nós poderíamos chamar de (FV) forma vertical de (PRE): o conjunto de justificadores que resulta de (FV) tem como membros estados nao só de primeiro nivel, mas de n-níveis. Para a segunda interpretas:ao, justifica<;ao nao é uma propriedade positivamente determinada pelo fato de um sujeito possuir ou nao a capacidade de (estar ou nao disposto a) realizar um processo inferencia! em favor de qualquer crenc;:a por ele mantida. O importante para essa interpretac;:ao da justifica<;ao é saber se o conjunto de estados q\.!e baseia a cren.ya de fato justifica essa crenc;:a e se ~ relac;:ao de bascamento é de fato adequada. Isso é assim independentemcnte de o sujeito possuir qualquer capaeidadc (ou disposic;:ao) de estabelecer, via processo inferencia!, a adequa.yao ou nao daquilo sobre o qual sua crenc;:a é baseada para que se estabclec;:a a presen.ya ou nao da propriedade da justificas:ao. Essa maneira de se entender justificac;:ao sugere o seguinte principio:
O problema do regresso epistémico reconsiderado
28 1
(P)2 Se S ere justificadamente que p em t, enUio a crenya de S de que p em t é baseada adequadamentc sobre um conjunto de estados que tomam prováve l a verdade de p para S, em t. Que tipo de regresso (P) 2 é capaz de suscitar? Se X é o conjunto formado por todos os estados individualmente necessários e conjuntamente suficientes para que a crcnya de que p tenha a sua verdade tomada provável, enHio, se um desses estados pertencentes a X (por excmplo, a cren9a de que q) deriva seu status enguanto justificado de outro conjunto Y de todos os estados que sao individualmente necessários e conjuntamente suficientes para que a cren9a de que q tenha a sua verdade tornada provávcl, entao Y é um membro de X. E, se um dos estados que é membro de Y (por exemplo, a crenya de que r) deriva seu status enguanto justificado de outro conjunto Z de todos os estados que sao individualmente necessários e conjuntamente suficientes para que a crenya de que r tenha a sua verdade tomada provável, enUío Z é um membro de Y e, logo, um membro de X. E, se um dos estados que é membro de Z deriva seu status enguanto justificado de outro conjunto de estados ... O tipo de regresso suscitado por (Pi nao envolve necessariamente (como (FV) o faz) qualquer estado de nível diferente do primeiro nívcl. Portanto, nós podemos chamar essa fo1ma de (PRE) de a (FH) forma horizontal de (PRE): diferentemente do regresso gcrado por (FV), (FH) gera um regresso que pode resultar em um conjunto de justificadores form ado apenas por estadqs de primeiro nível. Assim que for mais bem detalhada, a proposta de identificayao de duas forn1as de (PRE) desde a constatayao do caráter equívoco do conceito de justificayao mostrará implicayocs semelhaotes a proposta de Audi: urna forma do problema dá cnfasc a capacidade/disposi9ao de um sujcito de argumentar em favor daquilo que ere, outra forma procura saber apenas se de.fato aquilo que baseia a crenya do sujeito é suficiente para fazer com que ele creía justificadamente. Entretanto, a identificayao dessas fOtmas de (PRE) sem que se fa9a referencia a for9a com que a pcrgunta "O que o justifica ao crer que p?" é feíta nao
282
Rodrigo Borges
é vulnerável as obje<;:oes levantadas contra essa última na seyao anterior.
Conclusao (PRE) é sem dúvida um dos tópicos mais importantes na discussao epistemológica contemporanea e, como todo bom problema filosófico, ele também nao pode receber um cor-reto tratamento sem que antes nós sejamos capazes de ofcrecem urna formulayao onde ele apare9a o mais clara e abrangentemente possível. Se justifica<;:ao é entendida como o produto de um processo inferencia! bcm sucedido, os parametros para que uma crenya possa ser descrita verazmente como "justificada" sao significativamente diferentes daqueles que consideram "justificayao" como urna propriedade que nao é determinada exclusivamente pela realiza9ao ou pela capacidade de se realizar um processo inferencia!.
Referencias bibliográficas Alston, W. 1976. "Two types offoundationalism" IN: Thejourna/ of philosophy 73 (7) 165-85. Reimpresso em Alston 1989: 19- 38. - . 1976a. "Has foundationalism been refuted?" Philosophical Studies 29 (5): 287- 305. Reimp~esso em Alston 1989: 39-56. - . 1983. "What's wrong with immediate knowledge?" Sythese 55: 73-95. Reimpresso em Alston 1989: 57-78. - . 1985. "Concepts of epistemic justification." The monist 68 (1). Reimpresso em Alston 1989: 8 1-114. - . 1988. "The dcontological conception of epistemic justification." In Tombcrlin, J. E. (org.), Philosophica/ Perspectives. n° 2. Reimpresso em Alston 1989: 115-52. - . 1989. Epistemic Justifica/ion. Ithaca: Cornell University Press.
O problema tlo regresso epislemicu reco11siderado
283
Arist贸teles. 1947. Anal铆ticos posteriores. In Obras completas de Arist贸teles, tomo IV. Buenos Aires: Ediciones Anaconda. AUDI, R. 1986. "Bclief, reason, and inference." Philosophicaltopics 15 (1). Reimpresso em Audi 1993a: 233-73. - . 1989. "Causalist internalism." American philosophical quarterly 26 (4). Reimpresso em Audi 1993a: 332- 52. - . 1991. "Structural justification." The jo urna/ ofphilosophical research 16. Reimpresso em Audi 1993a: 274-96. - . 1993. "The foundationalism-coherentism controversy: hardcned stereotypes and overlapping tbeorics." The structure ofJustification. Cambridge: Cambridge University Press: 117-64. - . 1993a. The structure ofJustifica/ion. Cambridge: Cambridge University Press. - . 2001. The architecture ofreason. Oxford: Oxford University press. - . 2003. Epistemology, a contempormy introduction to the theory of knowledge. Londres: Routledge. Bonjour, L. e Sosa, E. 2003. Epistemic Justifica/ion, Internalism vs. Externa/ism, Founclations vs. Virtues. Oxford: Blackwell. Bonjour, L. 1985. The structure ofEmp铆rica/ Know/edge. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. - . 1999. "The Dialcctic ofFoundationalism and Coherentism." In Greco, J. e Sosa, E. (orgs.), The Blackwell Guide to Epistemology. Oxford: Blackwell Pub1ishers: 128 - 142. Chisholm, R. 1966 .. The01y ofknowledge. Primeira ediyao. Nova Jersey: Prcntice-Hall. - . 1977. The01y ofknowledge. Segunda cdiyao. Nova Jersey: Prenticc-Hall. - . 1989. Theo1y ofknowledge. Terceira cdiyao. Nova Jersey: Prentice-Hall. Feldman, R. e Conce, E. 2004. Evidentialism: essays in epistemology. Oxford: Clarendon Press. Feldman, R. 1988. "Having evidence." In Austin, D. (org.), Philosophical Analysis . Reimprcsso em Fcldman e Conee 2004: 219-41.
284
Rodrigo Borges
- . 2000. ''The ethics ofbelief." Philosophy and phenomenolog ical research 60. Reimpresso cm Feldman e Conee 2004: 166-95. - . 2003. Epistemology. Nova Jersey: Prentice-Hall. Fumerton, R. 1995. Metaepistemology and Skepticism. Rowman and Littlefield Publishers. Goldman. A. J. 1979. " Wbat is justified be1ief?" In Pappas, G. (org.), Justijication and knowledge. Kluwer Academic publishers. Reimpresso em Goldman 1992: 105-26. - . 1986. Epistemology and cognition. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. - . 1992. Liaisons: philosophy meets the cognilive and social sciences. Cambridge, Mass.: The MlT Press. Harman, G. 1973. Thought. Princeton, N. J.: Princeton University Press. Kim, J. e Sosa, E. 2000. Epistemology: an anthology. Oxford: B1ackwc1l. Klein, P. 1981. Certainty: a refutation ofscepticism. Minneapolis: University ofMinnesota Press. - . 1999. "Human know1edge and tbe infinite regress of reasons." In Tomberlin, J. E. (org), Philosophical Perspectives. 13: 297-325. Korcz, K. 2000. "The causal-doxastic theory ofthe basing relation." Canadian Journal ofphilosophy 30 (4): 525-50. Lebrer, K. 2000. Theory ofknowledge. Segunda edi~iio. Westview. P1antinga, A. 1993. Warrant : the curren! debate. Oxford: Oxford Univers i~y press. - . 1993a. Warrant and properfunction. Oxford: Oxford University press. Pollock, J.e Cruz, J. 1999. Contempormy theories ofknowledge. Rowman and Litt1efield. Sellars, W. 1956. " Does empĂrica! knowledge havc a foundation?" In Feig1, H. e Scriven, M . (orgs.), Thefoundations ofscience and the concepts ofpsychology and psychoanalysis, Minneapolis : Univesity ofMinnesota prcss. Reimpresso em Kim e Sosa 2000: 120-24.
O problema do regresso episfl!mico reco11siderado
285
1975. "Epistemic principies." In Castañeda, H. (org.), Action, knowledge and rea/ity. Bobbs-Men·ill. Re impresso em Kim e Sosa 2000: 125-33 . Sosa, E. 1980. "The raft and the pyramid: coherence versus foundations in thc theory ofknowledge." Midwest studies in Philosophy 5: 3-25 . Rcimprcsso em Sosa 1991 , Knowledge in p erspective. Cambridge University Press: 165-91. Steup, M. 1996. An introduction to contemporcuy epistemology. Nova Jersey: Prentice-Hall. Swain, M. 1981. Reasons and knowledge. lthaca: Cornell University Press. Rodrigo Borges Mestrando do programa de Pós-graduayao em filosofia da PUCRS e bolsista Cnpq. epistemen@gmai l.com
Notas 1
Para a apresenta¡;ao de (PRE) por Aristóteles, ver seu 1947. Para a discussao contemporanea ver, entre outros, Chishohn 1966, 1977 e 1989, Audi 1993, 1993a e 2003, Klein 1999, Bonjour 1985, 1999 e Bonjour e Sosa 2003, Sosa 1980, Fumerto n 1995, Alston 1976, l976a e 1983 e Fogelin 1998. 2 Chisholm 1966, p. 1-2. 3 Alston 1976, p. 26. (A pagina~ao é da reimpressao em Alston 198~.) 4 Outras propriedades epistemicas que também sao atribuidas a estados doxásticos sao "x é racional," "x é certo" e "x é um ítem de conhecimento." Para urna distin¡;ao entre " racionalidade" e "justifica¡;ao" cf Audi 2001. Para um estudo sobre "certeza," cf Klein 1981. 5 Justifica¡;ao epistemica é uma qualidade e/ou quantidade que admite diferentes gradar;oes (e.g., um estado doxástico x é mais/menos justificado que o estado y para S em t). Para urna exposi¡;iio detalhada de diferentes grada¡;oes de justifica¡;ao epistemica, cf. C hisholm 1977 cap. 1 e Chisholm 1989 cap. 2. Para urna crítica e discussao detalhadas de algumas concep¡;oes de probabilidade, ver Pollock e Cruz 1999. Para urna história do conceito de justifica¡;ao epistemica na epistemología anglo-americana do sécul~ XX, cf. Plantinga
286
Rodrigo Borges
1993 ; para sua concep~,:ao daquilo que deve se somar a cren~a verdadeira para que se tenha conhecimento ("warrant"), cf Plantinga 1993 a. 6 Cf. Sosa 1980, p. 180 e Feldman 2003, p. 40-41. 7 Goldman 1979, p. 106. (as páginas sao da reimpressao em Goldman 1992.) 8 Mais sobre a "rela~,:ao de baseamento" adiante. 9 Cabe apontar o fato de que uma crenya pode ser justificada parte imediatamente e parte mediatamente. A cren~a de que p pode ser, ao mesmo tempo, justificada devido a suas rela~oes inferenciais com outros estados doxásticos do sujeito e devido a rela~,:oes nao-inferenciais com experiencias desse mesmo sujeito. Entretanto, essa possibilidade nao incide significativamente sobre a discussao que aquí se propoe e será ignorada no intuito de trabalharmos apenas comas variáveis teóricas estritamente necessárias ao entendimento da coloca9ao do problema do regresso e nao algum argumento que busca solucioná-lo. 1 Cf Sellars 1956 and 1975. Ambos reimpressos em Sosa e Kim 2000. 11 O uso de expressóes como "ele baseou sua crentya sobre a cren¡ya de que ... " nao deve ser entendido como indicativo da tese de que nós possuímos controle voluntário sobre nossas cren~as (expressoes como a citada sao apenas utilizadas devido ao fato de serem naturalmente usadas na descrit;ao de casos como o de Joao). Eu sou simpatizante da tese de que nós nao possuímos controle direto sobre nossos estados doxásticos. Para uma crítica ao voluntarismo doxástico em várias de suas formas, cf. AJston 1985 e 1988 ; Feldman 2000. Para a defesa de um tipo particular de voluntarismo doxástico, cf. Steup 1996. 12 Nada no presente artigo depende de uma defini9ao mais precisa do que significa "posse cognitiva," mas a no~,:ao intuitivamente correta incluí estados conscientes e nao-conscientes do sujeito (como a memória). Para uma discussao da not;iio de posse cognitiva de razoes, ver Feldman 1988 e Audi 1986 e 1991. . 13 A literatura sobre a relat;iío de baseamento é vasta e o tópico me parece merecer muito mais atent,:ao pois ele é evidentemente central para a not,:iío de justifica~ao epistemica. U rna exposit,:ao muito boa de diferentes noyóes de rclat,:ao de baseamento é feíta em Korcz 2000. Para urna defesa da cláusula causal na relat,:ao de baseamento, cf Harman 1973, Swain 198 1 e Audi 1986, 1989 e 199 1. Para a nega~,:ao de que o conceito de rela9ao de baseamento de ve incluir uma cláusula causal, cf Lehrer 2000, p. 195-197. 14 Ver nota 9. 15 Audi 1993, p. 120. 16 Audi 1993 , p. 117.
°
O problema do rcgresso epistémico reco11sidcrado
17
287
Audi 1993, p. 118. Audi mesmo cita essa mesma passagem de Chisholm e a considera um caso de (PRE) na sua forma (DF). De qualquer forma, nós podemos aprender mais sobre as intenc;oes de Audi ao explicitannos por que ele assume que Chisholm apresenta (PRE) na sua forma dialética. Cf Audi 1993, p. 119. 19 Audi 1993, p. 120-22. 20 Deixa-se a prova dessa alegac;ao para uma outra oportunidade. 21 Talvez Audi estivesse ciente de objec;oes como as que foram apresentadas aqui pois ele retirou de textos que tratam de (PRE), e que sao posteriores ao se u 1993, qualquer menc;iio a (FD) e (FE). Cf Audi 2001 e Audi 2003. 22 Alston 1976a, p. 43, nota 6 (enfase adicionada). 18
1
Descoberta e justifica~ao
1
Samuel Simon 2 Unil·ersidade de Brasilia
l.
Introdu~ao
Embora Reichenbach (1938) tenha sido o primeiro a utilizar as expressoes "contexto de justificac;:ao" e "contexto de descobe11a," o problema da descoberta científica e as tentativas para a sua fundamentac;:ao tem sido objeto da Filosofia há muito tempo. Como bem observa Laudan (1980) em um artigo em que aponta um certo abandono desse problema, os racionalistas - além de Bacon - , em grande medida, procuravam expl icitar uma estrutura que garantisse a descoberta nas ciencias. Laudan tem razao. Uma filosofia como a cartesiana - ou mesmo um realismo como o de Ga lileu - defende que a descoberta nao somente é possível, como está baseada em pressupostos estritamentc racionais ou numa metafísica da natureza. Anteriormente a Reichenbach, em meados do século XIX, J. Herschel e W. Whewell. já haviam estabelecido a difercnc;:a entre os dois contextos e apresentaram padrees para a descoberta científica enfatizando o papel da induc;:ao e da deduc;:ao. Dessa maneira, a inovac;:ao de Reichenbach foi considerar que o "contexto de descoberta" pertence ao dominio da psicología e da cria<¡:ao humana, e nao da lógica (Reichenbach, 1958). No entanto, apesar dessas dificuldades, autores com N. R. Hanson ( 1958, 1967) e H. Simon ( 1973) buscara m um padrao para a descoberta científica, inclusive no que concemc a uma possível lógica que lhc seria inerente. O trabalho de Laudan, posterior aos escritos de Hanson e Simon, concluí nao somcnte pela impossibilidade de uma lógica da descoberta Dutra. L. H. de A. e Mortari. C. A. (orgs.). 2005. l:.'pislemologw : A11ais do IV Simpósiu 111/emaduual. f'riucip ia - Parle l . Florianópolis: NE LIU FSC. pp. 289- 303.
290
Samuel Simon
como nao vé por que se retomar o problema da descoberta em Filosofía. As razoes sao basicamente as mesmas de Reicbenbacb - o que importa a filosofía é o contexto de justificayao - mas acrescenta um pressuposto que nos parece estranho as concepyoes contemporaneas das teorías científicas. Segundo Laudan, como as teorías científicas sao "artefatos," nao há sentido em se falar de uma filosofía de artefatos, pois a descobe1ta está, evidentemente, em estreita conexao com novas teorias.3 O objetivo do presente trabalho é mostrar que nao somente a descoberta ainda é um problema filosófico relevante, mas, sobretudo, apresentar a possibilidade de uma fundamentayao lógica. Como bem observa Backwell (1969, p. 6), quando se fala em lógica da descoberta, nao se trata de apontar urna mecánica de descoberta, mas indicar que a descoberta decorre de urna atitude racional. Se essa fundamentayao for possível, há entao urna estreita rela¡yao entre o "contexto de descoberta" e o "contexto de justificayao."
2. Descoberta e mudan-;a científica
O termo "descoberta" científica é utilizado, basicamente, em dois sentidos. Num primeiro sentido, refere-se as descobertas experimentais: o encontro de um novo fóssil nao conhecido, novos pássaros nao classificados, os pergaminhos do Mar Morto, materiais radioativos, etc. Num segundo sentido, ~ngloba descobertas como a do Planeta Netuno, os huracos negros e a contrayao espacial e a dilatayao temporal. Todos esses tipos de descoberta sao explicados segundo teorías vigentes ou entao segundo novas teorías e, muitas vezes, conduzem a mudanyaS teóricas: seja aperfeiyoando teorías, seja contestando-as. Díez & Moulines (1997, 439-62) classi:ficam a mudanya em dois níveis: intrateórico ou interteórico. No primeiro caso- intrateórico -, as teorías vigentes sao reafirmadas. Os trabalhos de Euler, Lagrange, entre outros, constituem exemplos das mudan9as intrateóricas, pois nao negam os axiomas newtonianos, mas os aperfeiyoam. No caso da mu-
'·
Descober/a e justijicar;cio
291
danc¡:a intertcórica, as tcorias sao contestadas, total ou parcialmente. A Teoría da Relatividade é um caso importante ele mudanr;:a teórica, uma vez que certos resultados da física clássica sao refutados, em um certo contexto de validade. Sao, sobretudo, as mudanr;:as interteóricas que mais intercssam aos filósofos da ciencia; mas, cm todos os casos de descobcrta, é possível afirmar, segundo S. Schaffer ( 1986, p. 397) que a descoberta fixa conceitos: seja reafirmando-os, seja refutando-os e apontando para novas concepr;:oes científicas. O tenno "descoberta científica" esconde uma opc¡:ao realista e, de urna maneira geral, alguma concepr;:ao metafisica: descobre-sc o que está cncoberto, oculto. Ou ainda, a descoberta evidencia uma relar;:ao harmónica entre a mente e o mundo - cssa é conccpc¡:ao de Backwcll ( 1969, p. 120ss). Es ses aspectos nao serao examinados no presente trabalho, mesmo que eles sejam tao relevantes como a forrnular;:ao de uma lógica da descoberta. Urna outra observar;:ao é que as nossas considerar;:oes diferem dos anteriormente citados num aspecto particular. Embora alguns filósofos da ciencia - como Hanson e Simon - busquem uma lógica da descoberta, as tentativas parecem situar-se num nivel de intenciooalidade; a dcscoberta pode ser urna resposta para a quesHio: qua! é a motivar;:ao da descoberta? Essa abordagem reconduz ao " contexto de descoberta" e as dificuldades nao sao pequenas. Urna possível alternativa para escapar a crítica de Rcichenbach é analisar a relac¡:ao entre mudanr;:a íntertcórica e descoberta. É o que será feíto neste trabalho examinando-se a Teoría da Relatividade Restrita. Muitos au~ores prefcrem chamar a descoberta que se situa no plano intcrteórico de "invenr;:ao" (c.f Paty 1996), mas preferimos mantcr "descoberta interteórica," mantendo a exigencia de posterior adequa¡¡:ao empírica e, principalmente, a constatar;:ao de fatos novos, ou scja, que baja pré-designar;:ao. Parece ser possível faJar cm invenr;:ao e cm descoberta como aspectos distintos da mudanr;:a inteitcórica, pois o termo "descoberta" parece mais adequado quaodo ccrtas premissas deconem de outra: a "invenr;:ao." As equar;:oes de Maxwcll podem ser consideradas " invenr;:ao" e as ondas eletromagnéticas "descoberta." O mesmo oconc com a teoría da Relatividade Rcstrita, como será visto a
292
Samuel Simon
seguir: o valor constante da velocidade da luz independentemente do movimcnto dos re ferencias pode ser considerado " inven¡;;iio" e as transformadas de Lorentz, daí oriundas, "descoberta." Tendo cm vista 4 essas observa¡;;oes, " retifica9iio teórica" também nos parece adequado quando nos referimos a inven¡;;ao e descoberta. Como essa retifica¡;;ao acorre no plano da mudan<;:a interteórica, torna-se importante examiná-la, ainda que rapidarnente. Os dois grandes representantes5 das correntes que discutiram a relevancia da mudan<;:a científica no século XX, Popper e Kuhn, instituíram um rico debate cujas repercussoes se fazem sentir até hoje. Apesar de os dois autores abordarem o problema da descoberta, os enfoques sao bastante diferentes entre si. Como observa Herbert Simon, referindo-se a Popper, é curioso que um livro contenha em seu título algo que será completamente desconsiderado. 6 De fato, logo nas primeiras páginas de The Logic of Scientific Discove1y, Popper nega que possa existir alguma lógica da descoberta. A razao é bem conhecida: o importante ern um enunciado que se refira a urna descoberta científica é que e le apresentc urna estrutura lógica tal que possa ser falseado. Esse é o ponto relevante. Para Popper, as conjecturas que levam a deseoberta nao seriam objeto da filosofia e admitem origens tao diversas 7 quanto sao as atividades humanas • Quanto a estrutura lógica de um enunciado de descoberta - refute ou nao premissas anteriores -, deverá estar sempre sob o "alvo" do modus tol/ens. Para Kuhn, a descoberta é relevante, mas estritamente vinculada as an~rnalias e aos novas paradigmas. A ciencia normal, escreve .Kuhn, " nao se propoe a descobrir navidades no terreno dos fatos ou da teoría" (Kuhn 1978, p. 77). Embora reconhe<;:a um entrela¡;;amento entre fato e teoría, Kuhn, na maioria das vezes, usa o termo "descoberta" para se referir a fatos anómalos: a descobetia come<;:a com a consciencia da anomalía. Com as dificuldades crescentes do paradigma, a anomalía levará a fo1mula<;:ao de novos paradigmas e a inven<;:ao - as navidades concernentes a teoría - finalmente se impoe. Rigorosamente, somente depois da a1iicula<;:ao entre experiencia e teoría experimental, " pode surgir a descoberta" e a teoría se converte em paradig-
Descoberta e j ustijica{'tio
293
ma (Kuhn, 1978, p. 88). Nao parece ser possível, portanto, falar em lógica da descoberta em Kuhn, mas, numa hipótese bastante favorável, apenas em "lógica" dos paradigmas. Como assinalado acima, Hanson e Simon sao os primeiros a retomarero o problema da descoberta após as críticas de Reichenbach. Outros autores, como S. Schaffer ( 1986), M. Paty ( 1990), K. F. Schaffner ( 1993), mostraram de mancira bastante original o quanto a separa9ao proposta por Reichenbach parece ser drástica. Seguindo Peirce, Hanson ( 1958, 1967) vincula a descoberta a um padrao de retrodur;iío. No entanto, este autor limita-se a apontar exemplos históricos onde teriam acorrido retrodu9oes, sem propor urna formaliza9ao, e ressalta o papel das analogías nesse processo. Simon (1973) procura suprir essa !acuna e propoe urna formaliza9ao a partir da no9ao de "goal" (G), "conjunto de processos" (p E P) e "conjunto de condi9oes" (e E C). Como as condi96es sao atribuidas a os processos, c(p) será urna fun9ao de C e P para os valores-dcvcrdade Te F . Assim, para se atingir o objetivo G, as condi9oes C devem ser satisfeitas, podendo-se enUio empregar o processo p que satisfaz C. Formalmente, tem-sc 'v'c(c(p) = T). Se o objetivo (G) é descobrir leis científicas válidas, e P é a classe de processos de teste, entao C fomece urna teoría normativa da descoberta científica. Para se alcanyar o objetivo - isto é, a descoberta de 1eis científicas- é recomendado que se use um processo que satisfa9a a condi9ao e, ou seja, sendo G' urna fra se que exprime G e e' urna frase que exprime e, tem-se G' ::>e' e nao e'::> G'. Com essa formaliza9ao inicial, Simon concluí que a teoría normativa do processo de descoberta é considerado como um ramo da teoría computacional complexa. De fato, Simon e outros autores desenvo1veram a lguns trabalhos posteriores nessc sentido (Thagard, 1986; Kulkami e Simon, 1988) com relativo sucesso, embora a1gumas críticas tenharn sido feítas por autores corno Downcs (1990). Downes faz basicamente duas críticas as tentativas de Sirnon: a primeira, é que Simon nao fomece evidencias suficientes para a existencia de processos psicológicos distintos que justifiquem os raciocinios pertinentes ao proccsso de descoberta científica; a segunda, é que o proccsso de descobetta científica teria uma
294
Samuel Simo11
que o processo de descoberta científica teria uma importante componente social. Se a primeira crítica é pertinente, o mesmo nao parece oconcr com a segunda, poi s Simon pretende desenvolver um proccd imento algorítmico para a descobcrta buscando cxatamente eliminar [atores nao lógicos, isto é, os fatores sociais; estes nao seriam importantes e uma lógica da dcscoberta evidenc iaría a nao adoryao de tais fa tores . A opryao por encontrar proccssos computacionais para explicar a dcscoberta científica tem se mostrado promissora e nosso trabalho, em ccrto sentido, inspirou-se n esses procedimentos. Ainda que nao trate explícitamente do problema da dcscoberta, o recente trabalho de Osvaldo Pessoa (2004) propondo uma base computacional para a mudanrya científica inserc-se rrosse contexto e apresenta contribuiryoes valiosas, utilizando o conceito de avanryo científico e sugcrindo, inclusive, Classes de Tipos de Avant;os. Parece-nos, no entanto, que essas duas tentativas nao resolvem o problema estrito da descoberta oriunda de novas teorías científicas. N esse sentido, o estudo dos resultados advindos da Teoría da Relatividade Restrita será útil para o nosso propósito.
3. Física newtoniana e teoría da rclatividade A Teoría da Relatividade origina-se com os dais principios básicos propostos por Albert E instein, ao lado de uma definit;iio de intervalo de tempo. O primeiro principio afi1ma que as leis da natureza sao as mesmas para observadores que se deslocam em movimento retilíneo unifonnc. Em termos mais técnicos: todos os sistemas de inércia sao equivalentes para exprimir os fenómenos da natureza, ou ainda, a forma das leis fisicas é invariante para refcrenciais inereiais. Rigorosamente, o enunciado de Einstein em seu artigo de 1905 (Einstein 200 1, p. 148) é o seguintc: "as le is que descrevem a mudan<;a dos estados dos sistemas físicos sao independentes de qualquer um dos dais sistemas de coordenadas que estao em movimento de translaryao uniforme,
Descoberta ejustijica(:oo
295
um em relavao ao outro, e que sao utilizados para descrever essas mudanvas." O segundo pressuposto é que a velocidade da luz no vácuo é constante, independentemente do movimento relativo dos r~ferenciais de onde foi emitido o raio de luz. Para esse princípio, segundo Einstein: "Todo raio de luz move-se no sistema de coordenadas de 'repouso' com urna velocidade fixa V, independentemente do fato de este raio de luz ter sido emitido por um corpo em repouso ou movimento." (Id., ibid.). A velocidade da luz é o valor máximo de velocidade associado a fenómenos que possuem algum tipo de energía presente. No que se refere ao intervalo de tempo - dados dois relógios, um localizado num ponto A e outro em um ponto B - , a definivao é a seguinte: "o 'tempo' necessário para a luz ir de A até B é igual ao 'tempo' necessário para ir de B até A." Dessa mane ira, tem-se urna definivao de simultaneidade, pois se o raio de luz que parte de A para B, no instante de tempo A de tA, é refletido de B para A, no instante de tempo B de ts e chega de volta a A, no instante de tempo A de tA, os dois relógios estao sincronizados, por definivao, se tn - tA = t' A - tn. Para essa definivao, utilizam-se relógios identicos no sistema de repouso. Dessa maneira, sobretudo no que se refere ao segundo princípio e a definiyao de simultaneidade, a Teoría da Relatividade modifica certos postulados da Física Newtoniana. Novas rela¡yoes espayo-temporais decorrem da aplicayao do primeiro principio, tendo em vista o princípio seguinte e a nova definic;:ao de simultaneidade. Ou seja, a constancia da velocidade da luz e as novas rela96es espayo-temporais, correspondero ao que concebemos como "retifica¡yao teórica." O que ternos chamado de retifica¡yao de certos conceitos - retificayao que explicita a descoberta de novos conceitos e teorías - é um movimento presente desde -o advento da Física Moderna. René Descartes propoe como conceitos definidores do comportamento dos corpos, a extensao e o movimento. A quantidade de movimento, por exemplo, segundo Descmies, seria o produto do volume de um corpo por sua velocidade; Newton substituirá o conceito de extensao pelo de massa, estando este ausente na fisica cartesiana. O conceito de massa, associado aos de velocidade instantanea e tempo e espayo absolutos
296
Samue! Simon
constituidio, ao lado da teoría da gravitac;:ao, os pilares da física newtoniana. O mesmo ocone em relac;:ao a Teoría da Relatividade Restrita. O princípio da constancia da velocidade da luz e a definic;:ao de intervalo de tempo, ou simultaneidade, levm·ao ao nascimento da física relativista. A descoberta aponta para certas inconsistencias que existem entre os enunciados científicos, embora cada conjunto de proposic;:oes que define um domínio do conhecimento científico seja, na maioria das vezes, consistente, quando nao se incluí o enunciado que se refere a descoberta. No entanto, se admitimos o conjunto de explicas:oes para amplas classes de fenómenos, como, por exemplo, a mecanica quantica e a física relativística, urna lógica multidedutiva faz-se necessária, como observa Da Costa (1999, p. 114). No entanto, para o contexto de descoberta interteorica, parece que a lógica nao-monotónica é o padriio mais adequado para explicar os fundamentos desse processo.
4. Nao-monotocidade e descoberta As lógicas nao-monotónicas, empregadas, sobretudo, em processos computacionais da Inteligencia A1iificial, vem em auxílio dos sistemas em que aparece mudanc;:a nas conclusoes, quando novas premissas sao introduzidas. A lógica clássica é monotónica. Sendo a uma fórmula ere D. conjuntos de fórmulas, isso significa que:
Ou seja, premissas adicionais - ou informas:ao adicional - nao alteram a validade de uma deduc;:iio. Quando um padrao de raciocínio nao-monotónico é presente, tem-se:
Descoberta e justijica("tio
297
É o que parece ocotTer na passagem da Física Newtoniana para a Física Relativística. Vejamos como isso pode ser representado, sem se configurar ainda como urna fonnalizarrao. O princípio geral para as leis da mecanica, admitido até o inicio do século XX, pode ser enunciado da seguinte maneira: Al
1- As leis da mecanica sao independentes dos movimentos dos referenciais que se cncontram em movimento de transla¡¡:ao uniforme, um em relayao ao outro. Logo,
2- As coordenadas que mantem invariantes as cquayoes que definem essas leis obedecem as seguintes transfotmadas - as transformadas de Galileu- na passagem de um referencial a outro em movimcnto de h·anslayao unifonne:
x'=x-vt, y'=y, z'=z, ( = / Para a Teoría da Relatividade, adotando os enunciados acima, tem-se: A2
1 - As leis da mecanica sao independentes dos movimentos dos referenciais que se encontram em movimento de transla¡¡:ao uniforme, um em relayao ao outro.
1' - As lcis que descrevem a mudan¡¡:a dos estados dos sistemas físicos sao independentes de qualquer um dos dois sistemas de coordenadas que estao cm movimento de transla¡¡:ao uniforme, um em relayao ao outro, e que sao utilizados para descrever essas mudanyas. 2 ' - Todo raio de luz move-se no sistema de coordenadas de " rcpouso" com uma velocidade fixa e, independcntemente do fato de
298
Samue/ Simon
este raio de luz ter sido emitido por um corpo cm repouso ou movimento. 3' - Dois relógios u m localizado num ponto A e outro em um ponto B, o "tempo" necessário para a luz ir de A até B é igual ao "tempo" necessário para ir de B até A. Se o raio de luz que parte de A para B, no instante de tempo A de tA, é refletido de B para A, no instante de tempo B de t 6 e chega de volta a A, no instante de tempo A de tA. os dois relógios estao sincronizados, por definir;:ao, se t 8 - tA= t 'A- ta. Logo, 4' - As transformar;:oes que deixam invariantes as equar;:oes que definem a leis físicas para referenciais em movimento inercial, sao dadas por:
X
,= r ( X- vt ) , y ,= y , Z ,= Z (Onde y=
~g2
,
t ,= 'Y(1 -vx) e2
)
1-- ,
e-
O paddio de raciocínio envolvido em (Al) e (A2) é naomonotónico. Visando a uma formalizayao, a sentenr;:a 1 será identificada por í e a sentenr;:a 2 por a. Dessa maneira, tem-se para Al a seguinte representar;:ao: {<1> 1}
=
ít- a
299
Descobel'la ejusfijicll(;iio
Para a teoría da Relatividade (A2), a sentenya 1' será identificada a~' 2' a 't, 3' a 1.1e 4' a ro. Tcm-se enüio um novo conjunto ~ = {~, 't, 11}. Ncsse caso:
ru
~ Jl-
a, pois r
u~ 1- (l)
Ou seja, a nao-monotocidade pode fundamentar a descoberta no contexto da mudanya intcrteórica; no caso da Teoría da Relatividade, a contrayao espacial e a dilatayao temporal. A constancia da vclocidade da luz e a definiyao de simultancidade impoem o paddio naomonotónico. Parece ser possível concluir entao que o padrao de raciocínio nao-monotónico, passíve l de uma fonnalizayao, evidencia urna base racional para a descoberta. Nao é neccssário, p011anto, adotando uma lógica nao-monotónica , referir-se as intenyoes dos cientistas, nem mesmo de seus objetivos, nos tcnnos de H. Simon, embora estes possam ser importantes, bem como o uso de analogías - como defende Hanson. A Teoría da Relatividadc impoe a retificayao das transformadas de Galileu, mas para certos valores de velocidades re lativas, ou seja, para valores de velocidades (v) próximas a da luz (e); para v << e, ainda se utiliza aquetas transformadas. Trata-se aqui do problema da incorporayao teórica, conforme apresentado por Díez & Moulines (1997, p. 452). Uma última conclusao, a ser desenvolvida, é que, talvez, o conceito de descoberta possa ser tomado como um critério forte para demarcar domínios científicos, pois seja no contexto de mudanya íntrateóríca, scja no contexto de mudan9a interteóríca, a descoberta afinn a wna teoría: scja uma teoría em vigor, seja uma nova teoría.
Referencias bibliográficas Bachelard, G. 1975. La philosophie du non: essai d'une philosophie du nouve! esprit scientiflque. París: PUF.
300
Samuel Simon
Blackwell, R. 1969. Discove1y in the Physical Sciences. London: University ofNotre Dame Press. Da Costa, N. C. A. 1999. O Conhecimento Científico. Sao Paulo: D iscurso Editorial. Díez, J. A. e Moulines, C. U. 1997. Fundamentos de Filosofia de la Ciencia. Barcelona: Ariel Filosofi a. Downes, S. 1990. " Herbert Simon 's Computacional Models of Scientific Discove•y." Proceedings ofthe Bienal Meeting ofthe Philosophy ofScience Association 1:97- 108. Duhem, P. 1981 [ 1914). La théorie physique, son objet, sa structure, 2e éd. revue et augm. París: J. V rin. Einstein, A. 1905." Elektrodynamik bewegter Korper" Annalen der Physik XVII: 891 - 21. "Sobre a Eletrodinamica dos Corpos em Movimento," tradu¡yao de A. C. Toti, in Stachel 2001: 143- 80. Hanson, N. R. 1958. Patterns of Discovery. Cambridge: Cambridge University Press. - . 1967. "An Anatomy of Discove ry." The Journal ofPhilosophy 64 : 321-352. Kuhn, T. 1970. The Structure ofScientific Revo/ution. Chicago: University of Chicago Press; trad. bras.: A Estrutura das Revolw;oes Científicas. Sao Paulo: Perspectiva, 1978. Kulkami, D. and Simon, H. 1988. " The Process of Scicntific D iscovery: The Strategy of Experimentation." Cognitive Science 12: 139-76. Laudan, L. 1980. " W hy Was the Logic of Discovery Abandoned. " In Nickles, T. (ed.), p. 173- 83. Laudan, L., et al. 1986. " Mudan¡ya Científica: Modelos Filosóficos e Pesquisa Histórica." Estudos Avam;ados 19 (1993): 7-90. Original em ingles publicado em Synthese 69 : 141-223. Mach, E. 1904. Die Mechanik in ihrer Entwicklung hislorisch-kritisch dargestellt, Leipzig, Trad. fr. par E. Picard, La mécanique. Exposé historique et critique de son développement, Paris: Hennann; réed. J. Gabay, 1987.
Descobertne justificar;clo
301
Nicklcs, T., org. 1980. Scientific Discove1 y , Logic and Racionality. Dordrecht: Reide l. Paty, M. 1990. "Sur l'histoirc et la philosophie de la découvcrte scientifique: champs de racionalité, styles scientifiques, traditions et influences." In L 'analyse critique des sciences. Le tétraedre epistémologique. París: L'Hannattan. - . 1996. "Le sty1e d 'Einstein, la nature d u travail scientifique ct le probleme de la découverte." Revue Philosophique de Louvain 94: 447-70. Pessoa, O. 2004. "Unidades de Conhecímento na Teoría da Ciencia." Philósophos 9: 207-24. Popper, K. 1966. The Logic ofScientific Discovery. London: Hutchinson & Co. - . 1972. Objective Knowledge. Oxford: Clarendon Prcss. Rcichenbach, H. 1938. Experience and Prediction. An Analysis ofthe Foundations and !he Structure ofKnowledge. Chicago: The University of Chicago Press. - . 1958. The Rise ofScientific Philosophy. Berkeley: University of California Press. Schaffer, S. 1986. "Scientific Discovcry and the End of Natural Phi1osophy." Social Studies ofScience 16: 387-420. Schaffner, K. F. 1993. Discove1y and Explanation in Biology and Medicine. Chicago: The University of Chicago Press. Simon, H. 1973. " Does Scientific Discovery Have a Logic." Philosophy ofScience 40:471-80. Stachel, J. 1998. Einstein 's miraculous year: five papers that changed theface ofphysics. Prin ceton: Princeton University Press. O Ano Miraculoso de Einstein. Traduyao de A. C. Tort, Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2001. Thagard, P. 1986. "Computational Models in thc Philosophy of Science." Proceedings ofthe Bienal Meeting ofthe Philosophy of Science Association 2: 329-35.
302
Snmuel Simon
Samuel Simon Departamento de Filosofia Universidade de Brasilia e-mail: samuell@ unb.br
Notas 1
Trabalho desenvolvido com o apoio financeiro da Fundayao de Empreend imentos Científicos e Tecnológicos- FINATEC. 2 Agrade90 aos meus colegas Nelson Gomes e Almir Serra, do Grupo de Lógica e Filosotia da Cienc ia do CNPq, pelas observa9oes e sugestoes a csse trabalho, particularmente no que se refere as tentativas de formalizayiíO do meu argumento. 3 Essa concepyiío de Laudan parece-nos estranha, pois nao se coaduna com as atuais concep9oes sobre teorias científicas: seja a concepyao sintática, seja a concepyiio semantica das teorias científicas. 4 Prefiro "retificayiio" a "negayiio," termo utilizado, por Bachelard em sua Filosojia do Niio. Meu colega Pauto Abrantes apontou essa semelhanya com a epistemologia de Bachelard. Bachelard parece ser um dos primeiros a falar da nega9ii0 de conceitos com a incorporayao progressiva de teorias científicas. Vale notar, no entanto, que: 1- a nega9iio para Bachelard ocotTe no que ele chama movimento dialético. Embora haja uma clara influencia hegeliana nesse caso, o termo dio/ética em Bachelard tem um sentido de dinomica; 2em certa medida, Mach havia apresentado, alguns anos antes de Popper, a refutayiio de conceitos e teorias como um critério de cientificidade e Duhem o caráter hipotético de ambos - conceitos e teorias; 3- fina lmente, mesmo que nao trate explicitamente do problema de incorporayiiO de teorias, Popper já havia apresentado em sua Lógica o falseamento parcial - urna teoria pode, portanto, ser falseada apenas em parte - como um aspecto importante do progresso científico. Cf. Bachelard (1975); Mach (1987), Duhem (1981), Popper (1966). 5 Mais recentemente, autores como Touhnin, Laudan, Lakatos, Hesse, McMullin, Shapare, também apresentam importantes estudos sobre a mudanya teórica. Para um estudo bastante abrangente sobre esses autores, ver Laudan etal. (1993). 6 Simon refere-se a tradu9iio inglesa de Logik der Forschung; rigorosamente, o tenno "pesquisa" é uma traduyao mais adequada, como ocorre em portugues.
Descoberta ejustijicarcio
303
7
A proposta de "mundo 3" de Popper autoriza a descoberta como algo objetivo, produzido a partir de teorias já existentes. Curiosamente, o exemplo de
Popper refere-se
a Matemática -
e nao
a ciencia empírica -
aos números primos. Cf. Popper, 1972, p. l 08.
particularmente